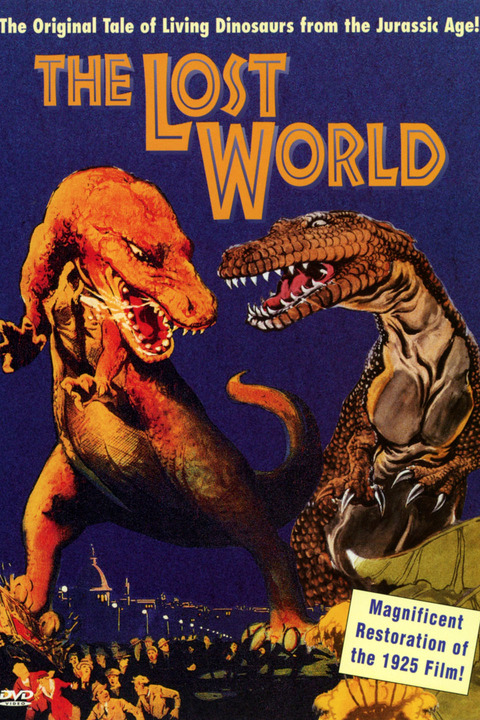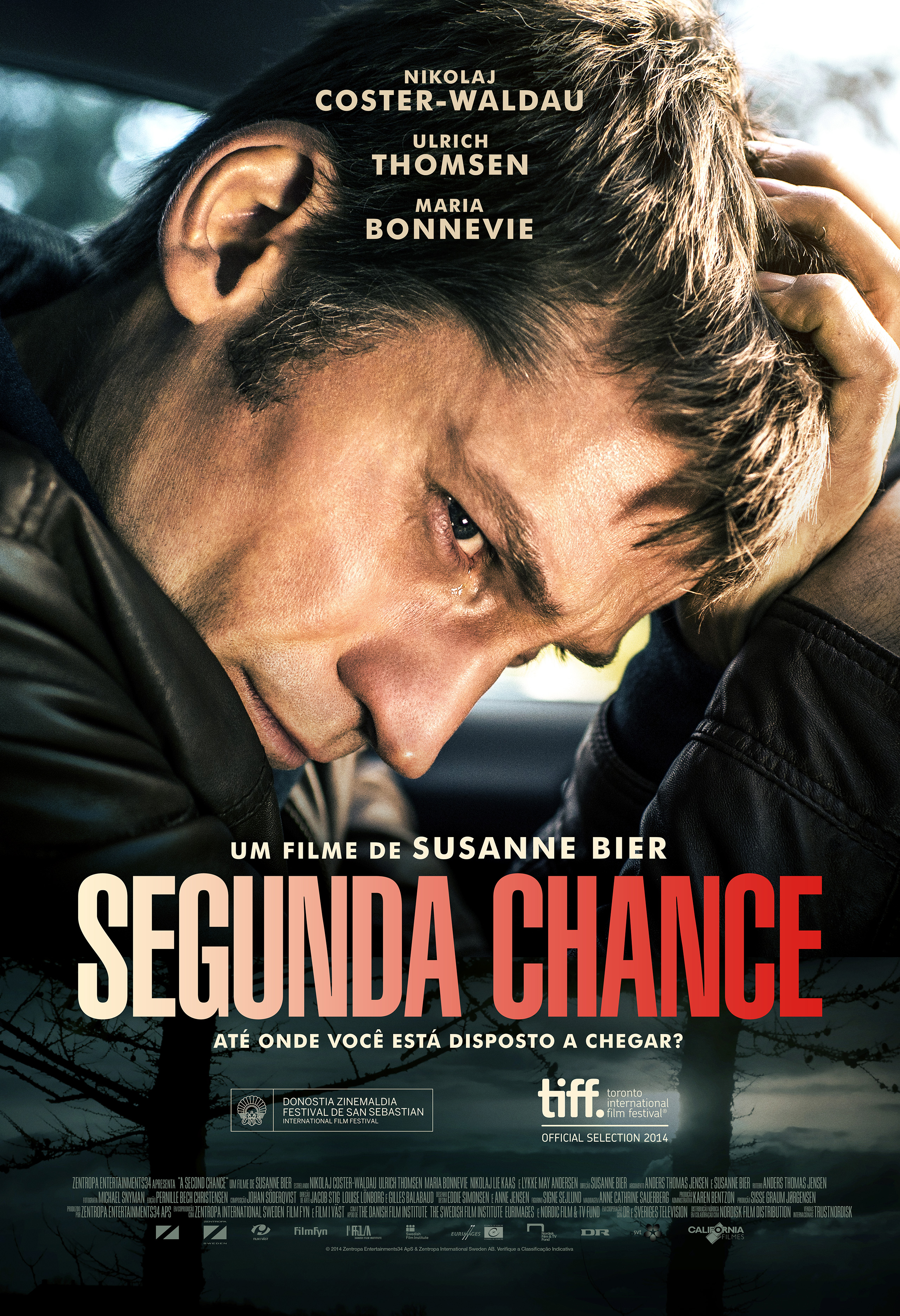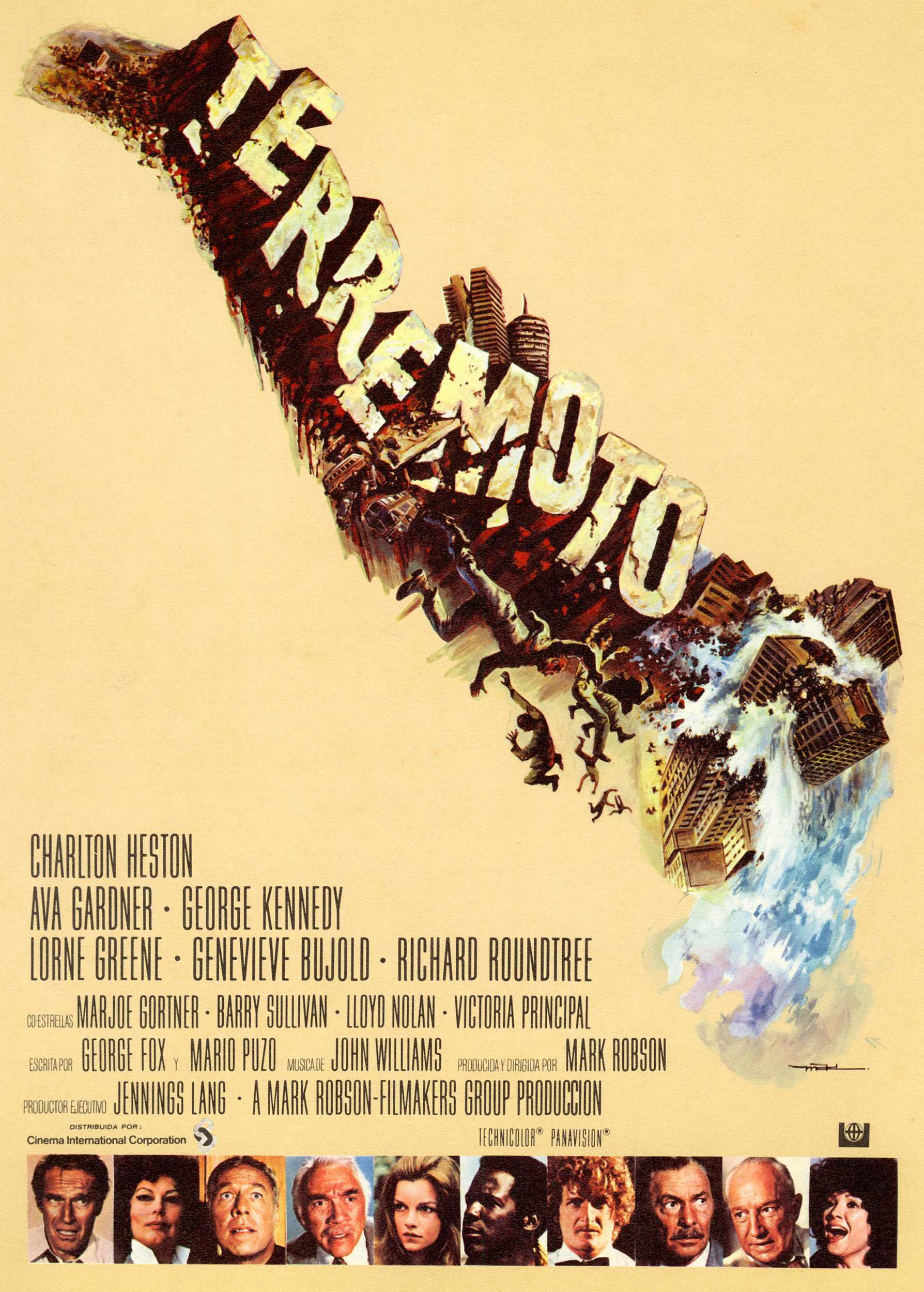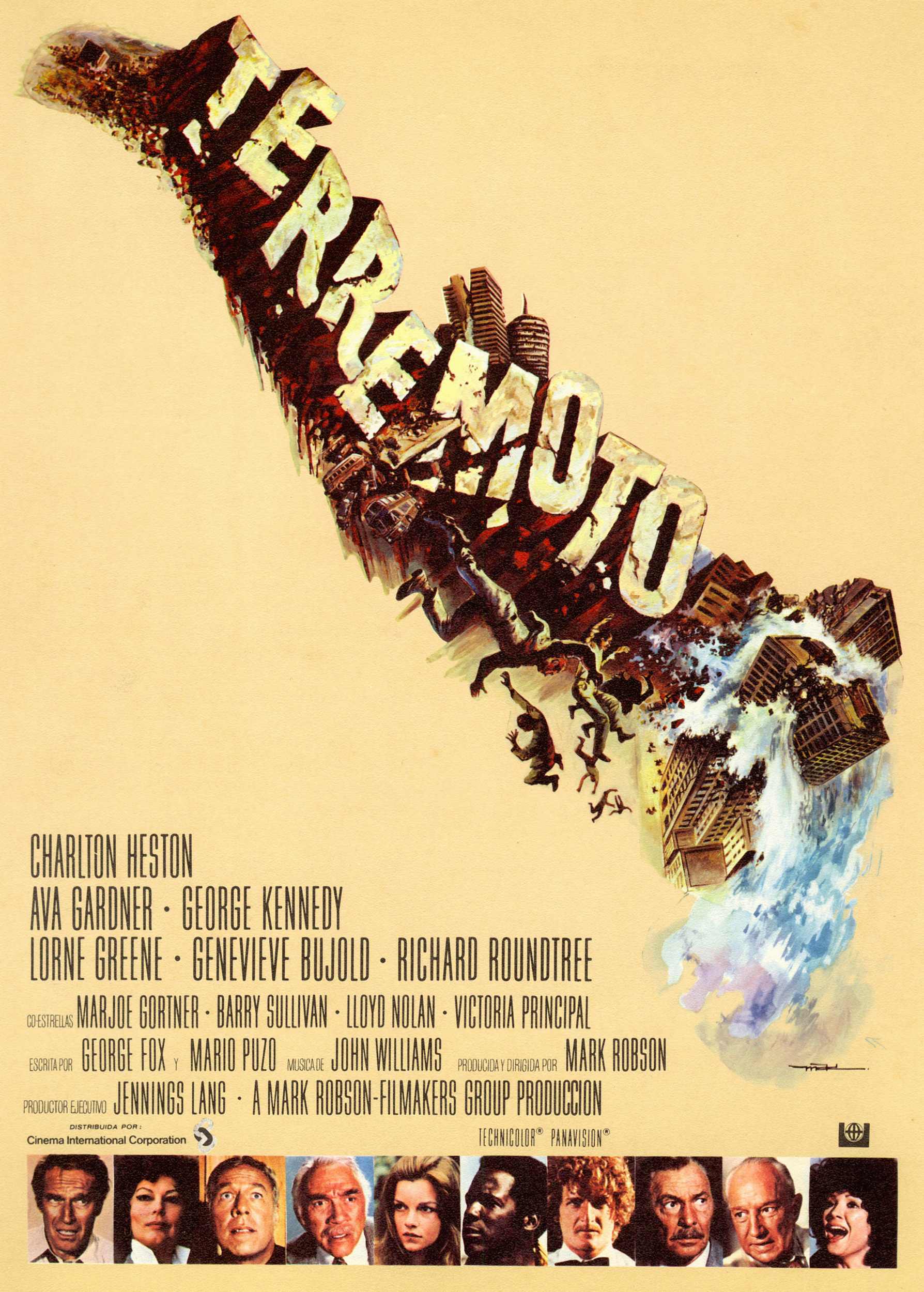Adeline (Blake Lively) é um fenômeno inexorável de origem puramente estatística, bem como todos o habitantes deste planeta. Cada nascimento específico tem uma probabilidade de cerca de 1 em 300 milhões, ou 0,0000003% de ocorrer, traduzindo-se em um fenômeno extremamente raro, e que a despeito desta raridade ocorre todos os dias. Adeline, uma mulher independente nascida no século XIX vive hoje como fruto de um fenômeno fabular apresentado pelo narrador que foi capaz de tornar cada uma de suas células indiferente à passagem do tempo. E assim, sem envelhecer, vê o tempo passar e destruir seus sonhos, mantendo existência, fazendo-a se reinventar a cada ponto de cisão de sua vida ou sempre que alguém percebe sua condição especial.
O tempo físico se constitui de uma variável com sentido bem definido, representado no conceito de Seta do Tempo que diz que processos físicos seguem um sentido prioritário, não havendo a reversibilidade destes mesmos processos. Era, anteriormente à Teoria da Relatividade, um conceito absoluto. Hoje se sabe que é relativo, bem como o espaço trazendo consigo a ideia de que é de alguma forma possível agir sobre o tempo, lhe dando o status de fenômeno físico.
Os ecos filosóficos de tais elaborações alcançam o imaginário popular, e este objeto de fascínio humano desde sempre vai se transformando como uma forma de protesto ao poderoso efeito do passar dos anos. Nietzsche com sua concepção do “Eterno Retorno” indica que estaríamos presos à uma série sucessiva de eventos fadados à repetição, que se repetiram no passado, ocorrem no presente e se repetem no futuro, tal como guerras ou acontecimentos históricos. Assim é A Incrível História de Adeline, uma repetição de muito do que se viu ou sabe-se sobre fábulas ou romances no cinema.
Na era da ciência, o ser humano se tornou aquele que seria tratado como demônio, como anunciado por Nietzsche, que surgiria como portador da verdade sobre o tempo, ou que seria tratado como ser dividido caso esta verdade lhe tocasse. Não a toa a fábula de Adeline tem todo um verniz científico, atribuindo dados estatísticos, um contexto histórico tratado como fenômeno determinístico, e uns pequenos falsos fatos para a verossimilhança da trama. Não a toa, também, Adeline vê em conflito moral ao se apaixonar por um cientista sonhador às vésperas de sua próxima mudança de vida para fugir de seu futuro de questionamentos sobre o que ela é. Seu sofrimento consiste em aceitar ou não o demônio citado pelo filósofo, é a decisão entre escolher reviver sua vida ou reiniciar sua existência sem passado.
Apesar do conceito interessante, o filme sofre de problemas narrativos sérios como, por exemplo, lançar mão da narração em off para toda e qualquer grande resolução. Tal conceito soa normalmente preguiçoso, e o espectador percebe que o recurso será recorrente e constante. Estatisticamente previsível para aquele que já viu algum outro romance, a película se recusa a fugir de estereótipos mesmo que queira dar a entender que sua visão é diferente e eventualmente mais moderna do que seus pares.
Um bom divertimento, aquém do que poderia ser, não funciona tão bem como fábula e nem como romance, mas é bem mantido pelo bom elenco que conta com surpresas e faz daqueles acontecimentos óbvios algo, ao menos divertido de se ver, novamente.
–
Texto de autoria de Marcos Paulo Oliveira.