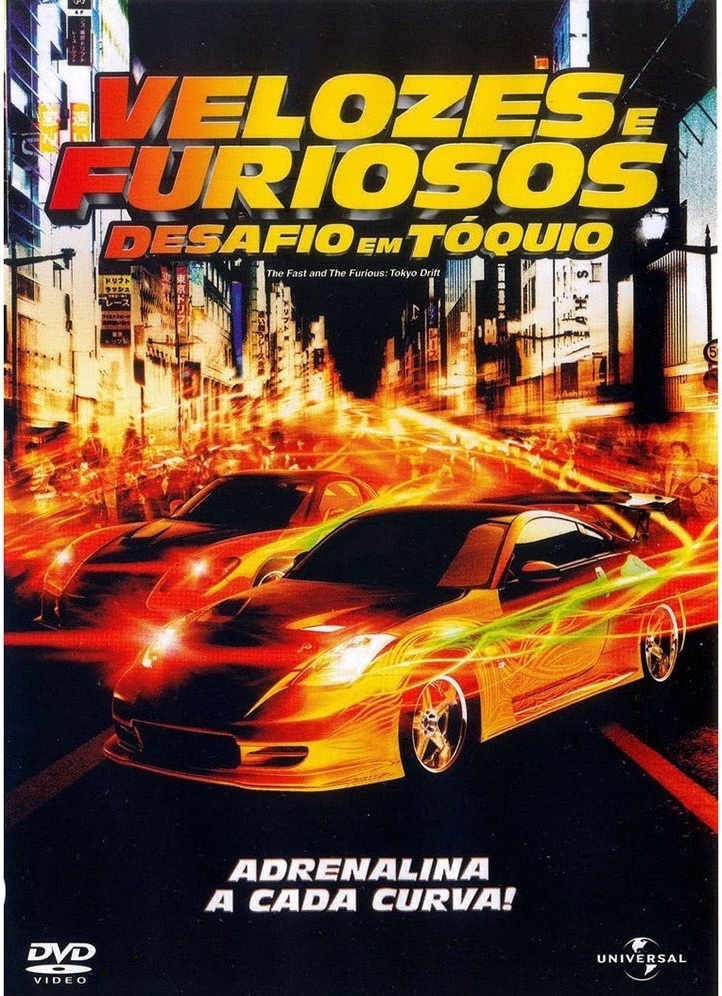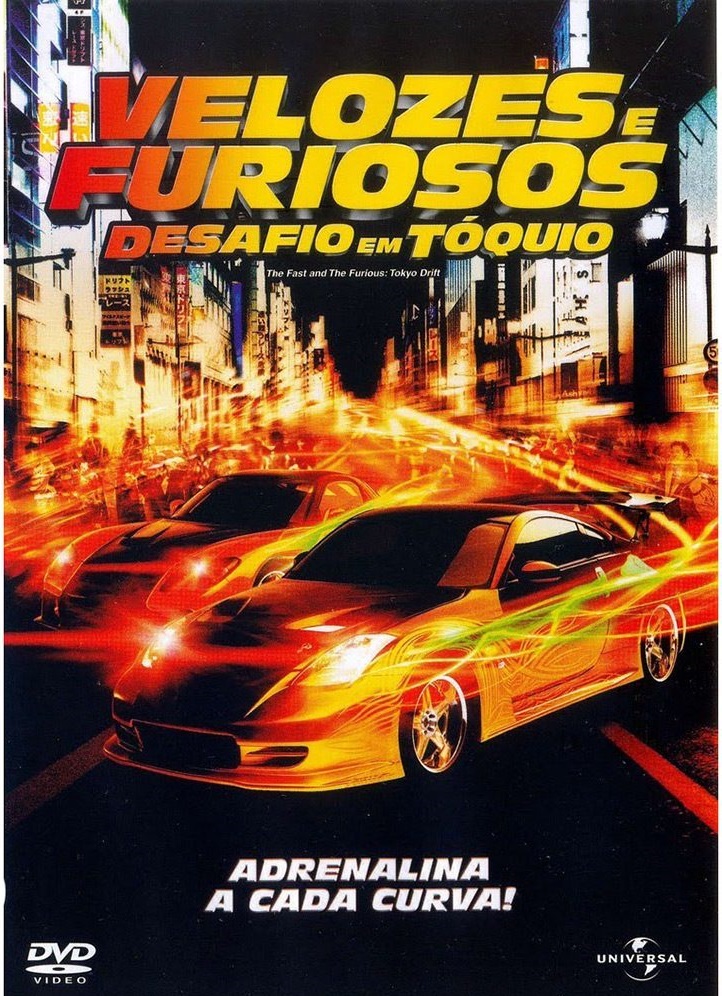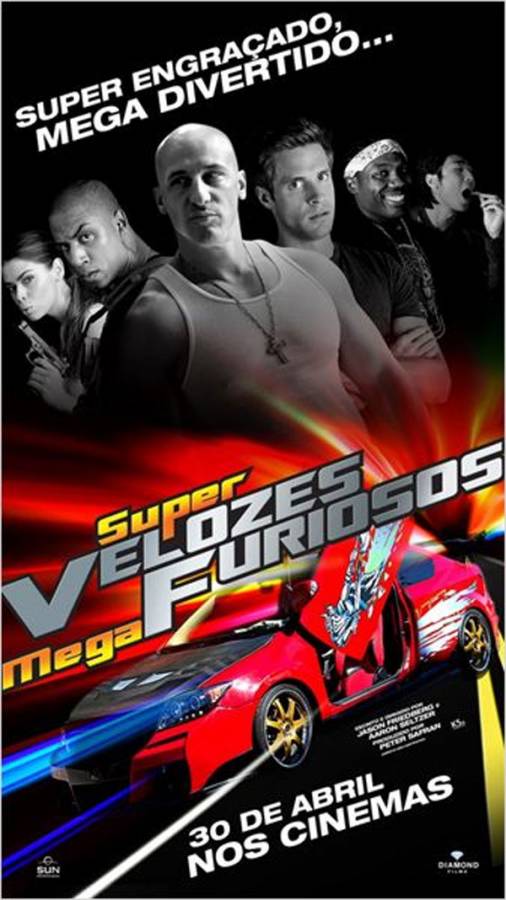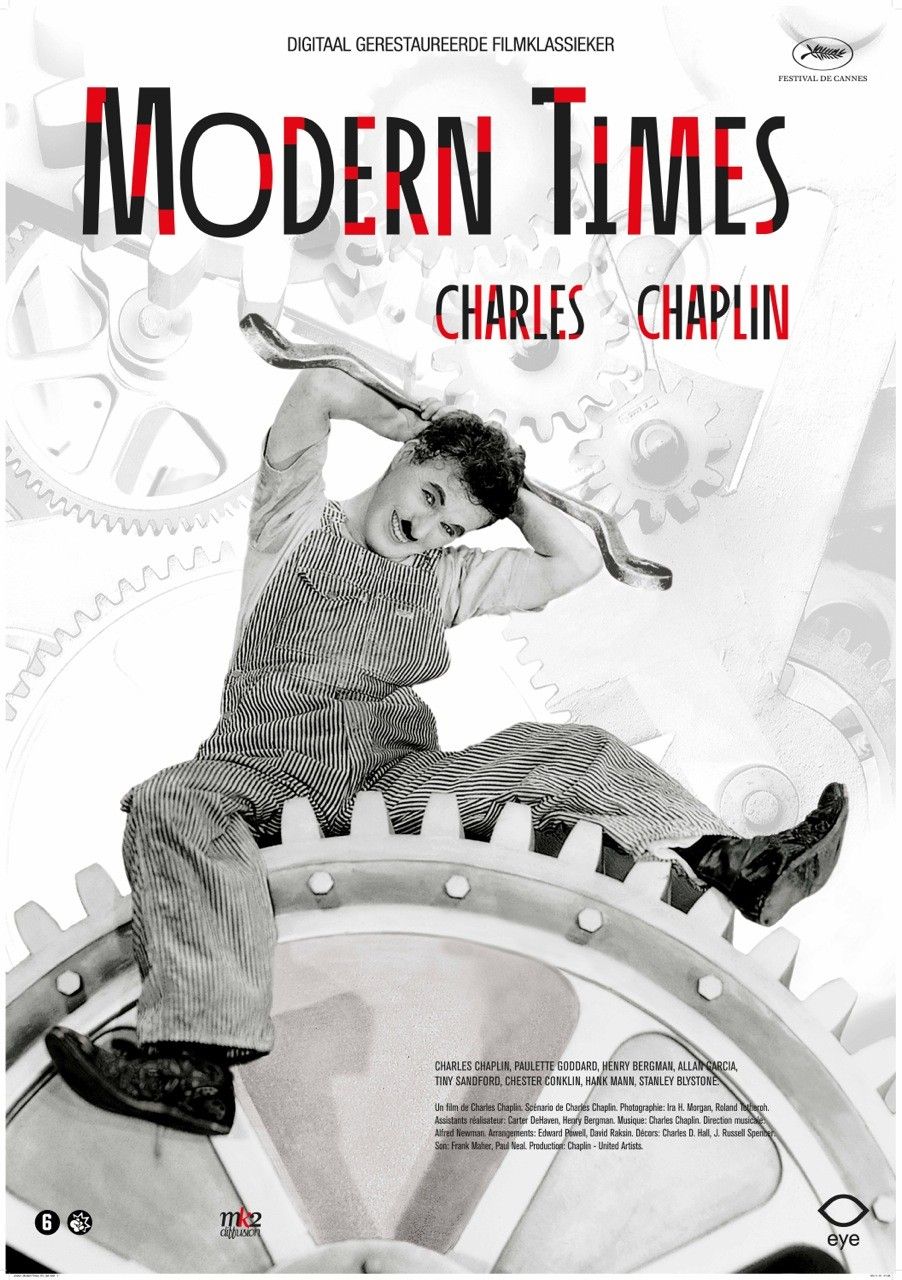Não é de hoje que atores são também diretores, e muitas vezes acabam dirigindo a si mesmos, como é o caso de Woody Allen, premiado roteirista de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Hannah e suas Irmãs (1986) e Meia Noite em Paris, além do recente Blue Jasmine, cujo roteiro original também foi indicado ao Oscar, mas apenas Cate Blanchett recebeu o prêmio de Melhor Atriz, pela interpretação de Jasmine.
Em As Pontes de Madison, baseado no romance homônimo de Robert James Waller, e dirigido por Clint Eastwood, um trecho de um poema do irlandês W. B. Yeats, “Quando as mariposas alçarem voo…”, é usado poeticamente num bilhete que Francesca deixa para Robert, para designar o anoitecer, já que a maioria das mariposas só voa à noite. Yeats é citado algumas vezes pelo par romântico ao longo da história, agregando-se a toda a poesia que permeia a película, declamada nas paisagens, nos blues que vestem a trilha, nas falas cuidadosamente escolhidas e interpretadas com brilhantismo, mais precisamente por Meryl Streep. Com relação a Clint, há dois aspectos a serem considerados: seu trabalho na direção e seu desempenho como ator.
Não sei qual teria sido o resultado da direção se Steven Spielberg ou Synney Pollack assumissem o projeto (possibilidades cogitadas anteriormente), mas não há muito a dizer sobre o trabalho de Eastwood, positiva ou negativamente, já que o filme é sustentado pelo cenário/fotografia (Jennine Oppewal/Jack N. Green), roteiro (Richard LaGravenese) e a atuação de Meryl Streep, pela qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.
Fica ainda mais difícil tecer elogios à mão que dirigiu As Pontes de Madison, se lembrarmos a eficiência de Eastwood em Os Imperdoáveis ou Menina de Ouro, os quais arrebataram o Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção, e até mesmo Bird e Sobre Meninos e Lobos, que receberam, respectivamente, Globo de Ouro e Cannes, de Melhor Direção.
Como ator, colocando de lado o fato de sua expressão carrancuda ter sido estigmatizada, é inegável que os papéis que lhe caem melhor são aqueles em que o personagem é um homem mais bruto. Apesar de não ter conseguido, ao longo de sua carreira, qualquer Oscar como Melhor Ator (foi indicado em Os Imperdoáveis e Menina de Ouro), considero, sim, que Eastwood teve algumas atuações de grande peso, e ressalto, aqui, Walt Kowalski em Gran Torino (em 2009, a National Board of Review concedeu-lhe o prêmio de melhor ator). Seu primeiro desempenho de destaque foi na trilogia de Sergio Leone (onde destaco Três Homens em Conflito), mas ele também convence em outros filmes como O Estranho sem Nome e Alcatraz.
Já como o fotógrafo Robert Kincaid, Clint é totalmente ofuscado por Streep e, para mim, a única cena em que imprimiu um pouco mais de força foi no final do filme, quando anseia por uma resposta positiva de Francesca, no meio da rua, sob a chuva. Mesmo assim, nesta mesma cena, é Francesca quem rouba as atenções e nos provoca um certa inquietação compartilhada, quando sua expressão corporal e facial transbordam todo o dilema vivido pela personagem.
Não é à toa que Meryl Streep foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, perdendo para Susan Sarandon por sua atuação com Irmã Helen em Os Últimos Passos de um Homem. São incríveis a veracidade e intensidade que ela imprime à apagada dona de casa dos anos 1960, na pacata cidade de Madison, Iowa, transitando pela mulher que se descobre sensual e apaixonada, até à amadurecida e consciente mãe e esposa que abdica de um grande amor, exatamente para preservá-lo. Isabella Rossellini, Cher, Susan Sarandon, Jessica Lange e Anjelica Huston estavam na lista para o papel de Francesca, mas Eastwood desde o início preferiu Streep, a qual teve que engordar alguns quilos para encarná-la, o que fez de corpo e alma.
Aclamada como uma grande atriz, tanto pelo público quanto pela crítica, sendo que esta já reconhecia seu talento pelos três filmes, lançados em 1979 (Manhattan, Julia e Kramer vs. Kramer), nos quais atuou como coadjuvante, e levou o Oscar e o Globo de Ouro, nesta categoria, pelo terceiro. São inúmeros os troféus que Streep recebeu de várias organizações voltadas para a premiação do cinema, e entre elas podemos contar 15 indicações a Melhor Atriz, das quais ganhou duas (A Escolha de Sofia e A Dama de Ferro).
Com tantos filmes no currículo, um grande número de indicações e premiações, e uma incrível diversidade de personalidades interpretadas, Meryl Streep ainda canta (a exemplo de Mamma Mia!), e apresenta uma impecável mimetização de sotaques, como o inglês britânico (A Dama de Ferro e outros), o polonês (A Escolha de Sofia), o dinamarquês (Entre Dois Amores), o irlandês em Ironweed, e o italiano em As Pontes de Madison.
Depois de uma viagem no tempo pelas obras, desempenhos e premiações dos atores que protagonizam este drama romântico, volto agora ao filme em si, e convido você a vir comigo, num passeio pela história, pelos cenários, pelas falas deste longa que, se não entra para a lista das obras-primas cinematográficas é, com certeza uma proposta de mais de duas horas agradáveis. Concordo que haja alguns momentos um tanto açucarados, mas há também aqueles que se envolvem de sensualidade, de beleza singela ou de reflexão.
A história toda nos é contada pela visão da protagonista Francesca (Meryl Streep), em flashback, a partir do momento em que seus filhos, Carolyn (Annie Corley) e Michael (Victor Slezac) surpresos com o pedido de cremação, começam a revirar um baú, e encontram um diário e uma carta destinada a eles.
É então que eles tomam conhecimento da existência, na vida da mãe, do fotógrafo Robert Kincaid. A princípio resistentes a aceitar o romance vivido por Francesca, aos poucos vão se deixando envolver por toda a paixão que transpira em seu relato, até que acabam revendo seus conceitos morais e repensam seus casamentos.
Logo no início da carta há uma frase de Francesca (“quando ficamos velhos perdemos nossos medos”), cuja essência se mostra como pilar para a revolução, interna e externa, que acontece em sua vida desde o momento em que, numa tarde de 1965, um fotógrafo da National Geographic, em busca das famosas pontes do condado, estaciona à sua porta pedindo-lhe informações, e esta se dispõe a acompanhá-lo até a Roseman Bridge.
Ainda que você não seja fotógrafo(a), atrevo-me a suspeitar que, assim como eu, tenha se sentido com uma câmera na mão, querendo registrar, num click, a beleza que a paisagem deste momento inspira. Não há cenários montados, as locações são autênticas e a ponte realmente existe, apenas tendo passado por um envelhecimento e a retirada de algumas tábuas laterais. Mas não é só a ponte, as plantas silvestres ou a luz do sol mesclando-se a tudo, que queremos fotografar. Há também a sutileza do interesse que Robert desperta em Francesca, através do olhar da mesma.
A linguagem corporal de Meryl Streep é impecável, envolvente (eu cheguei a me contorcer, invadida por cada sentimento que a personagem experimentava), e empresta uma beleza de sublime erotismo a momentos como quando Francesca, sozinha na varanda da sua casa (esta casa estava abandonada havia 30 nos, e foi restaurada pela equipe de arte), abre o penhoar e se entrega à brisa da noite, ou quando, preparando-se para o segundo jantar com Robert (o que de fato inicia o romance), a dona de casa até então tão adormecida sente despertar sua sensualidade, numa banheira, sob a percepção de que, minutos antes, aquele homem estivera nu, naquele mesmo lugar.
Mas talvez o ápice do filme esteja na cena em que, na cidade, sob o cair da chuva, Francesca e Robert se veem pela última vez. Após esperar, no meio da rua, em sua mudez e imobilidade por uma resposta, Robert entra em sua caminhonete. Francesca tenta conter um explosão de choro, e se debate entre as duas possíveis decisões (fugir com o grande amor de sua vida, ou permanecer cuidando de seu marido e filhos). Johnson (Jim Hayne), o marido, ocupa o banco do motorista, ao seu lado, e percebe que algo não está bem, mas ela não lhe responde.
A tomada da câmera sobre a mão de Francesca segurando, inquietamente, a maçaneta da porta, entre o ir e o ficar, é tão forte que quase nos afoga em expectativa, e faz com que nos sintamos impulsionados a decidir por ela.
Talvez pareça um exagero dizer que, tendo Clint, o cenário e o roteiro como coadjuvantes, Meryl Streep é o filme, mas… ainda estou sob o efeito desta magnífica atuação. Então… assista e confira o grau dos meus exageros (se é que os há, mesmo)!
–
Texto de autoria de Cristina Ribeiro.