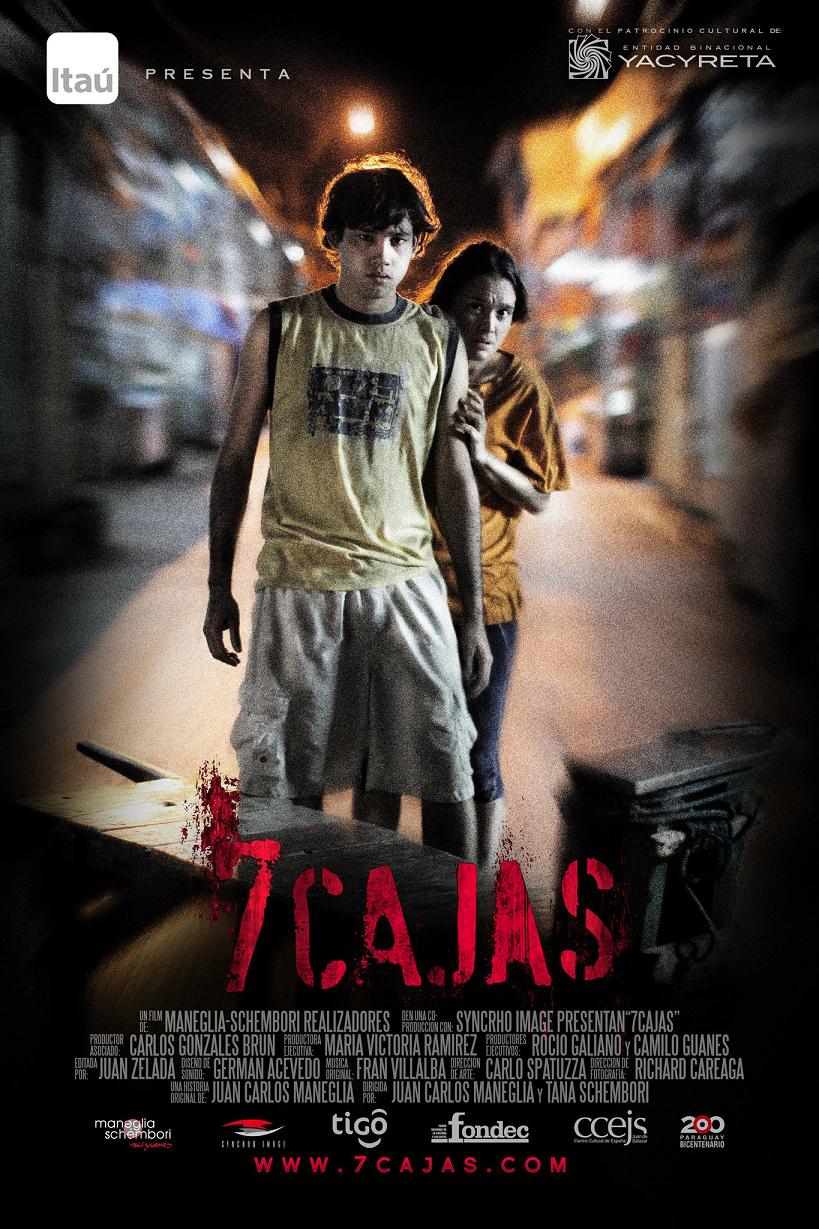Que o cinema é uma arte, institucionalizada como tal, todos sabemos. Mas nenhuma falácia nos ocorre em considerá-lo uma indústria, principalmente depois da vinda de Tubarão às grandes telas, com o desenvolvimento do conceito de blockbuster e a ganância crescente de produtores e produtoras hollywoodianas que se agarram a ideias com maior possibilidade de lucro imediato e duradouro, ou seja, que gerem remessas agora e possam continuar gerando, sejam em sequências e mais sequências, remakes ou reboots. O que esse Fordismo cinematográfico tem nos trazido é uma homogeneização do que é visto em tela. E isso já aconteceu com o gênero do horror e seus grupos de jovens sendo atacados por assassinos ou forças sobrenaturais; na comédia, com a padronização das paródias e, depois, por meio dos filmes discípulos de Se Beber, Não Case!; entre tantos outros gêneros.
Mas agora o que temos é uma pujança de abarcar todos esses “estilos” de forma pasteurizada, e de modo a atingir o público que mais vai aos cinemas na atualidade: o infanto-juvenil. O filão das adaptações de sucessos literários, dentre esses novos consumidores da sétima arte, surgiu como uma Estrela de Belém para Hollywood. Harry Potter foi o grande carro-chefe em anos, mas o público “teen”, leitores cada vez mais assíduos de obras voltadas à sua faixa etária e que exalavam seus conflitos e olhares sobre um amanhã deturpado, implorou por mais. E foi assim que Stephenie Meyer surgiu no mundo literário, preenchendo as livrarias com quatro obras (e depois mais e mais…) que seriam levadas às telas em cinco filmes, todos sucessos de público, mas nem um pouco de crítica.
Mais competente e complexa em sua literatura, Suzanne Collins apresenta a distopia de Jogos Vorazes ao mundo e, após o sino de “sucesso estrondoso” ecoar em todos os continentes, a obra foi também levada aos cinemas, sendo recebida com certo louvor, tanto por parte de público quanto por parte de crítica. Daí para frente, a Unilever imaginária dos estúdios adquiriu o direito de todas as obras voltadas para adolescentes e pré-jovens, e passou a saltear, trimestralmente, novas tentativas de fidelização deste público com mais marcas que, no fim, representam o mesmo elemento das anteriores, e por vezes são até de mesma origem. Dove, Seda, Palmolive? A Hospedeira, Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos, Dezesseis Luas e afins? É possível até ver os diretores de todas elas fazendo download da fórmula Meyer-Collins e dando seus sutis “toques de originalidade” em busca de alcançar a mesma popularidade dos produtos padrão. Bem… Mas como nos exemplos citados, nem sempre isso é possível.
Veronica Roth é a autora de mais uma história embasada em distopias, dando origem a Divergente. Na narrativa, uma guerra devastou o mundo que conhecemos. Em tela vemos Chicago com visual pós-apocalíptico e a tradicional fotografia acinzentada e suja que realça a degradação de várias paisagens, como prédios e antigos estabelecimentos comerciais. Alwin H. Küchler traz também as cores terrosas de seu trabalho em Hanna, contrastando com um branco intenso que emana em momentos específicos do início do filme, para a ambientação da cidade de Divergente. É nela onde vemos a sociedade dividida em cinco facções, nomeadas de acordo com virtudes e representando funções sociais diferentes: Abnegação, Amizade, Audácia, Erudição e Franqueza. Aos 16 anos, os adolescentes nascidos em cada uma dessas macro associações devem escolher continuar em suas comunidades ou migrarem para outras facções. Tris (Shailene Woodley, indicada ao Globo de Ouro por Os Descendentes), de uma das famílias mais tradicionais de Abnegação, descobre em um teste que possui as características de todas as facções, sendo assim apontada como uma Divergente, espécie rara e perseguida pelas demais. Mesmo assim, decide alistar-se a Audácia, facção responsável pela defesa da cidade. É no doloroso processo de deixar seu corpo fraco (abnegado) e desenvolver sua práxis ativa (audaciosa) para fazer parte de sua nova facção, e esconder as perigosas virtudes de ser uma divergente, que o filme se desenrola, até o último fator se tornar impossível.
O roteiro não traz surpresas para quem já está calejado neste tipo de adaptação, ou ao menos assistiu a Jogos Vorazes. O desenvolvimento da protagonista obedece a uma gradação claramente perceptível e deveras previsível. Mas é o fato de Shailene Woodley (aliás, uma ótima e promissora atriz) ir tão bem no papel de uma adolescente que sempre quis se libertar das amarras de sua sociedade apática e viver na correria dos “malucos” da Audácia, que faz com que o filme segure a atenção de seu público até o final. A jovem parece entender que seu papel não representa apenas uma, mas milhões de adolescentes de 16 anos inconformadas com sua realidade e sedentas por aventura, ação e… um romance aparentemente impossível.
Nossa… o romance. Saindo das flores e começando a nos ferir com os espinhos da obra, a construção do roteiro para nos conduzir à fatídica relação entre o “malhadão” Quatro (Theo James), um dos líderes da Audácia, e Tris acontece de forma boba e pueril, partindo de diálogos sofríveis do tipo “Cuidado comigo mocinha…”, sob olhares opostos ao que a ideia transmite, à completa desconstrução em minutos de um personagem anteriormente estereotipado com características sólidas de sisudez e apelo à violência. Sabe aquele ditado “para bom entendedor, meia palavra basta”? Pois bem, essa previsibilidade dos rumos do roteiro, disfarçada por diálogos forçados, ainda é completada pela insólita sensibilidade de Neil Burger (O Ilusionista e Sem limites), diretor que acerta pouco em toda obra e que recorre aos recursos fáceis de montagem para mostrar a “evolução” de sua protagonista e ainda usa-os, aliados a repetidos closes, em momentos específicos, para que os fã boys and girls não tenham medo dos rumos da história. Pois tudo simplesmente se realiza como aparenta ser, seguindo novamente a obediência à fórmula consagrada que nos faz experimentar o gosto amargo do plot já previsto, da pseudo-coragem disfarçada do roteiro em se desfazer abruptamente de alguns personagens (oi, Jogos Vorazes?) e em testemunhar superações e mais superações da protagonista e tudo mais que “um filme desses” tem a oferecer.
Mas talvez uma das coisas que mais irritam em Divergente é sua longuíssima duração. Nada justifica os 140 MINUTOS DE PROJEÇÃO, nem mesmo o doce de coco da Shailene Woodley faz com que alcancemos rapidamente os esperados créditos finais da obra. São exatas duas horas e vinte minutos de uma produção que se estende muito em momentos que não adicionam nada à narrativa, como nas várias comemorações e alegrias da protagonista por suas evoluções ou vitórias. Me remeteu ao insuflado Bling Ring: A Gangue de Hollywood de Sofia Coppola. Cenas como a da personagem sobrevoando por dentre os prédios da cidade de Chicago, sentindo-se finalmente livre de seus antigos grilhões, funcionam muito mais por suas metáforas “sonrisal” altamente didáticas (a felicidade, a superação, o soerguimento) unicamente do que pelo que mostram em seus cansativos minutos de computação gráfica e fotografia de noite azulada.
Voltando às lentes de Küchler, porém, vemos que na medida em que os 140 minutos de Divergente transcorrem, o que emanava da cor branca (da inocência e abnegação) vai se tornando prata, ganhando densidade, corpo, assim como a crescente (e, aliás, belíssima) trilha sonora de Junkie XL, supervisionada por Hans Zimmer, que, ainda que usada em excesso várias vezes, em outras consegue trazer, de forma simples e suave, sentimentos como melancolia, decepção e medo, complementando a construção imagética Shailene/direção de arte.
A composição do abrigo de Audácia é interessante. Vezes parecendo um extenso ringue de UFC, vezes um colégio interno “barra pesada”, contando com os tradicionais grupinhos estereotipados (os brigões, o piadista do bullying, o nerd, a tímida e etc), o lugar incorpora bem o momento de ruptura ao qual os adolescentes estão sendo expostos. Em relação às cenas de ação, com ressalvas às lutas que acontecem durante o treinamento (e que novamente remetem a Jogos Vorazes até em seu grau de ousadia contida), Neil aposta mais em cenas sem violência, ou que se deem de forma “limpa”, sem culpas (em simulações de embate ou em sonhos, por exemplo), do que nas que envolvem o conflito em si, o qual tem por base um plano encabeçado por Jeanine (Kate Winslet, é… ela tá no filme), a líder da Erudição que, tal a insipidez na narrativa, mais parece uma mistura do Presidente Snow com a Jessica Delacourt de Elysium. A sub-trama (que depois de revelada se torna trama principal do filme e surge como mote para mais minutos de projeção), apesar de surgir de forma megalomaníaca, fazendo vários movimentos de personagens, trazendo alguns de volta, executando outros, aprofundando o romance, apelando para dramas familiares, prometendo mudar a estrutura de tudo o que vimos até então, faz realmente apenas isso: promete. Algum motor liga, mas o avião de Divergente não decola e voltamos a dormir pois o filme parece não acabar. E o pior? Segundo o E = MC² das adaptações de obras infanto-juvenis, era basicamente isso que esperávamos desde o início.
Shailene. O mergulho na psiquê de sua personagem, Tris, é o que há de melhor em Divergente. Seu Corra, Lola, Corra onírico é algo que, quando surge, traz esperança. Melhor explorado, mais paciente e frequente, certamente essa particularidade conduziria a obra a um patamar, se não superior, mas singular em relação às outras adaptações. A distopia high school, infantil e genérica da obra, no entanto, faz com que A Hospedeira venha à cabeça. Mesmo que os dois produtos tenham enredos completamente distintos, surgem, porém, da mesma fonte: a Unilever cinematográfica.
–
Texto de autoria de Rodrigo Rigaud, do Zona Crítica.