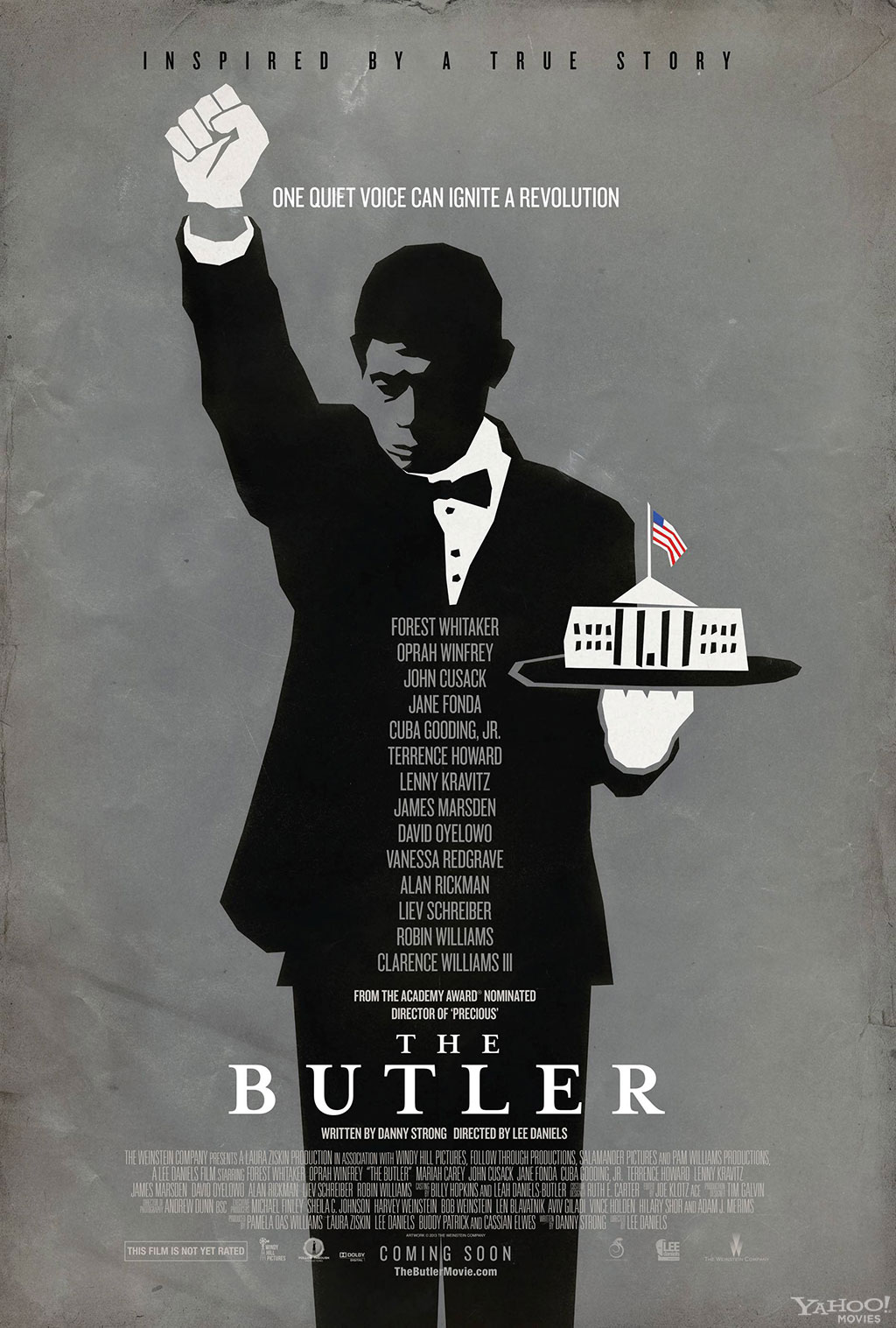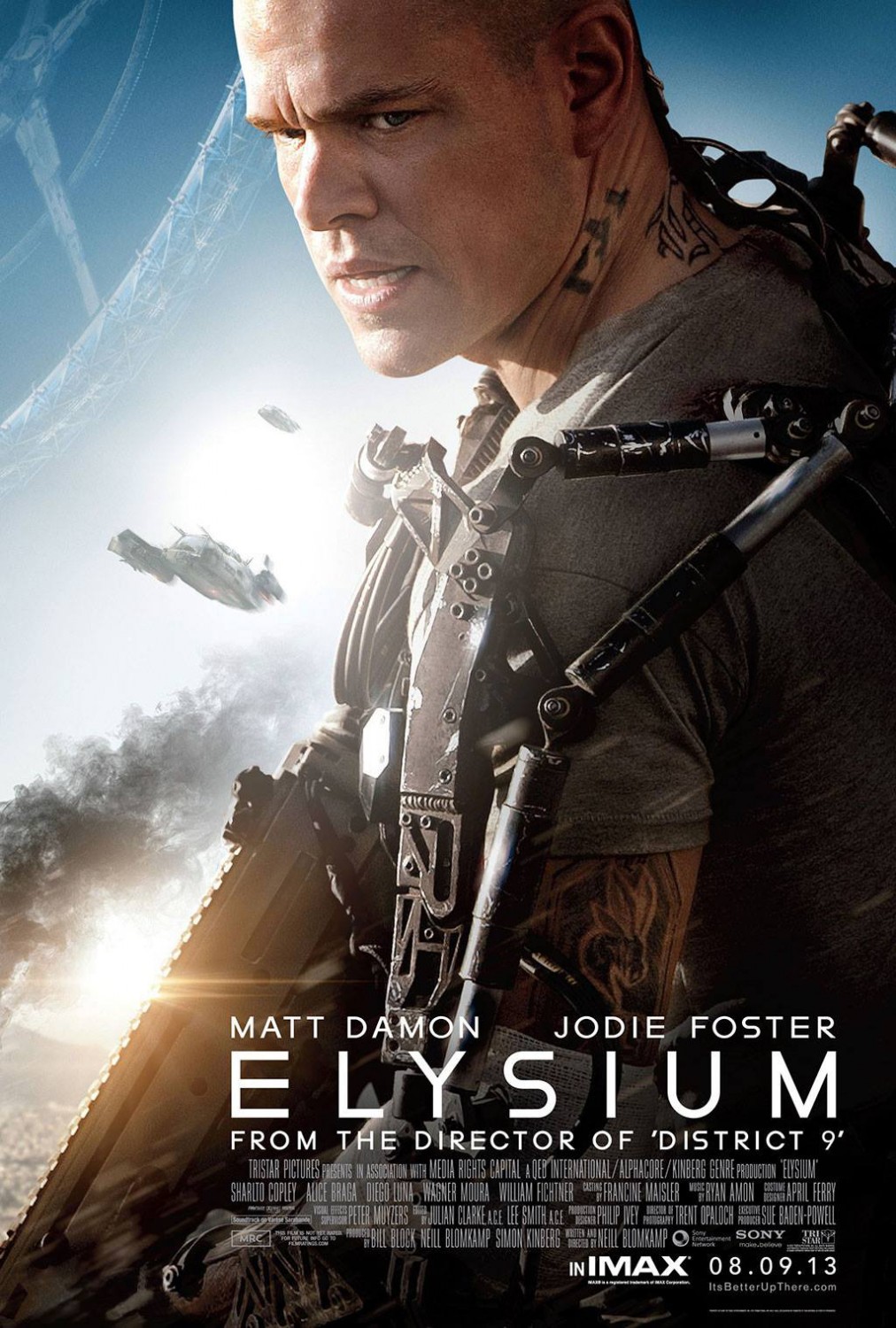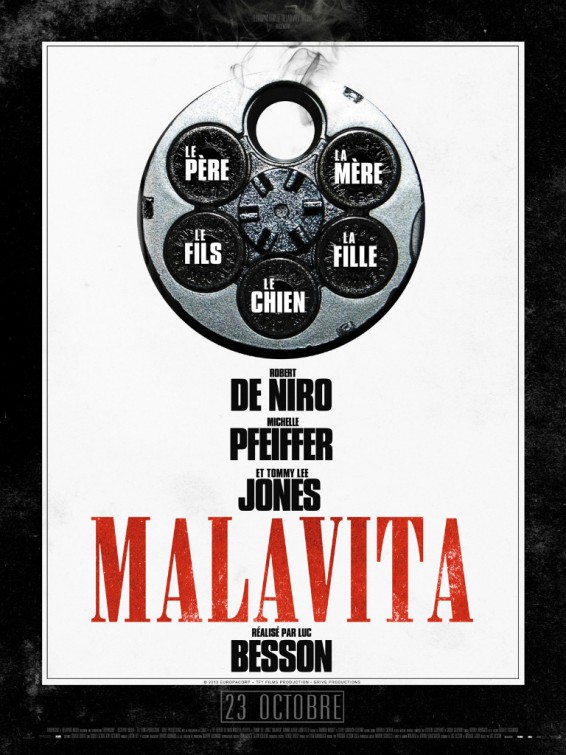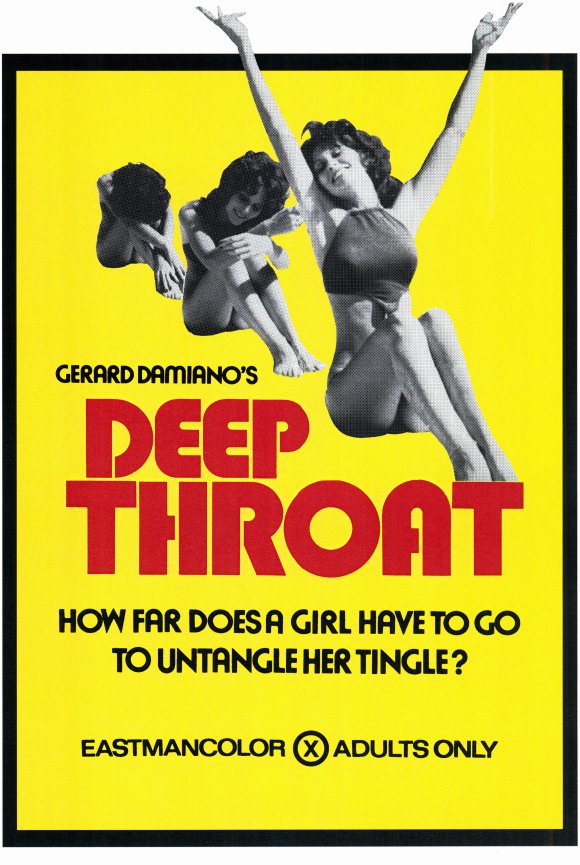A animação que dá origem ao reboot do DCAU (DC Animated Universe) começa com um brutal assassinato que culmina num trauma infantil. Barry Allen, o protagonista, é marcado com fogo ainda criança. Já adulto ele se atormenta, pensando que se fosse mais rápido poderia ter impedido o crime. O roteiro é baseado na saga de Geoff Johns e Andy Kubert, e apesar de tomar algumas liberdades, mantém-se fiel ao espírito da trama original.
O quadro pintado mostra grandes diferenças da realidade alternativa mostrada em tela com o universo que o grande público está acostumado a assistir. O herói, acorda na delegacia, sua última memória é a de ter lutado contra o Professor Zoom. Logo ao sair do posto policial, percebe que algo está errado, pois sua mãe – a pessoa assassinada nos primeiros minutos de exibição – o recebe. Logo ele percebe que não tem mais seus poderes, e as mudanças não param por aí.
Cyborgue é o cão de guarda do governo americano, Batman utiliza armas de fogo e tem outra identidade, a Mulher-Maravilha é a soberana do Reino-Unido, Capitão Átomo é utilizado como uma arma apocalíptica, Aquaman não é um bucha – é um tirano belicista amargurado – há muita informação para pouco tempo de tela, o que faz com que o conteúdo fique bastante jogado. O visual dos personagens também é modificado, os designs destes são quadrados e há uma clara influência de animações japonesas.
Deixando a história de lado, ao menos as cenas de ação são bem executadas. O ataque dos atlantes é muito massa véio, todos os guerreiros são fodões absolutos, mas ainda assim há muita gratuidade. Qual a real necessidade de mostrar Mera – legítima esposa de Aquaman – vendo o marido “consumando” o matrimônio com Diana? Seria para justificar o ataque dela a rainha de Temyscera e ganhar tempo? A solução é tosca e empobrece um dos bons argumentos da revista original. As memórias de Barry Allen entram em conflito, aos poucos suas lembranças são substituídas pelos fatos que ocorreram naquele universo. O motivo do paradoxo é mal explicado, a correria do roteiro só serve para mostrar como Back to the Future seria catastrófico num universo levado a sério.
A batalha final entre Arthur e Diana é muito bem feita, principalmente quando há interferência dos outros heróis. As caracterizações do Capitão Trovão e de Kal-El são muito boas. O ato final do Morcego é bem emblemático, apesar de ser um pouco piegas. Flashpoint Paradox tem graves erros, mas compila de forma leve os acontecimentos da história de Johns e Kubert, e mesmo com todos esses erros ainda possui mais sentido que a Mega-Saga de quadrinhos.







![man-of-tai-chi[1]](http://www.vortexcultural.com.br/images/2013/10/man-of-tai-chi1.jpg)