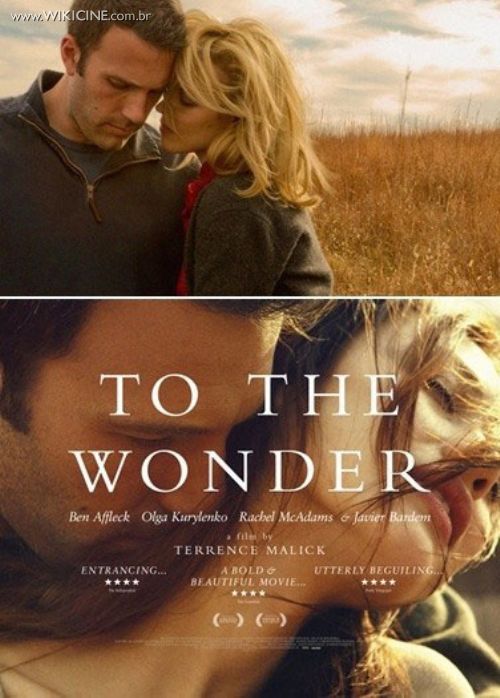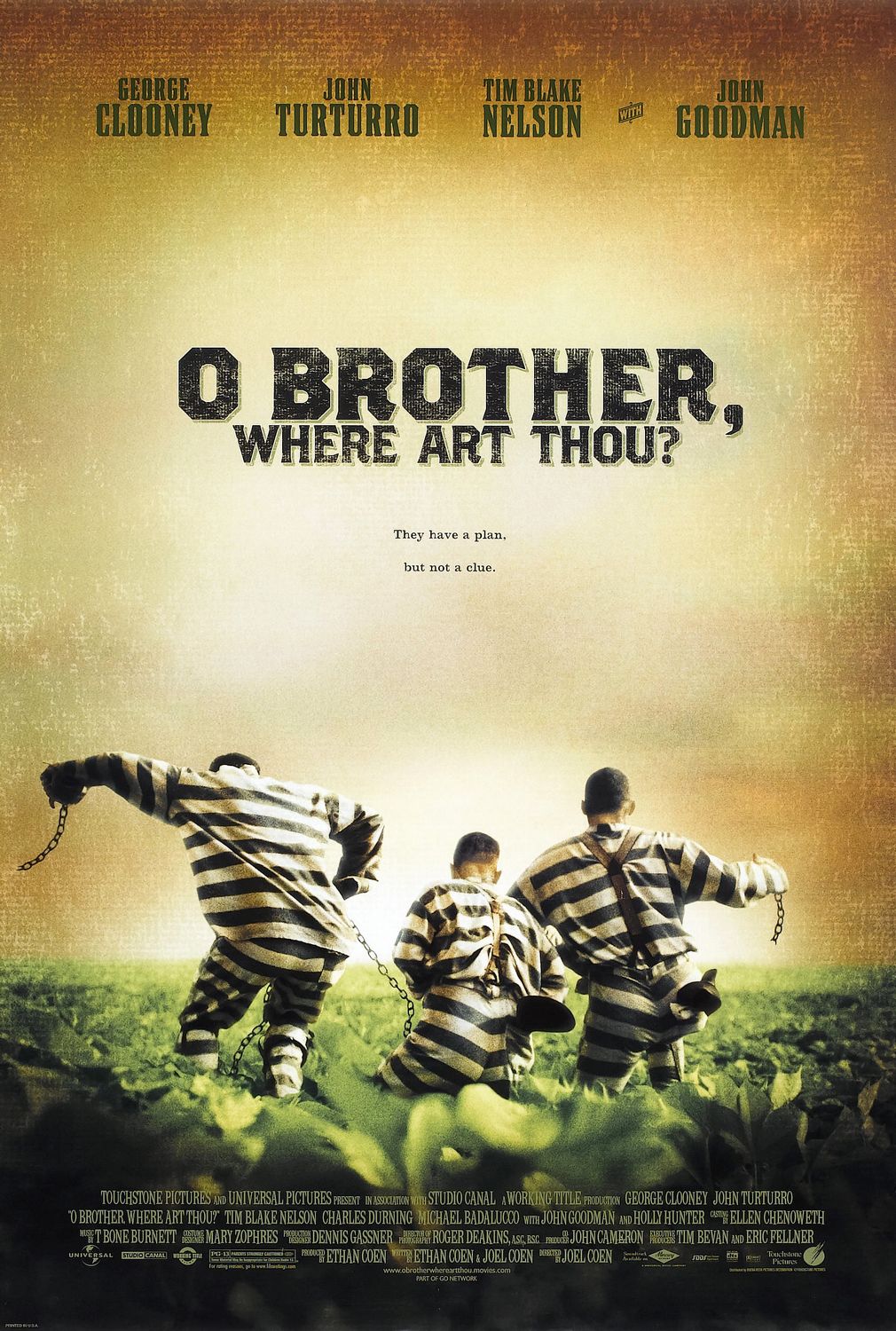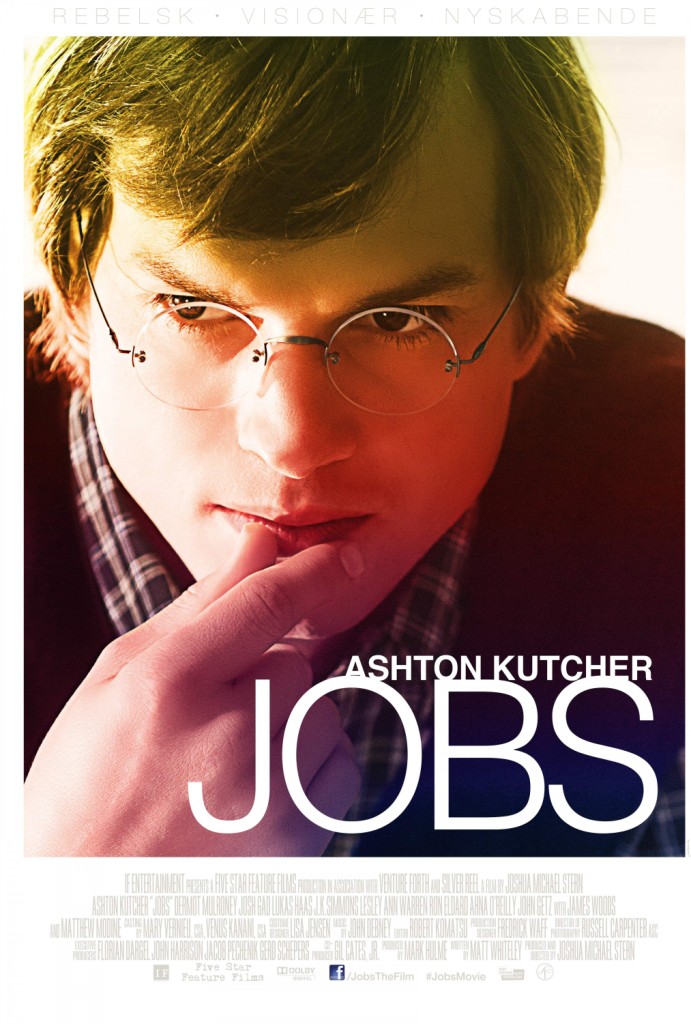Quem já assistiu ao primeiro filme, visitava comunidades estranhas no Orkut ou navegava por sites de bizarrices, sabe do que eu estou falando. Você pode não ter visto, mas com certeza já ouviu falar a respeito desse filme. E se não ouviu, vou dar uma resumida no primeiro, só pra sentir o drama:
Duas garotas americanas em uma viagem pela Alemanha quando o carro quebra em uma noite escura no bosque. Elas procuram por ajuda e encontram uma casa isolada. O médico de meia-idade dono da casa se identifica como um cirurgião especializado em separar irmãos siameses. No dia seguinte, elas acordam amarradas em um hospital improvisado em um porão junto com um japonês. O sinistro doutor planeja ser a primeira pessoa a conectar pessoas pelo sistema gástrico (pra quem não imagina é ânus na boca e boca no ânus), trazendo assim a fantasia de sua vida a realidade: a centopeia humana.
Detalhe que antes de realizar o “experimento” com humanos, o doutor fez com seus 3 cachorros pra ver se a teoria poderia ser posta em prática, e infelizmente deu. O filme todo gira na preparação pra grande cirurgia (diga-se que 60% do filme é isso), e depois de preparados, todos os cortes minuciosamente calculados, o doutor põe a mão na massa e vai grudando a galera. Feito a cirurgia, o resto do filme é apenas a aventura do doutor com seu novo bichinho de estimação (falei bichinho de estimação por que ele tenta adestrar os 3 como se fossem cachorros). Mas é claro que eu não vou contar o final de como essa bizarrice termina, se vocês estiverem curiosos pra saber se alguém morre, se alguém sobrevive, se acontece uma convivência pacífica entre eles, fiquem a vontade pra enfrente 1h45 de pura mentalidade imbecil, ou google it.
No final de Centopeia Humana 1, não fica margem para continuação. Não pelo menos com o mesmo tema. Então tiveram a brilhante ideia de fazer um segundo filme, contando a história de um cara (COMPLETAMENTE) perturbado mentalmente que assiste ao primeiro filme e acha que pode fazer igual e fazer melhor, não com 3 mas com 12 pessoas.
Eu, como já estou acostumada com essas coisas (mentira), resolvi assistir por que a curiosidade sempre fala mais alto.
Centopeia 2 conta a história de um homem que se torna sexualmente obcecado pelo DVD do primeiro filme e imagina colocar a ideia da centopeia humana em prática. Diferente do primeiro filme, a sequência apresenta imagens gráficas de violência sexual, defecação forçada e mutilação; e o espectador assiste da perspectiva do protagonista. No primeiro longa, a ideia da centopeia era apresentada como um experimento de um cientista louco e com o foco nas tentativas de fuga das vítimas, mas esta sequência apresenta a centopeia como objeto da fantasia sexual distorcida do protagonista.
Sinceramente, eu nem sei por qual bizarrice começar. Mas vamos pelo protagonista por que por mais que tenha cenas nojentas, violência pra cacete, e toda aquela parte da preparação de corpos e tal, ele SEM DÚVIDA foi o que mais me assustou.
Martin (Laurence R. Harvey) é um britânico meio anão (ao meu ver), gordo (que adora ficar nu), asmático, não fala meia palavra no filme, doente mental e aparenta ter uns 40 anos. Mora em um pequeno apartamento com sua mãe que também, cá entre nós, não é das mais normais não. Ele foi abusado sexualmente pelo pai quando era um bebê, foi abusado pelo seu psiquiatra e se não bastasse tudo isso ele ainda é obrigado a ouvir de sua mãe todo santo dia, que o pai dele está na cadeia por sua culpa. Ele trabalha como vigia noturno em um estacionamento, e ao assistir o primeiro filme ele fica simplesmente fascinado com a história toda e resolver fazer igual (além de se masturbar com uma lixa. Sim, aquelas lixas de parede).
Então ele começa a sequestrar as pessoas que voltam de madrugada para buscar o carro no estacionamento e VÁRIOS furos no roteiro vão brotando:
– 1º ato falho: como é que somem 12 pessoas misteriosamente de um lugar e ninguém vai atrás pra saber o que está acontecendo? Ninguém pega uma filmagem? Oi?
– 2º ato falho: ele pega um casal que está com uma criança. Ele leva só o casal para o cativeiro e salva a criança. A criança simplesmente some de cena.
– 3º ato falho: pelas minhas contas, o pessoal ficou pelo menos 3 dias em cativeiro. Todos com ferimento na cabeça, todos baleados, todos perdendo sangue, todos sem comer, todos sem beber. E mesmo assim, toda vez que o Martin entra no recinto, eles arrancam energia sabe lá Deus de onde pra se sacudir freneticamente.
– 4º ato falho: Martin não é doutor como o cara do primeiro filme. Ele não tem objetos cirúrgicos e quartos limpos. Então ele resolve realizar o procedimento usando um grampeador de escritório mesmo (além de usar laxante pra fazer a “comida” fluir mais rápido, oh que beleza). Pensando nisso, qual a chance de sobrevivência considerando o fato de que está todo mundo jogado em um porão abandonado, imundo e cheios de ferimentos? Bem baixa.
Momento WTF: tinha uma grávida que ele sequestra no porão e ela se finge de morta. Ela começa a dar à luz quando ele tá colando todo mundo. Então ela simplesmente sai correndo, entra em um carro que está do lado de fora E O BEBE SAI NATURALMENTE. Ela pega e tenta protege-lo? R: não. Ele cai no chão e quando ela acelera o carro pra fugir, acaba esmagando a cabeça da criança. (?????)
Filme de tortura sempre rolou no mercado. Um exemplo de “sucesso”, foi Jogos Mortais (que embora tivesse uma história por trás de toda carnificina gratuita, todos já estavam cansados após o 3º filme). Agora A Centopeia Humana, nada explica terem feito um filme desse. Não tem diálogos, não tem boas imagens, não tem nada. É pura tortura. Tão ruim que chega a ser engraçado. E isso por que eu vi a versão censurada (foi proibido em diversos países, e não encontrei a versão original de jeito nenhum). Se a curiosidade fala mais alto com você (do mesmo jeito que ela fala comigo) fique tranquilo e assista. O filme inteiro é em preto e branco, o que diminui e MUITO a sensação de mal-estar diante das cenas mais pesadas. Prepare-se para um final estilo WTF?, e por favor evite assistir antes ou após as refeições.
–
Texto de autoria de Larissa Tinoco.