Após a onda de bons filmes vindos da Romênia alguns anos atrás, entre os quais o ganhador de Cannes Quatro Meses, Três Semanas e Dois Dias, o cinema do leste europeu como um todo vem ganhando atenção. Filmes da Bulgária, Bósnia e Hungria ganharam mostras específicas, atraem filas nos grandes festivais e passaram a ser distribuídos comercialmente nos cinemas independentes do país. É o caso de Apenas o Vento, longa de Benedek Fliegauf, diretor experiente e conhecido em seu país, mas que só agora teve um de seus longas exibidos no Brasil.
O filme se baseia em uma série de ataques a famílias ciganas ocorridos em vilarejos da Hungria um tempo atrás, mas ao invés de buscar construir um panorama largo, ou tentar explicar o problema do racismo no país, ele se foca em apenas uma família e acerta por causa disso. A protagonista é Anna, uma menina de 13 ou 14 anos que vive com o irmão, a mãe e o avô doente em um casebre em uma comunidade cigana enquanto esperam o pai, que se mudou para o Canadá, mande dinheiro para juntar-se a eles.
Anna acorda o irmão, vai a escola, fala com o pai ao skype, cuida da menina pequena de uma vizinha e é, em linhas gerais, uma menina quieta e responsável. Ela não é particularmente diferente de qualquer outra adolescente e talvez isso seja importante para que a brutalidade dos fatos narrados alcance todo seu potencial. Anna cumpre suas funções e tenta fazer seu melhor, mas Rió, seu irmão menor, parece mais consciente do beco sem saída em que se encontram: ele falta aulas e constrói um esconderijo, ele sabe, melhor que qualquer membro de sua família, que eles vivem em perigo apenas por serem quem são e que agirem como “bons cidadãos” não os livra de nada.
Fliegauf enfatiza o senso de comunidade dos ciganos, especialmente a preocupação deles em cuidarem da própria segurança, uma vez que a polícia do país nada faria por eles. Em uma das melhores cenas do filme, dois policiais visitam a cena de um dos crimes e um deles expressa, se não sua aprovação, ao menos sua indiferença para com o que está acontecendo. Esse policial é da região e sua cor de pele e feições indicam que ele provavelmente tem origem cigana, mas uma vez fora, uma vez incorporado pela sociedade oficial, ele já não se importa e chega mesmo a odiar o povo “primitivo” de onde saiu. Portanto, resta a comunidade criar sua própria milícia: homens armados vigiam as estradas, interrogam os passantes a respeito de movimentação estranha e tentam vigiar a casa das famílias, mas não tem sucesso.
O diretor não tenta em momento nenhum explicar, ou investigar, o acontecido. Ele apenas o relata a partir do ponto de vista de uma menina. Tudo é filmado com uma câmera na mão e praticamente sem recursos de iluminação: a maior parte das cenas são externas e a internas são tão escuras que mal se consegue ver o que está acontecendo. Não é, a princípio, uma escolha estilística, é simples falta de recursos, mas o fotógrafo de Apenas o Vento sabe tirar o melhor de sua situação e constrói oposições entre os campos livres e a casa claustrofóbica, a escola ameaçadora e o aconchegante esconderijo de Rió. O ar documental conferido pela câmera manual também é útil e enfatiza o anúncio de “baseado em fatos reais” exibido antes do filme.
Apenas o Vento acerta ao não tentar ser mais do que é, ao tratar de um tema social espinhoso e uma ferida profunda da Hungria sem pretensões sociológicas, mas a partir dos seres humanos envolvidos. É memorável a cena que dá título ao longa em que Anna, após ouvir um barulho, diz “é apenas o vento” e não sabemos se ela o diz como um desejo, ou para enganar-se. Rió, no entanto, é mais cínico que a irmã e não se deixa enganar. Entretanto, o filme é excessivamente arrastado, fazendo com que 86 minutos pareçam mais de duas horas, sua sutileza, embora bem feita, não é suficiente para sustentar a história, que é no fundo inexistente. Fliegauf tenta construir um retrato de uma situação e uma família, usando-os como metonímia para um povo, contudo, ele se recusa a dar algum tipo de conflito ou vida interior a essa família (a exceção relativa de Rió) e acaba perdendo o espectador, que é incapaz de se conectar com seus personagens.
Por causa disso, no fim o que era uma história sobre o lado humano da coisa, acaba sendo fria e distante, um retrato de alguém de fora para pessoas de fora. Ainda assim, Apenas o Vento é um exemplo notável de um cinema feito fora dos grandes centros, com poucos recurso s e que ainda assim se recusa a cair nos clichês do cinema de “mazelas sociais”. É um bom filme, principalmente na cena final quando afirma que não importa o quanto aquelas pessoas sejam seres humanos, elas serão, para a Hungria, ciganos acima de tudo.
–
Texto de autoria de Isadora Sinay.















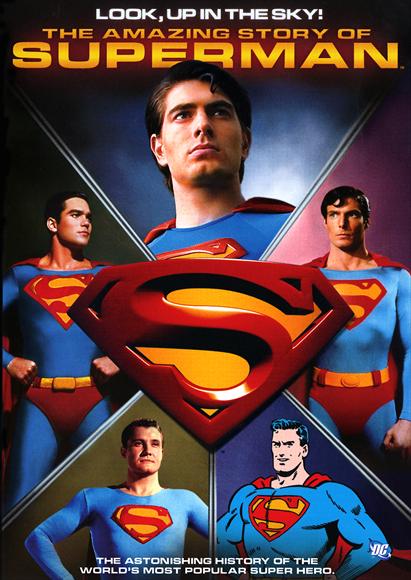



















![bling-ring[1]](http://www.vortexcultural.com.br/images/2013/07/bling-ring1.jpg)





