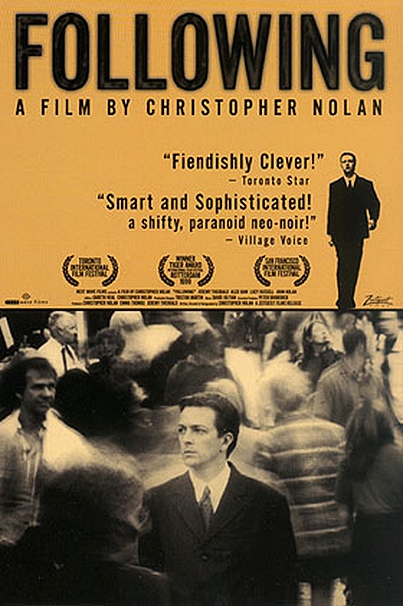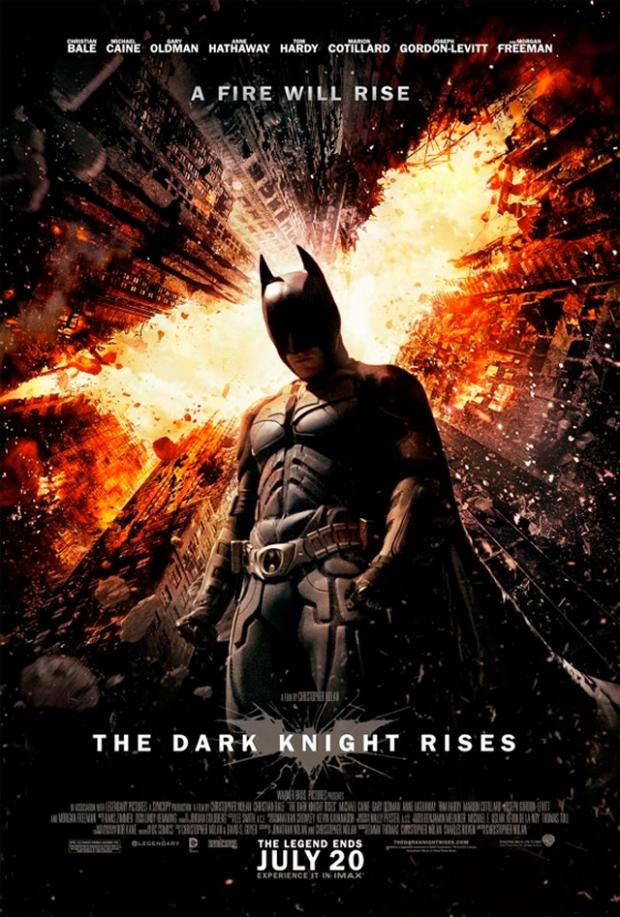Indie Game: The Movie, é um premiado documentário (Sundance 2012), criado, produzido, dirigido, filmado, fotografado, editado e escrito por apenas duas pessoas, James Swirsky e Lisanne Pajot. Ou seja, bem ao padrão de uma produção independente. O filme foi financiado por dois projetos no kickstarter, o primeiro em maio de 2010, levantando os fundos necessários (U$ 15.000) em 24 horas e atingindo 23.341,00 ao final do funding. O segundo “financiamento”, para finalizar o filme, com objetivo de (U$ 35.000), conseguiu quase 200% de sua meta inicial, atingindo mais de 71 mil dólares. Provas de que a comunidade de games independentes, apoiam uns aos outros não faltam. Essa foi só mais uma.
O filme não cai na fácil armadilha da comparação, colocando a indústria de games triple-A como vilões, e o pessoal do independente como os salvadores da cultura gamer. Pelo contrário, aqui o foco é total nos independentes e de seus valores por eles próprios, e não pela análise comparativa.
O documentário tem entrevistas com Jonathan Blow, criador de Braid, Edmund McMillen e Tommy Refenes, criadores de Super Meat Boy e Phil Fish, criador de FEZ. Além de algumas outras participações menores, todos relacionados a cena indie. Além de uma série de extras, como a entrevista com Alec Holowka, da Infinite Ammo, que foi a centelha inicial do filme. Algumas pequenas entrevistas com outros desenvolvedores. Além de adicionais sobre a própria produção do documentário, entre outras coisas. Todas usadas como material de divulgação entre o período de produção e financiamento do projeto.
Com Jonathan Blow, o documentário explora a veia mais filosófica e artística dele próprio, tentando trazer à tona o que motiva, e o que é em sua essência o desenvolvimento de games, que não tem uma forte pressão de estúdios e a necessidade de vender milhões de cópias. Já com os outros participantes principais é mais explorada a motivação e a condição deles próprios, como desenvolvedores independentes.
Os produtores tentam nos mostrar, que aquilo que está sendo produzido não é apenas um jogo, feito apenas para diversão pueril e nada mais. A obra produzida é um reflexo das pessoas nela envolvidas. É a forma que eles melhor têm pra se expressar. Dizer algo para o mundo, algo que representa eles próprios. O próprio Jonathan, em dado momento fala o seguinte (em tradução livre):
Parte de tudo isso, é sobre não ser profissional. Muita gente vem pros jogos indies, tentando ser uma grande empresa. E o que essas empresas fazem, é criar produtos muito polidos, que atendem ao maior número de pessoas possível. Removendo todas as imperfeições possíveis. Se há um canto afiado, você confere se esse canto não vai ferir ninguém, ninguém irá se machucar com o seu produto. Criar esses produtos, polidos e comerciais é o oposto de se criar algo pessoal. O que é pessoal tem falhas, vulnerabilidades. Se você não vê a vulnerabilidade de alguém, você provavelmente não conhece essa pessoa o suficiente, ou de uma maneira verdadeiramente pessoal. É a mesma coisa com o Game Design, em que fazê-lo, é pegar minhas próprias falhas e vulnebilidades mais profundas, colocá-las no jogo, e ver o que acontece.
Além disso, o documentário investe uma carga bastante dramática, sobre o que tudo aquilo representa pra vida desses desenvolvedores e também para aqueles que estão no seu entorno. O que significa aquela realização, e tudo que foi deixado de lado na busca por esse sonho.
Um outro ponto muito interessante, é que o documentário acerta em cheio com as escolhas daqueles que serão entrevistados e acompanhados no desenvolvimento, diria até que foi uma jogada de sorte, já que as filmagens começaram antes do lançamento dos jogos em questão. E o contraponto foi excelente, ao pegar o Team Meat (Super Meat Boy), um sucesso estrondoso de crítica e vendas, e FEZ, um jogo que passou quase 5 anos em desenvolvimento, prometia ser um dos maiores, mas que acabou perdendo muito da força, quase por um abandono da base de fãs que havia conseguido, que desistiram da espera.