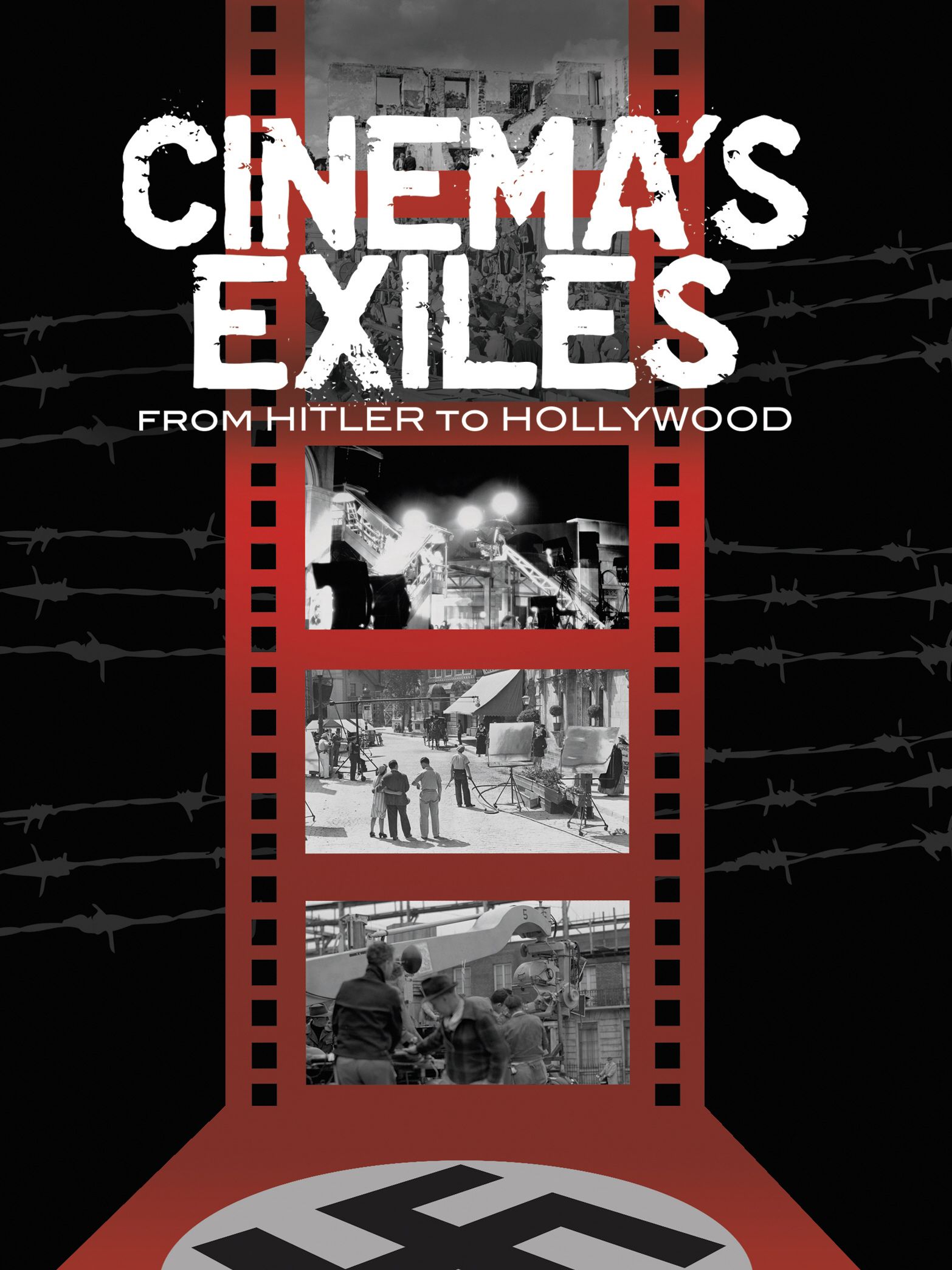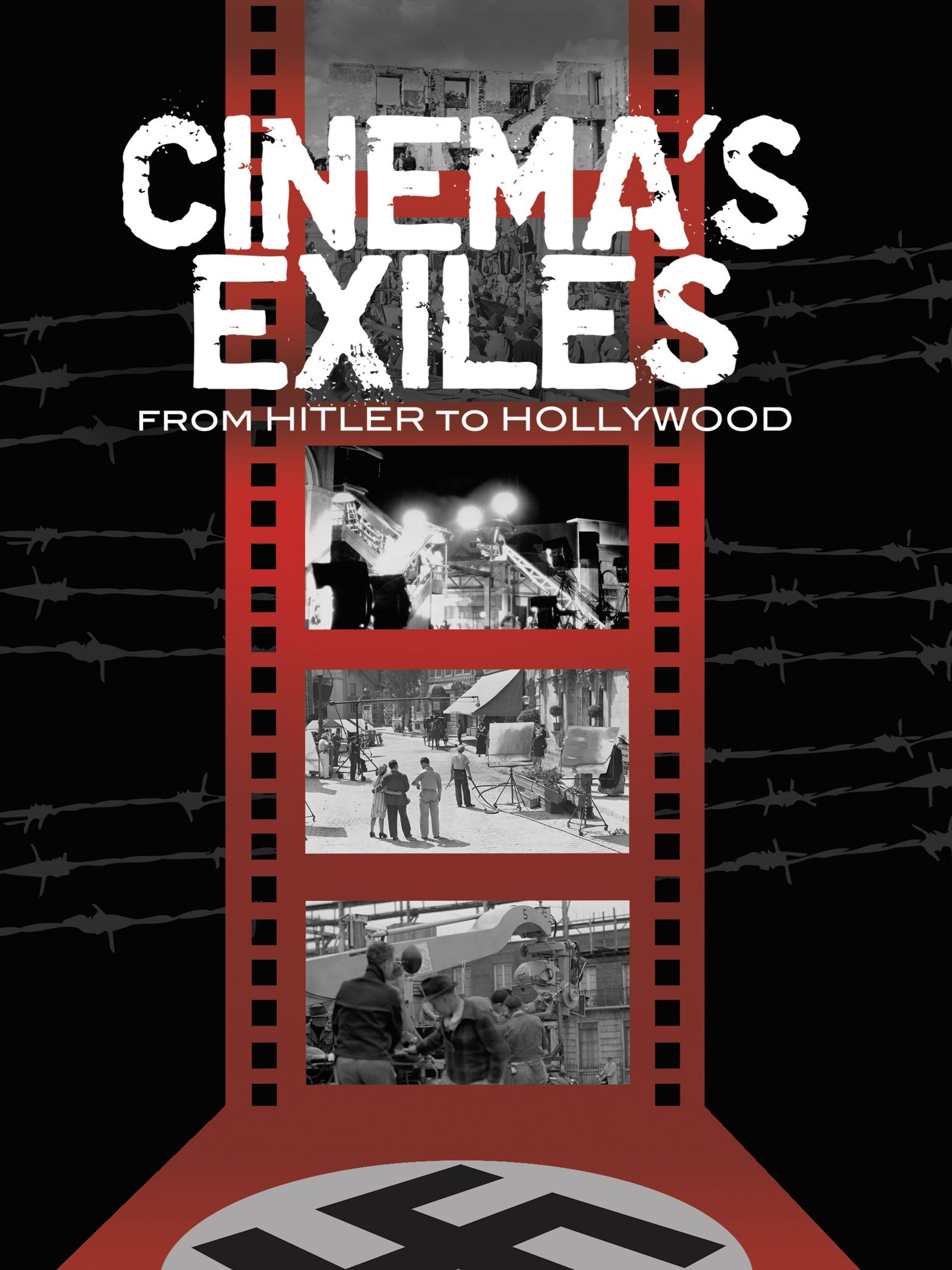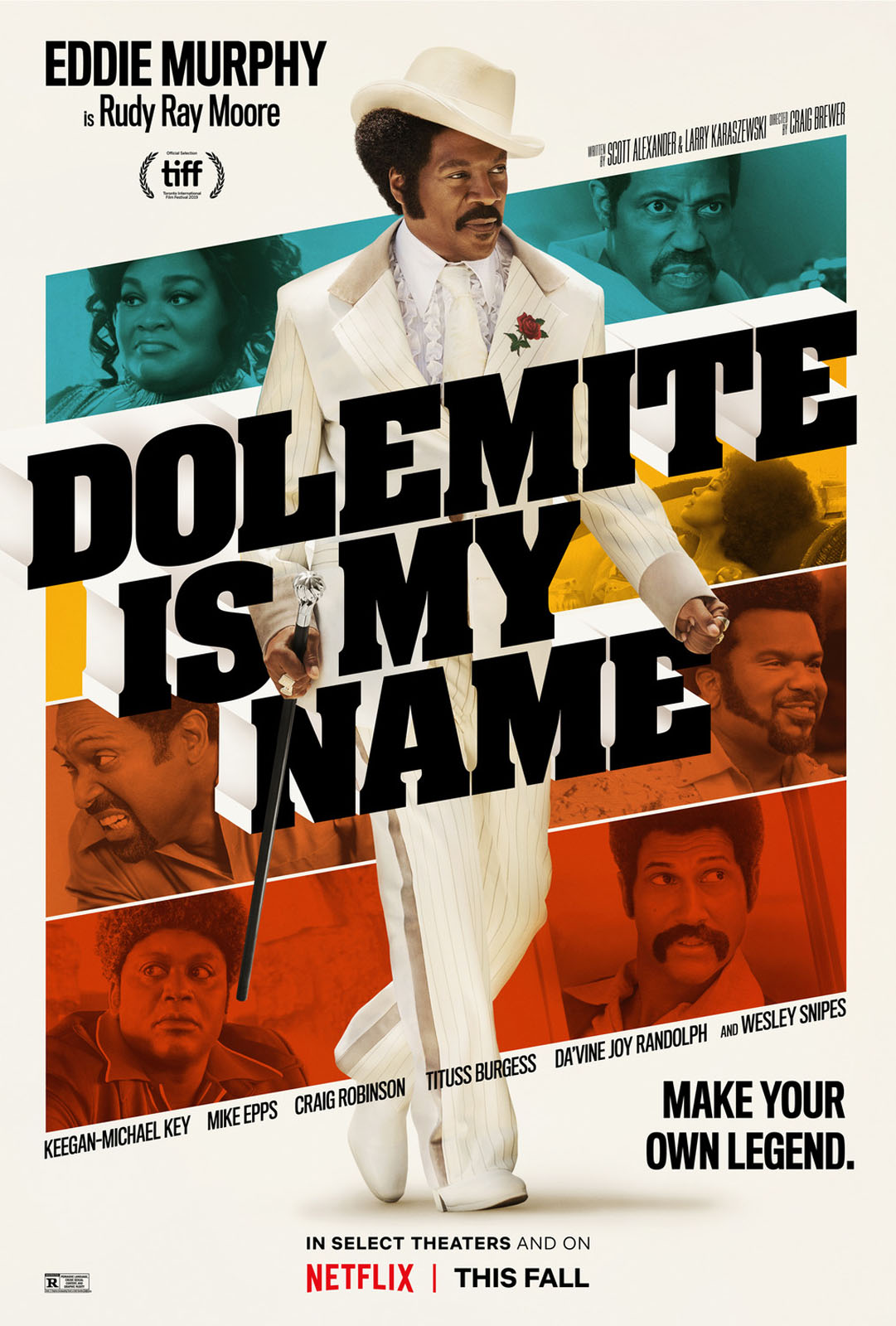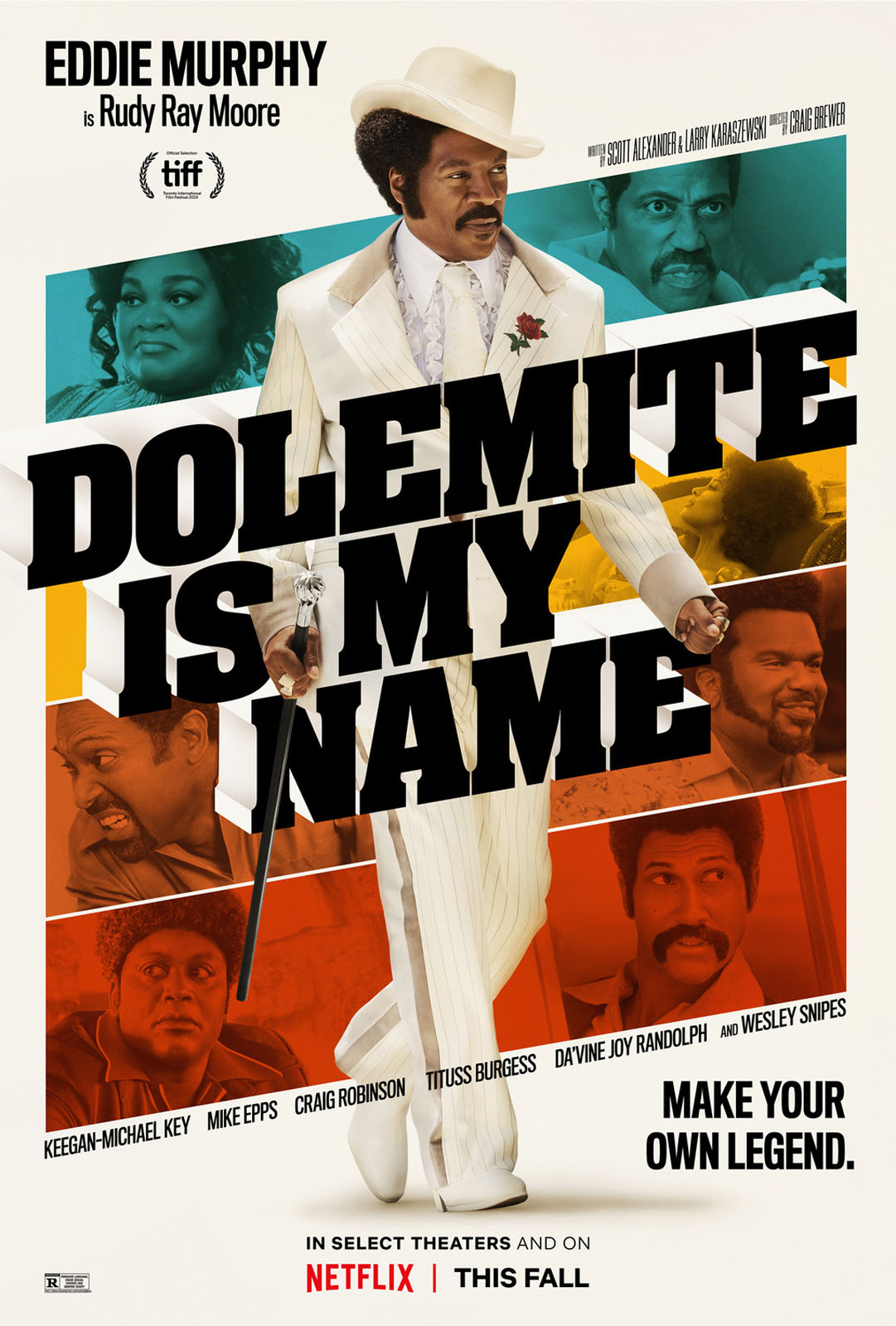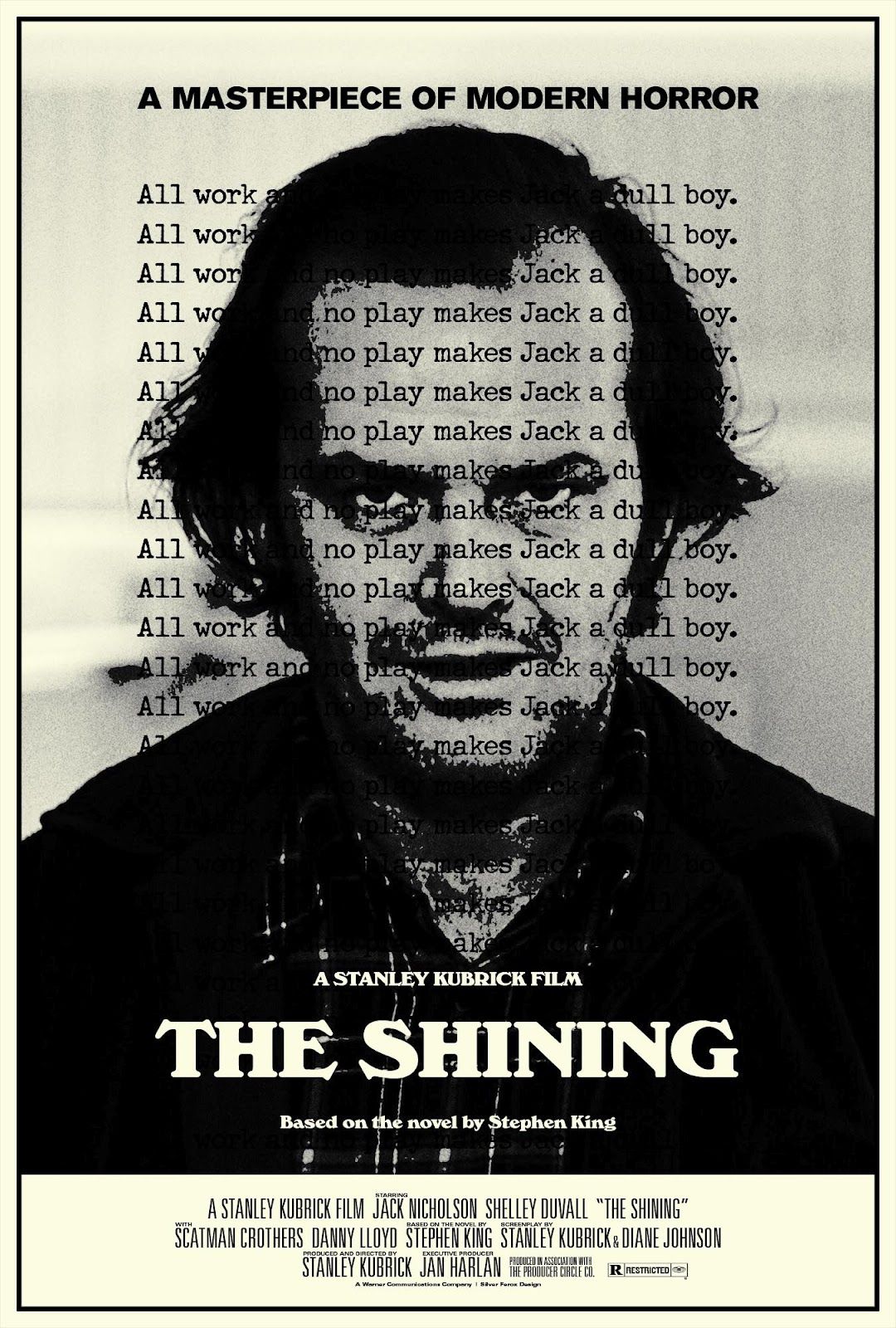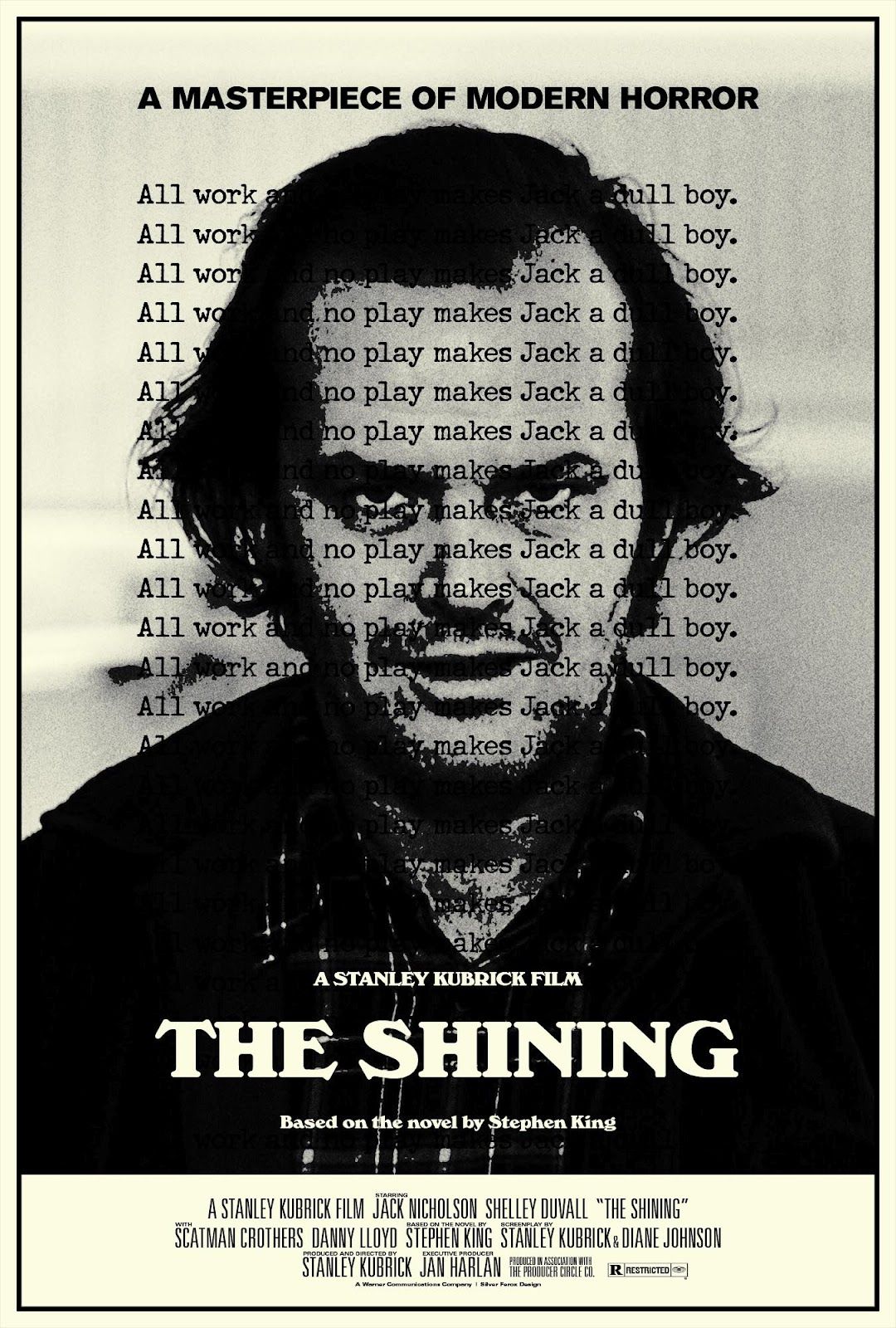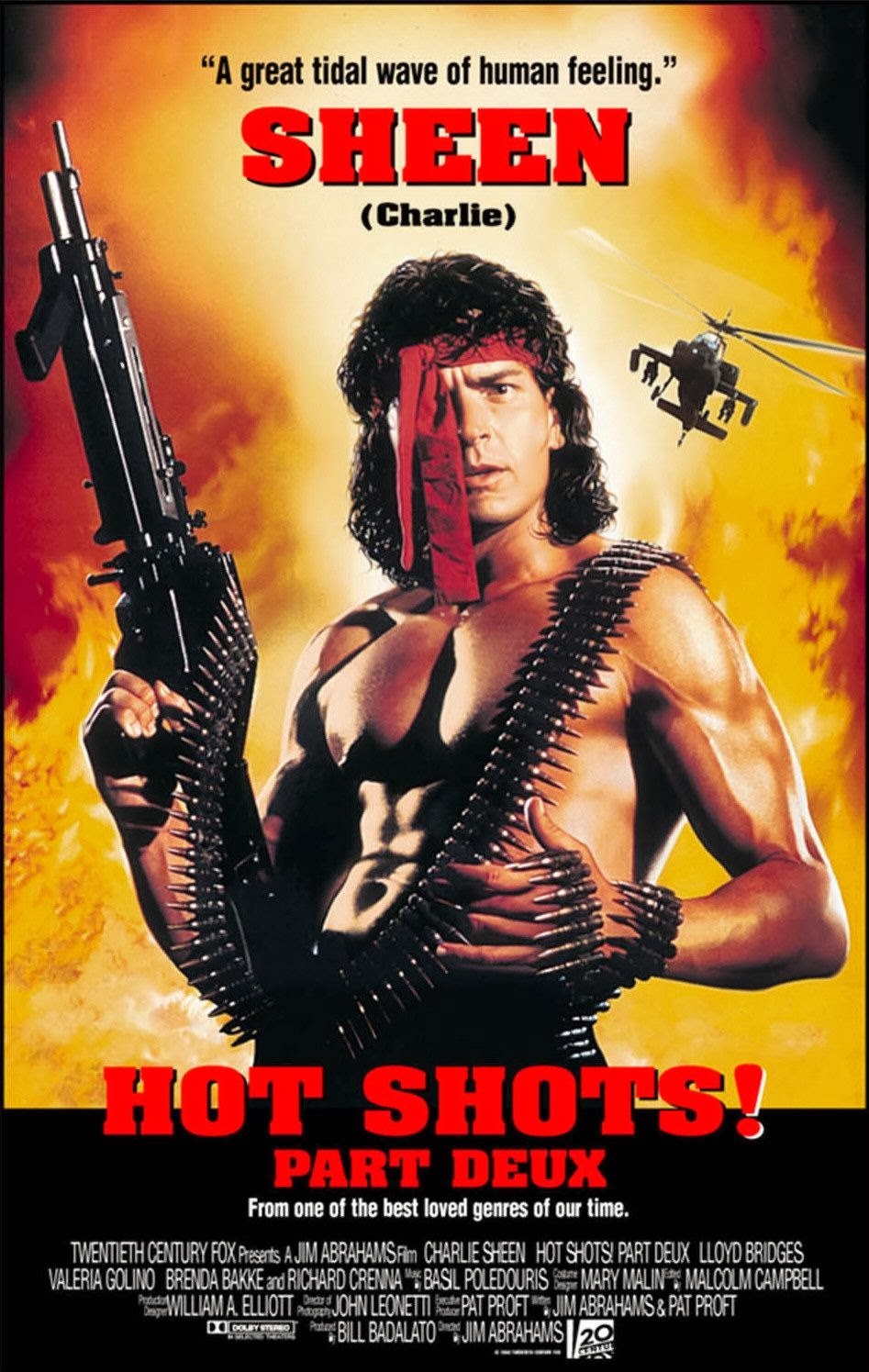Após trabalhar no roteiro de Kubo e as Cordas Mágicas, e no departamento de arte de Noiva Cadáver e Coraline e o Mundo Secreto, o diretor Chris Butler – o mesmo que fez Paranorman – retorna ao cargo de diretor, no épico de aventura Link Perdido, um filme divertido e inteligente, que começa com o bravo personagem Sir Lionel Frost desbravando as paisagens onde tradicionalmente se fala que há criaturas mitológicas. Já nesse início se percebe o grande esmero da produção em utilizar animação ao estilo Stop Motion, claro, com altas pitadas de arte digital mas respeitando a estética antiga de desenho.
A trama é bem simples, Frost é um sujeito abastado, destemido, mas que não se aceita direito, pois enxerga num clube de aristocratas o ideal para si, e põe na cabeça que mesmo com as rejeições, entrará lá. Nesse meio tempo, ele recebe uma carta, escrita a mão e viaja pelo mundo atrás de provas de que o Pé Grande existe, tudo para conseguir a aceitação do tal clube e dos personagens vilanescos, sem perceber claro que essas pessoas tem falhas de caráter enormes.
O roteiro de Butler consegue tratar bem de assuntos maduros, como vaidade, egocentrismo e carência emocional, além disso, tem críticas sutis, como a demonstração de que as cidades grandes da Grã-Bretanha eram sujas e cheias de lamas nos séculos passados, não muito diferente do que se vê no século XX e XXI. Da parte florestal do drama, a introdução do personagem “monstruoso” é muito curiosa, não se demora a desenvolver nem o carisma do mesmo – que é nomeado de Link, mas que escolhe um nome bem curioso para si, depois – e nem a estranha amizade entre o explorador e o Sasquatch. Os dois vão ensinando um ao outro como viver, e cada acréscimo de outros personagens é muito acertado, certeiro e econômico.
A animação é de uma beleza ímpar, especialmente no que tange os bípedes. O detalhe, expressão e movimentação dos personagens é muito bem feita. Da parte brasileira, a dublagem é muito bem encaixada, exceção ao tolo uso de gírias atuais, não tão abundantes ao ponto de deixar a versão do filme muito datada. O stop motion nos combates funciona muito, assim como o largo uso de gravuras digitais para os cenários míticos do Shangri-la.
A historia é bem econômica, até a sub trama romântica não demora a se desenvolver, fato que a faz parecer mais crível e aceitável. Não há forsação sequer quando se fala em aceitação e a busca por pertencimento, nem quando se discute o excesso de ego do personagem principal humano. Da parte dos antagonistas, também há um belo trabalho de construção visual, e que encaixa muito bem com os dubladores brasileiros. Todos esses fatores aumentam demais a boa ideia de mostrar os choques culturais e como funcionam as sociedades, sejam as humanas ou as de outras criaturas, que primam normalmente pela exclusão, infelizmente.
O humor de Link Perdido é muito mordaz, não trata o espectador como bobo, e a jornada do herói não cai no óbvio, ao contrário, boa parte da trajetória só é rica por perverter expectativas, até mesmo o clichê de que certas coisas devem permanecer intactas e sem a interferência do homem é discutida, e toda a questão de preconceitos é muito bem explanada. O desfecho mesmo mantendo um gancho para futuras continuações é bem auto contido, e fortalecem a ideia de que este é um passatempo aventuresco, singelo e até escrachado quando precisa.