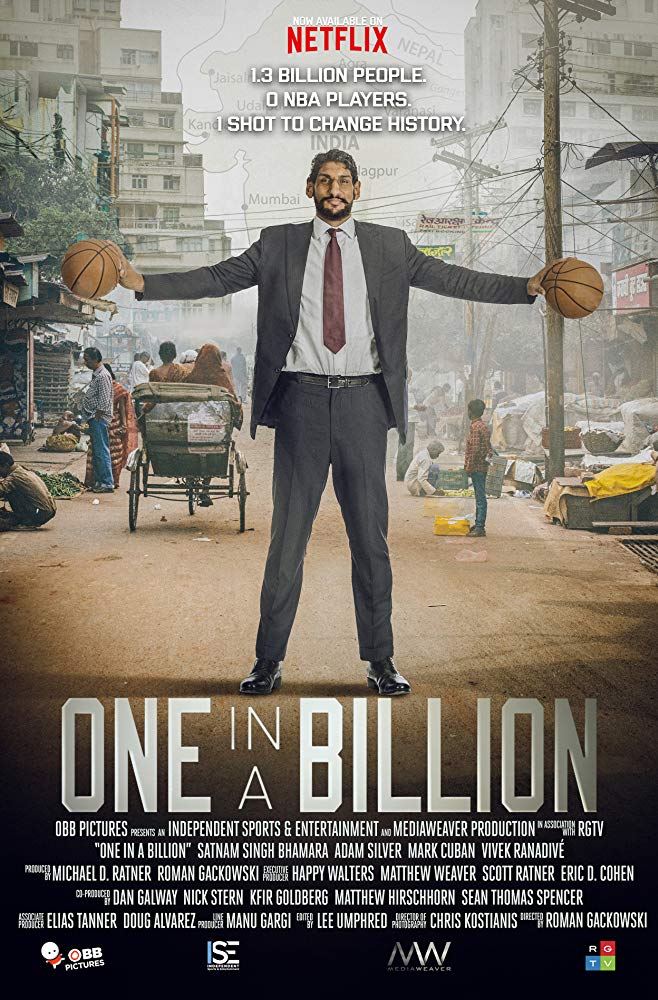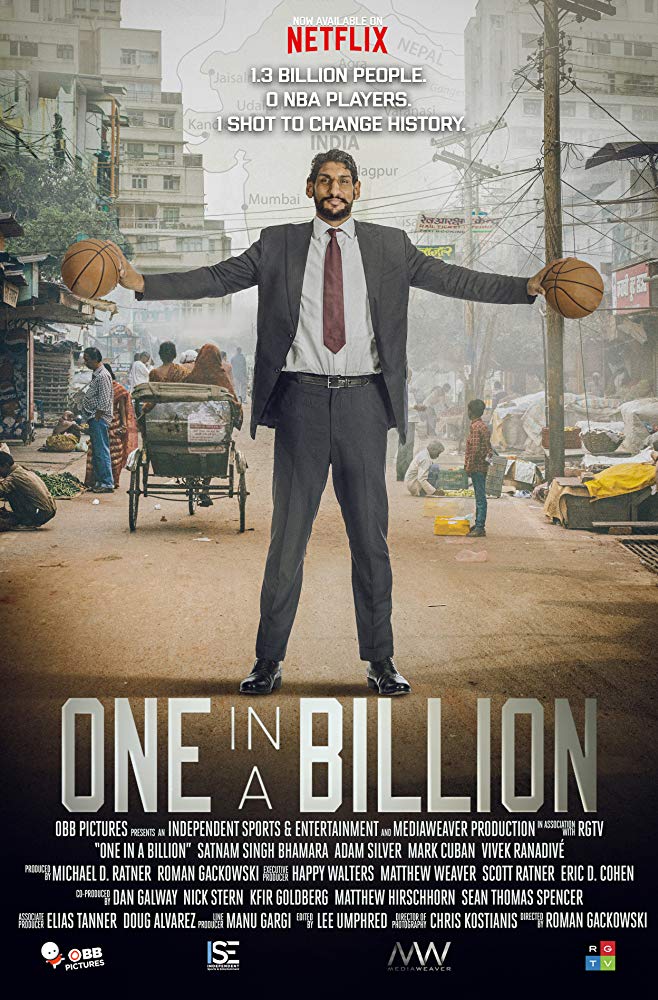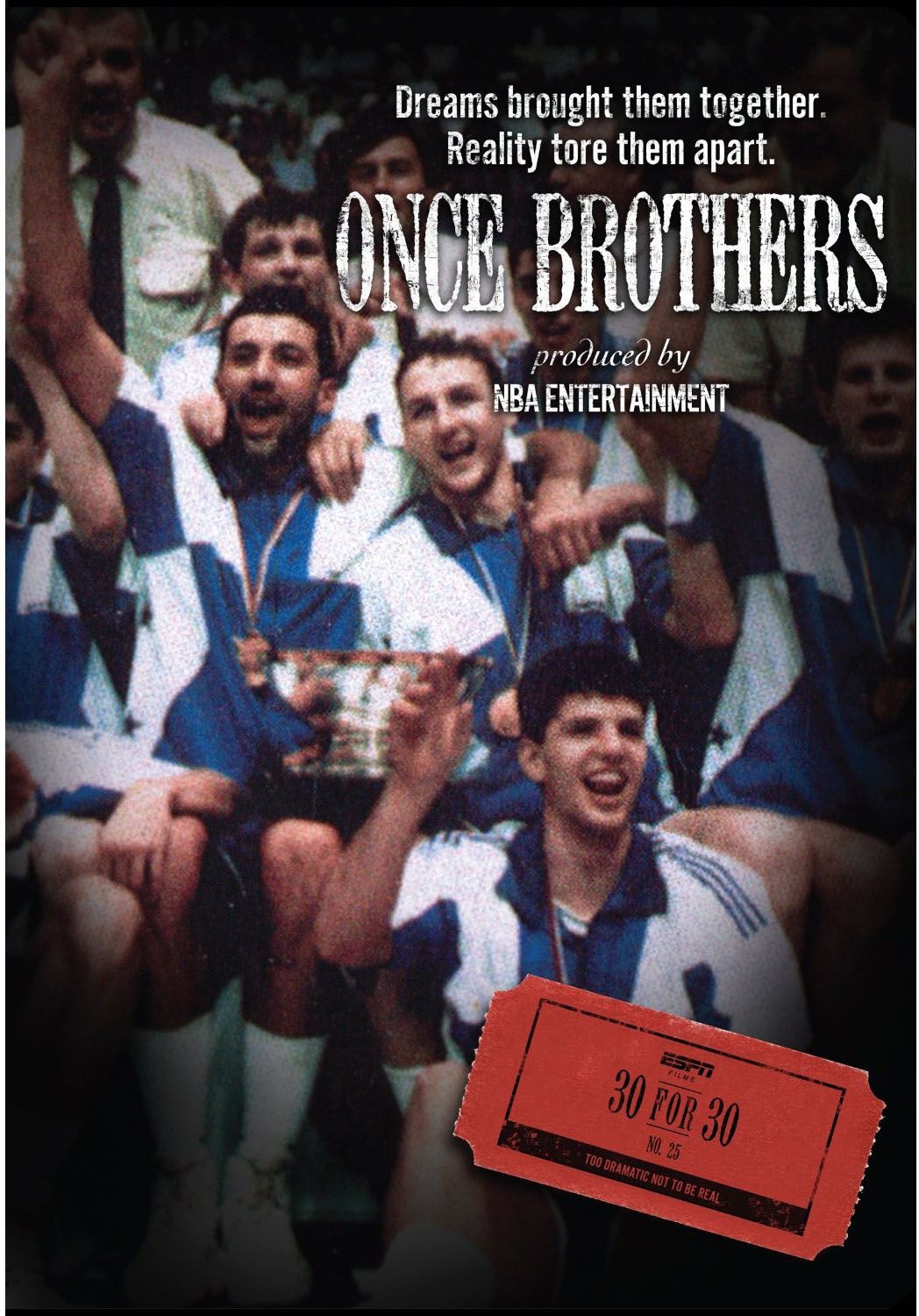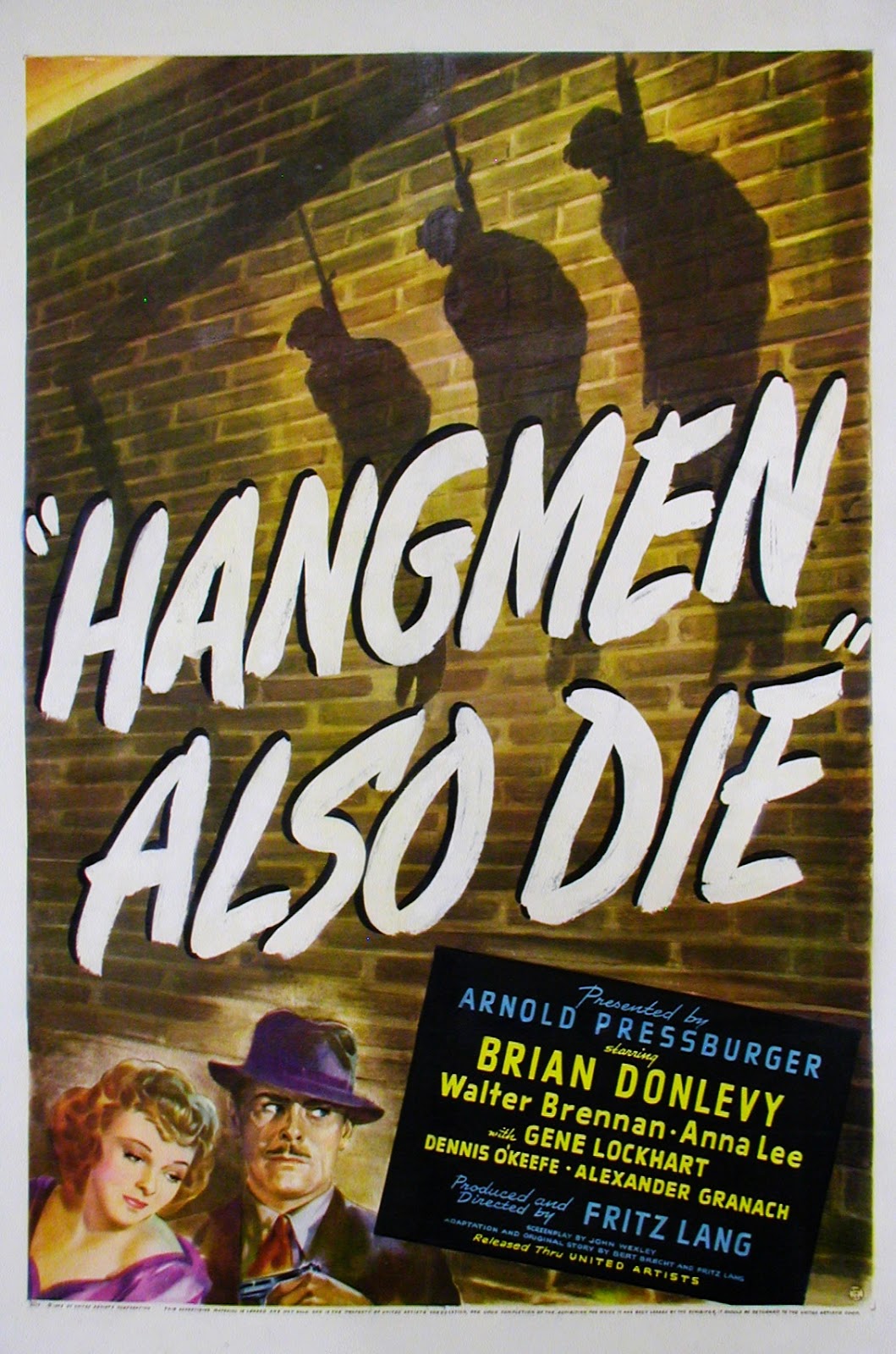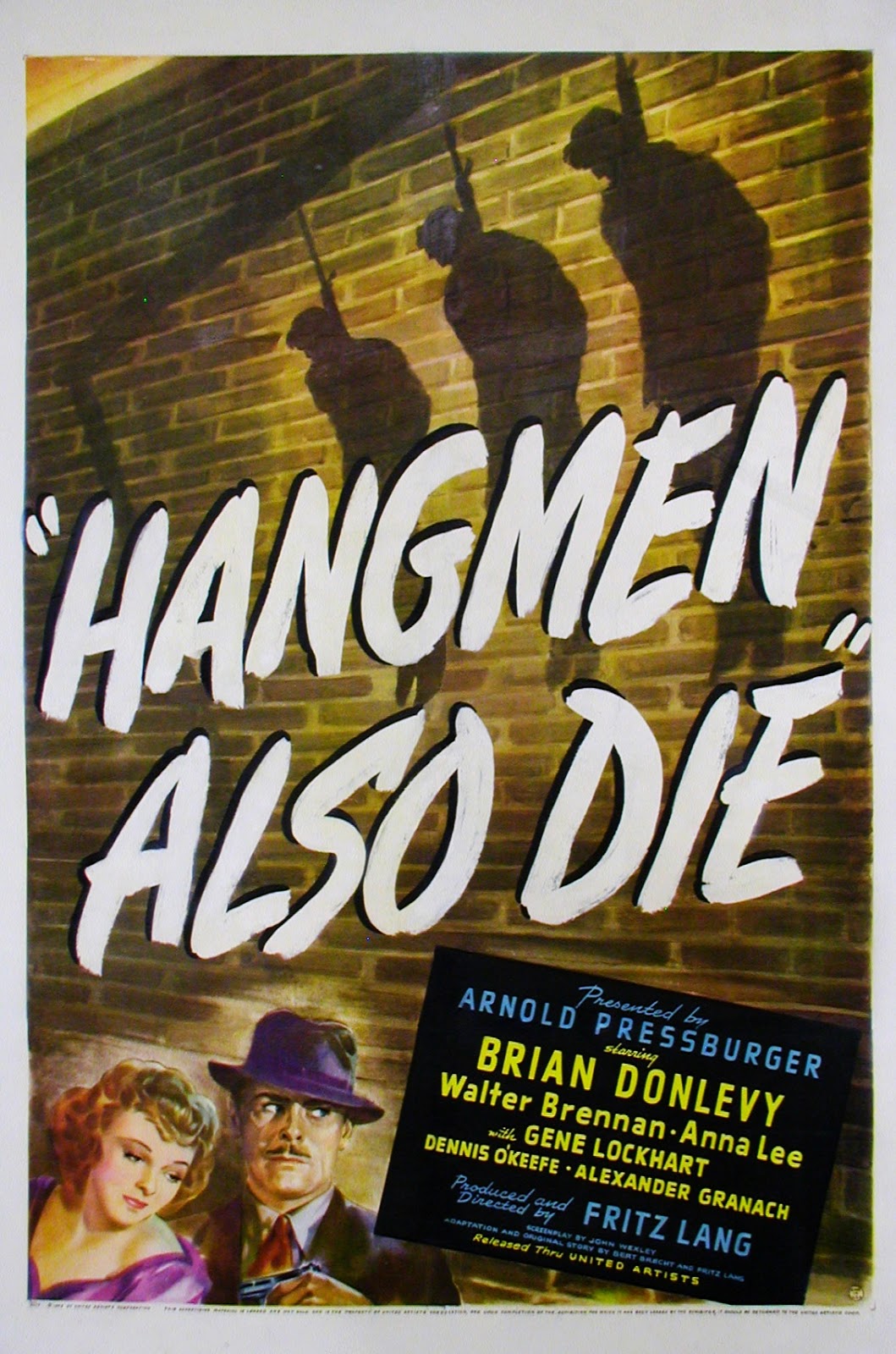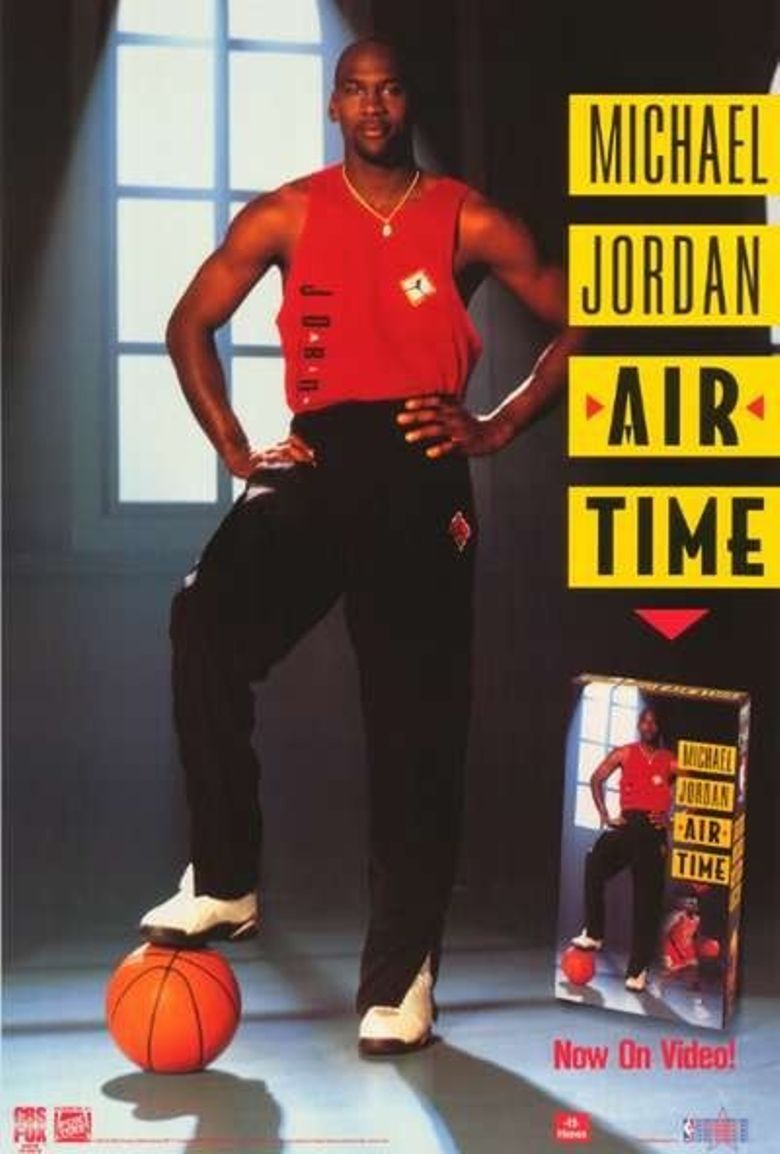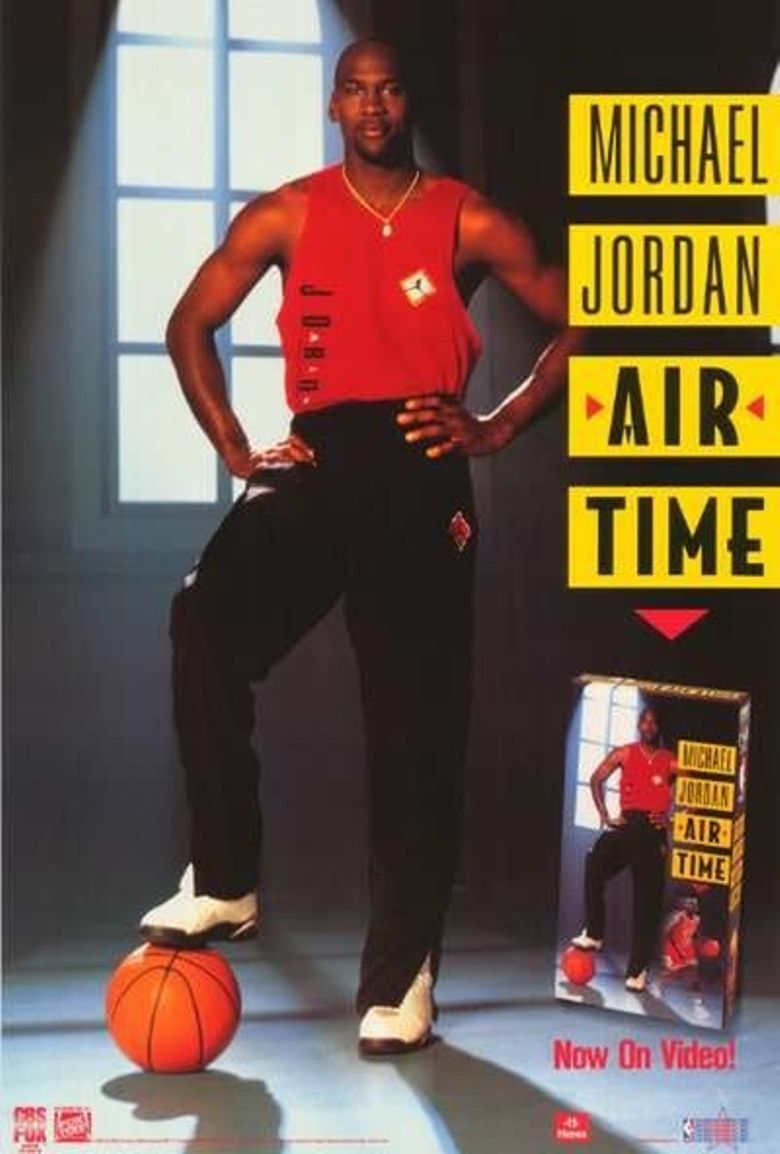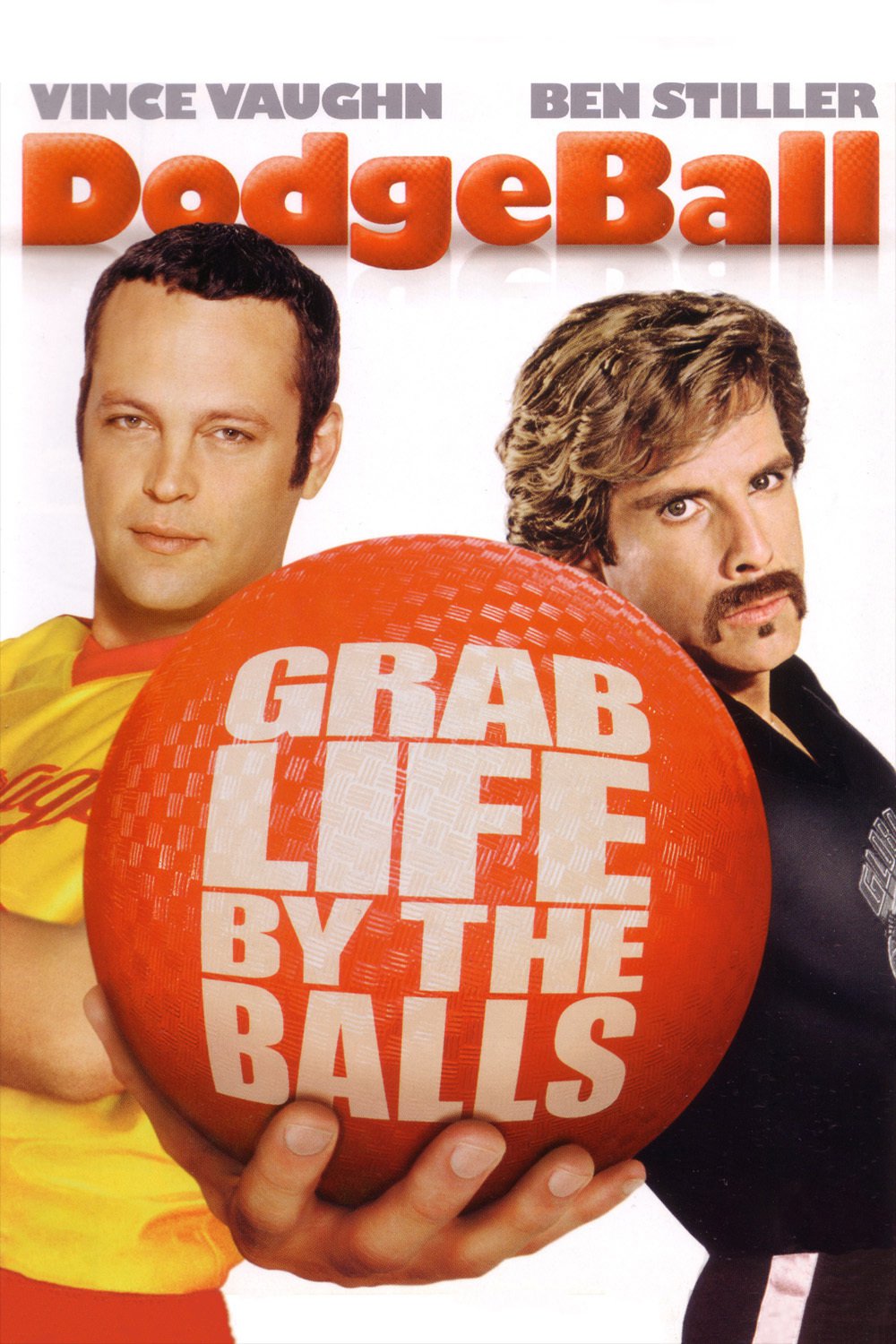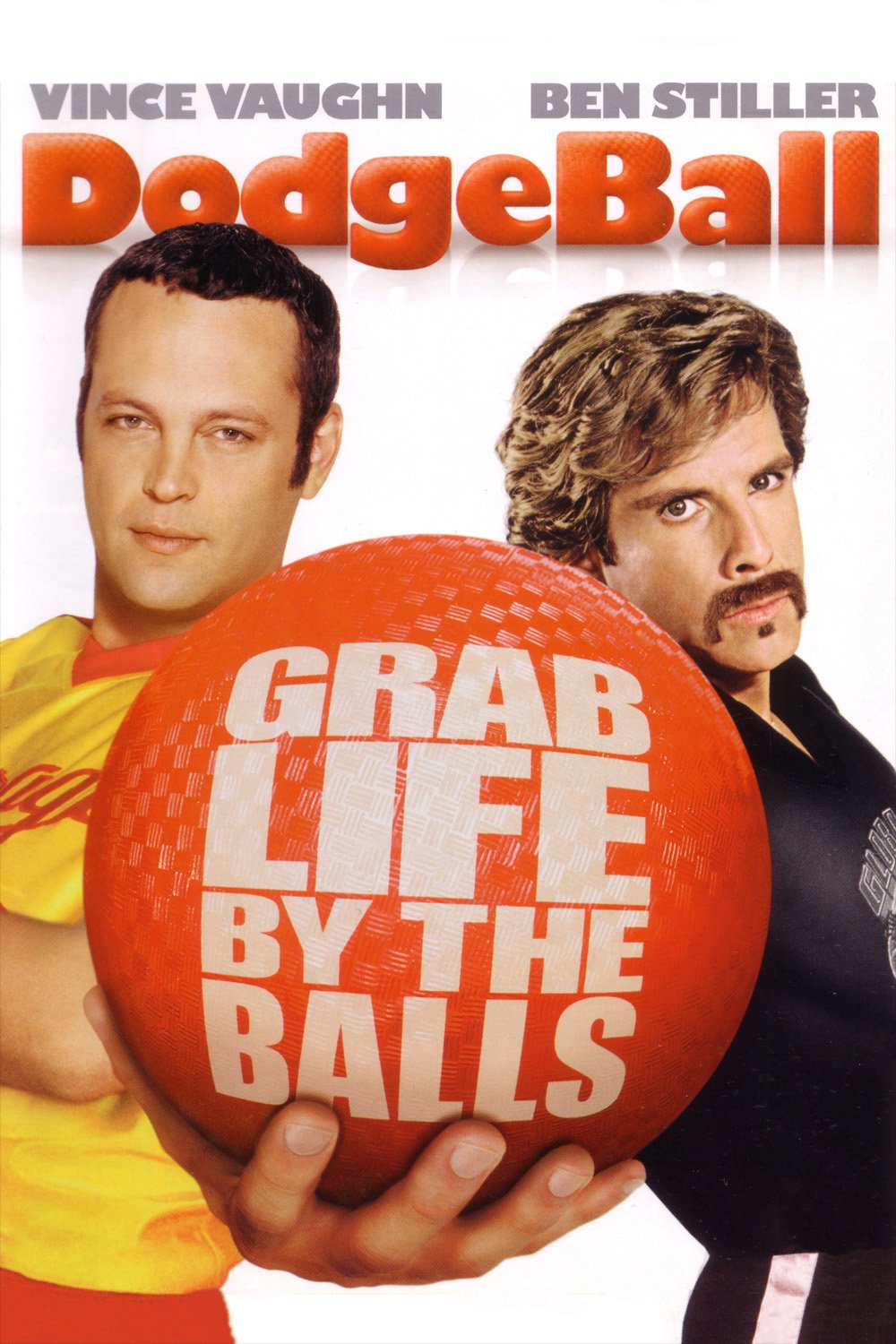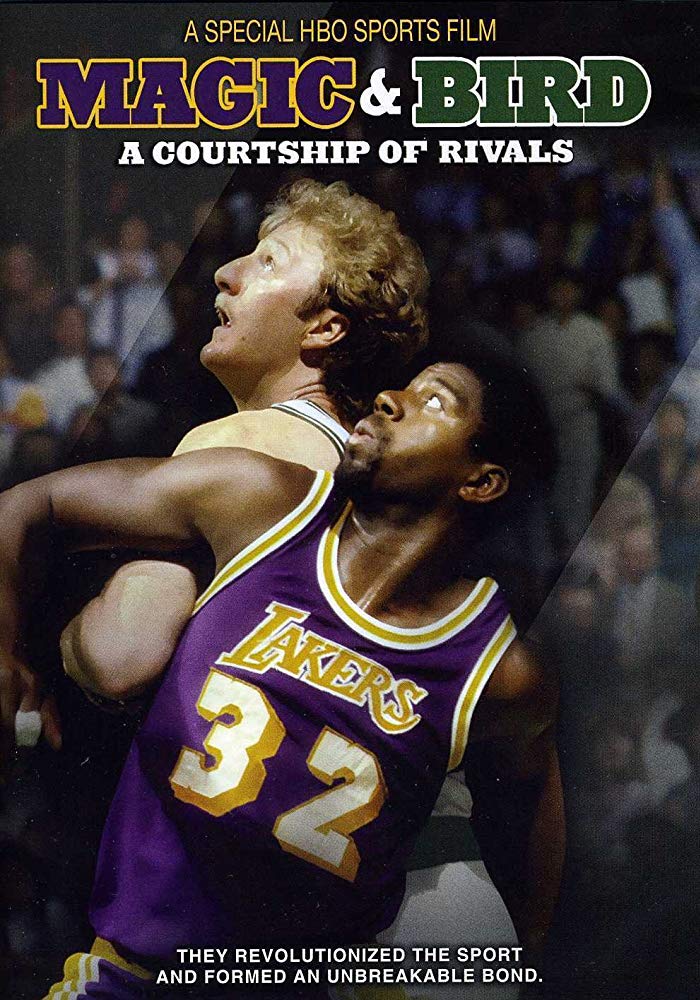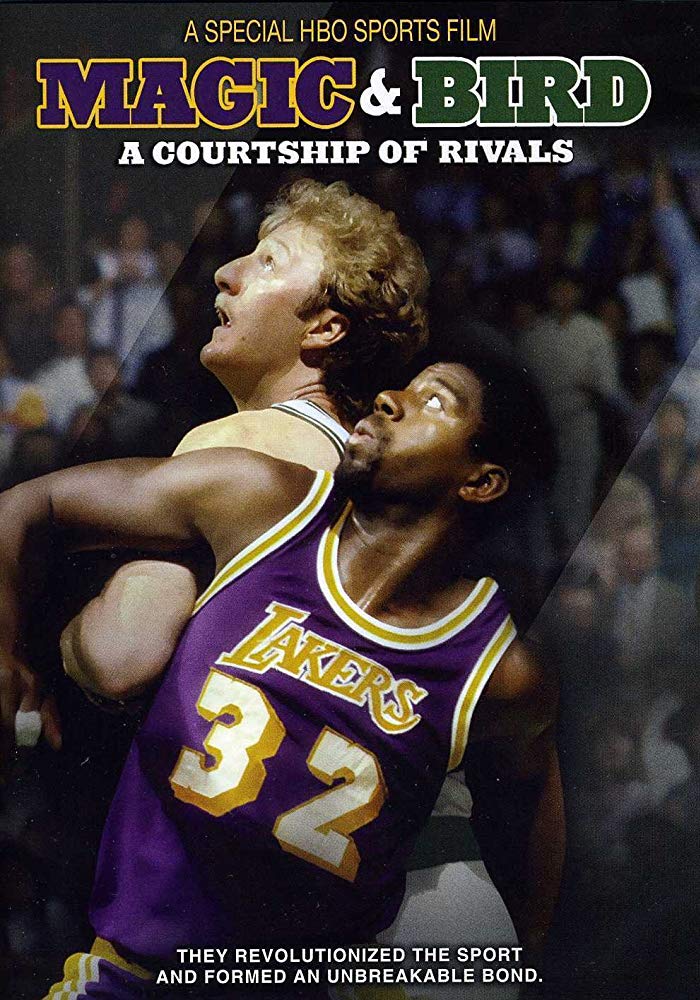Produção da Touchstone, a versão do estúdio Disney que lançava filmes que não cabiam tão bem na sua divisão comum de filmes, O Sexto Homem é uma obra que usa o esporte do basquete como pano de fundo para sua historia engraçada e dramática. O inicio do filme de Randall Miller mostra James Tyler (Harold Sylvester), pai dos pequenos Kenny e Antoine assistindo um jogo mirim de basquete, onde um dos meninos tem medo de arriscar um chute embaixo do garrafão, basicamente por insegurança.
Kenny e Antoine Tyler crescem, se tornam Marlon Wayans e Kadeem Hardison, e viram promessas de craques, que jogam juntos no Washington Huskies, já sem a companhia de seu pai, que faleceu nesse meio tempo. Os dois permanecem são bem unidos e mantém vivo o sonho de seu pai. Em um jogo decisivo da temporada universitário, Ant após enterrar uma bola, cai no chão e sofre um ataque cardíaco, falecendo e causando em Wayans uma reação emocional diferente das que normalmente o humorista faz, mostrando uma faceta mais séria e sentimental do mesmo, isso um pouco antes de Sem Sentido, filme que o marcaria basicamente como um sujeito engraçado e com capacidades de interpretação bem limitada.
Coisas estranhas passam a acontecer, na quadra dos Huskies, bolas somem, o jogo de Kenny melhora mesmo ele estando extremamente mal e depressivo após a despedida do irmão, e então o filme mostra uma ação sobrenatural tosca e ao mesmo tempo engraçada, mesmo quando apela para o besteirol. Sem muitos motivos ou consequências graves, Ant retorna para “assombrar” seu irmão, e começa a ajudar ele, sobretudo na hora dos jogos, e o filme vira um autêntico longa dos irmãos Wayans (aliás, Shawn Wayans quase fez Antoine nesse filme), dando vazão a piadas físicas terríveis, com direito a gente voando, perucas de comentaristas se levantando sozinhas, e bloqueios e faltas cometidas pelo fantasma.
A partir daí o filme se perde bastante, há muito espaço para piadas sobre tamanho de pênis, ou interferências do irmão no encontro do outro. O cúmulo é quando Antoine entra na bola de basquete, que ganha olhos, boca e fala. No entanto o que faz pouco ou nenhum sentido é que quando era vivo, Ant era muito mais discreto e menos imaturo do que prova ser no além vida, e aqui o roteiro de Christopher Reed e Cynthia Carle basicamente serve para Marlon agir como um perfeito imbecil, que se molha com a água de seu copo.
Mesmo as reclamações do time, de que antes de Antoine morrer ele era individualista e egoísta não fazem muito sentido, embora ele seja claramente mais vaidoso que o caçula. Os momentos em que ele realmente parece isso, vem da infância, quando Kevin era inseguro demais para se arriscar nos chutes. O final dele é bastante piegas, a exemplo de toda a exploração temática, e há pouco de positivo neste O Sexto Homem, exceto é claro pelo início, que é mais sério, e essa mudança de gênero é esquisitíssima, não há muita lógica nisso, e foi um dos primeiros filmes besteirol envolvendo alguns dos Wayans, que piorariam muito dali para frente.
https://www.youtube.com/watch?v=5p7Hg2nOY40