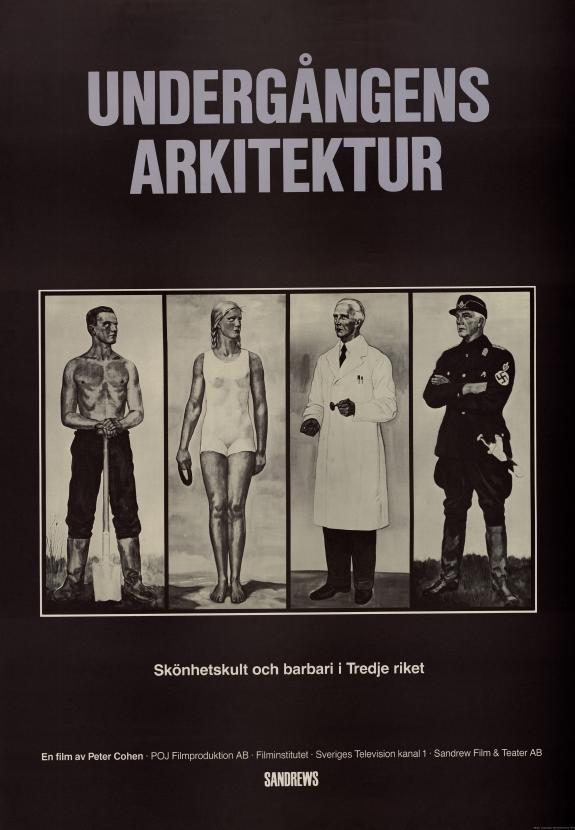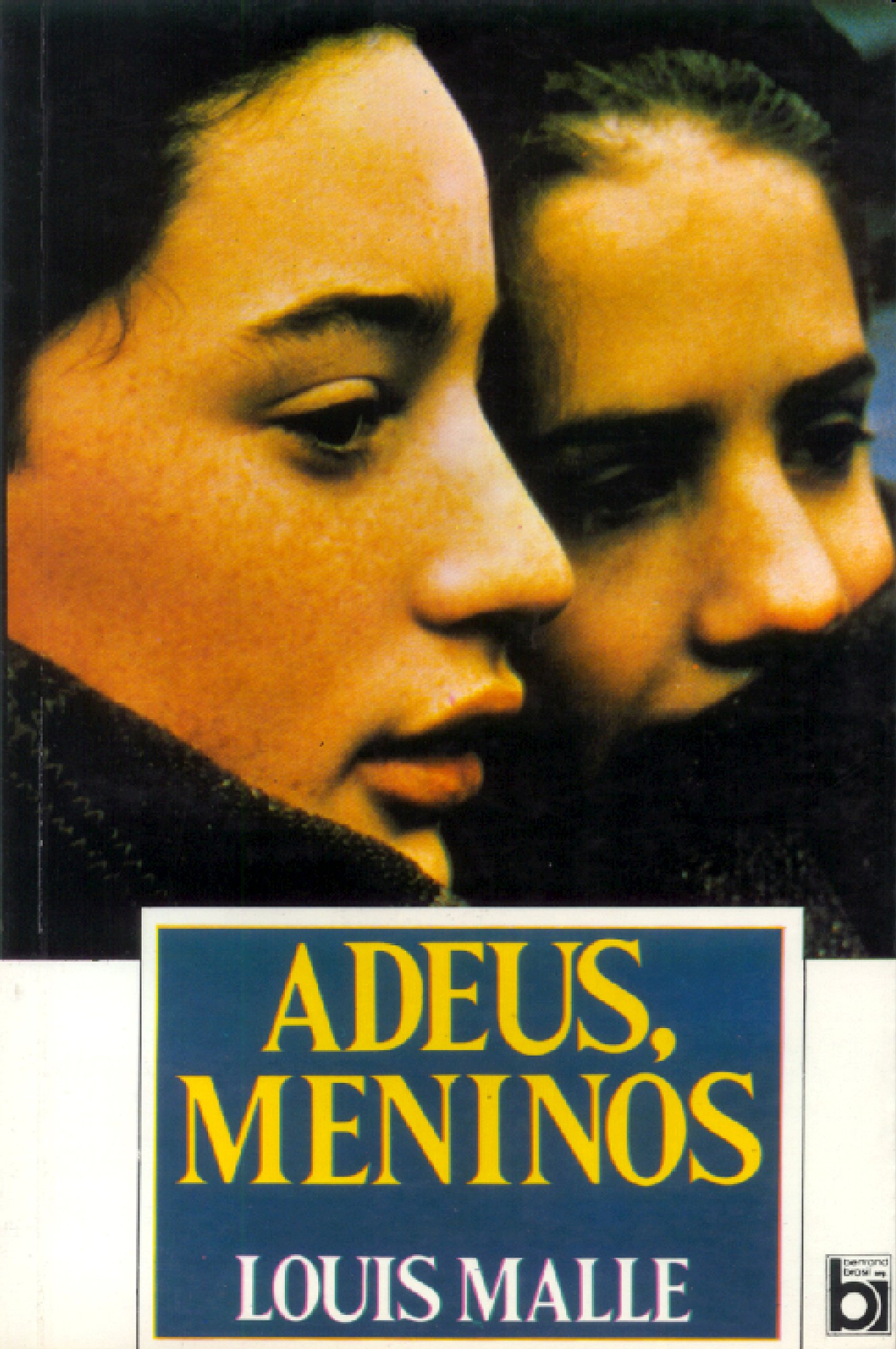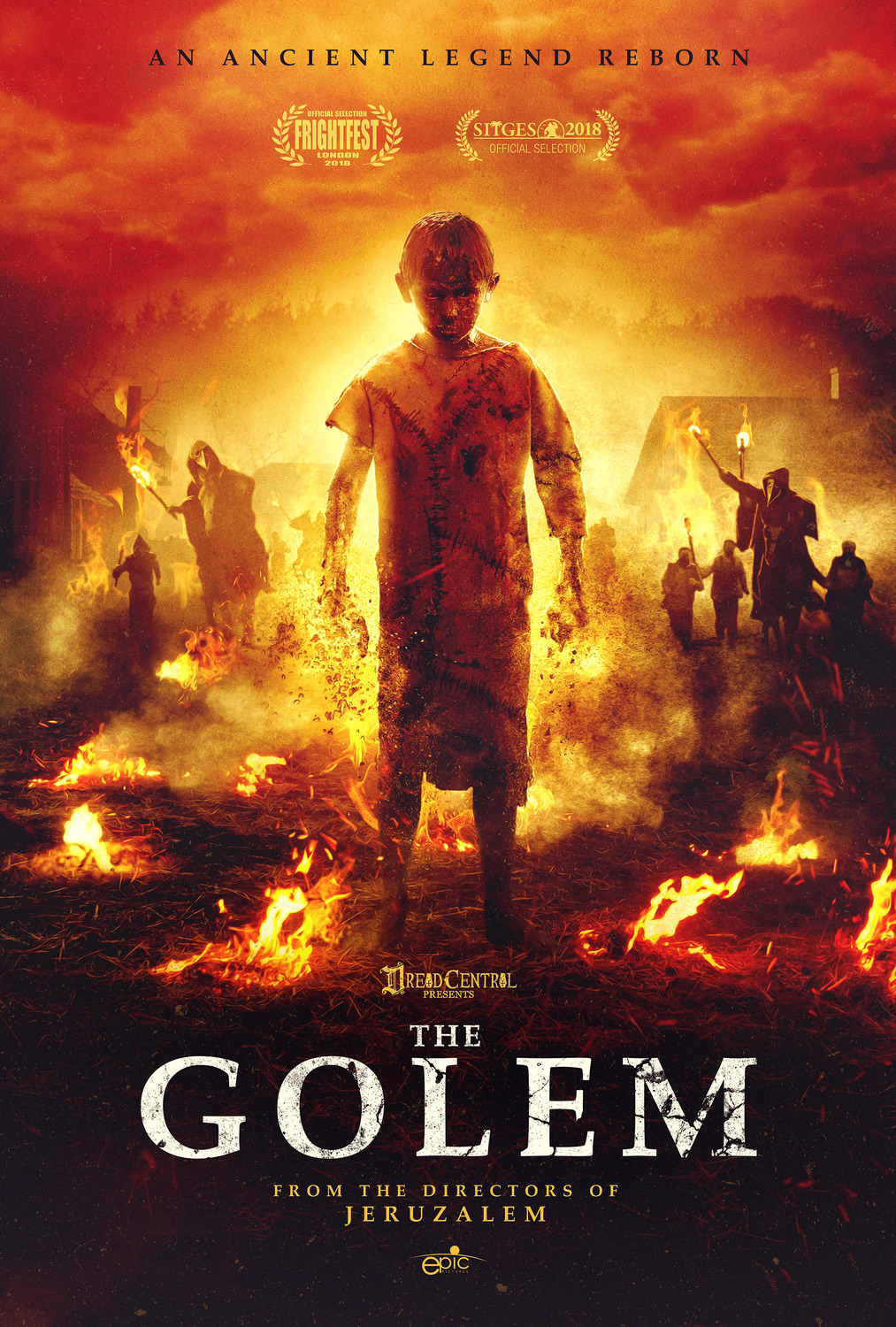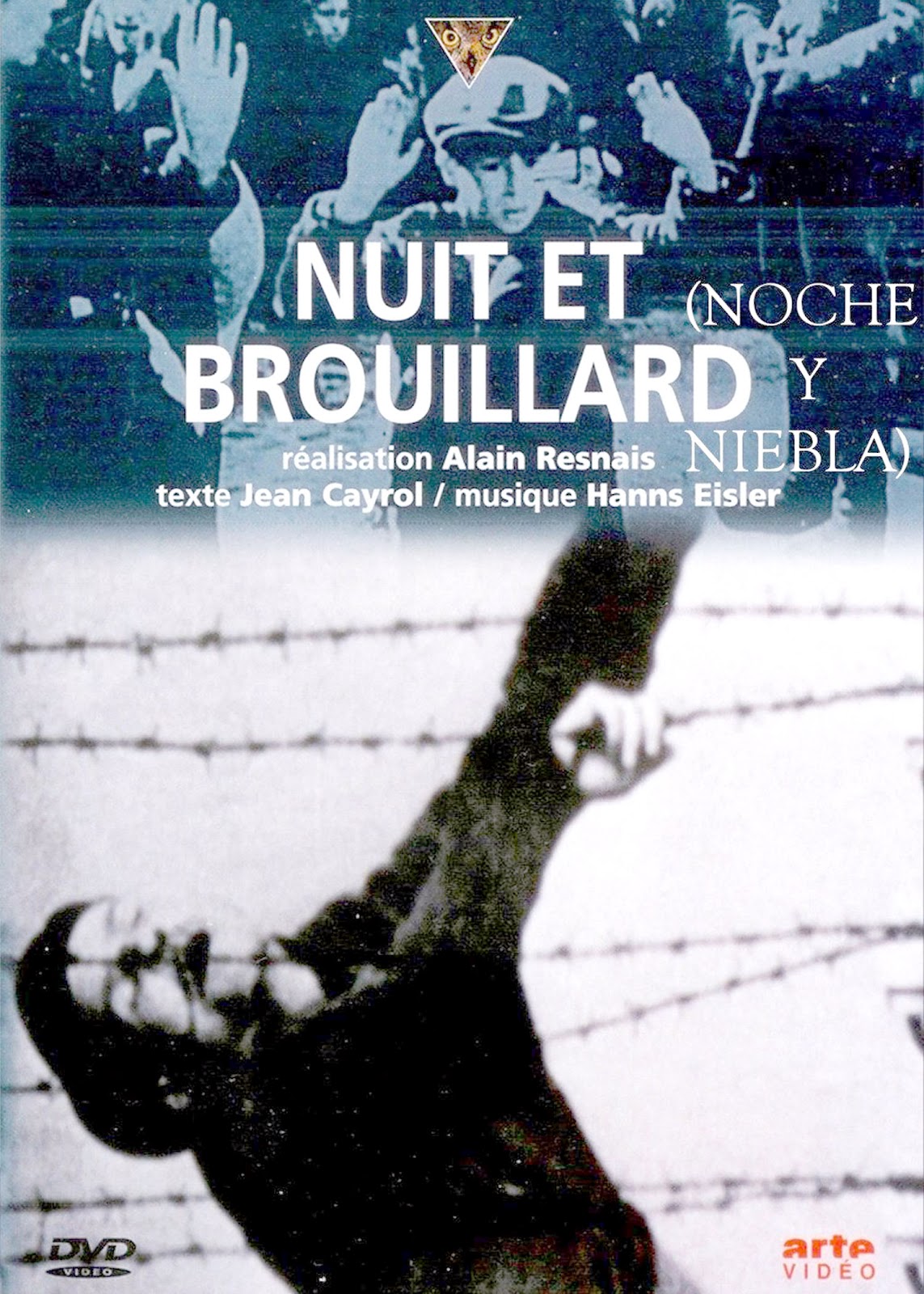Duas décadas após seu lançamento, Matrix continua atual em linguagem e temática, embora se baseie demais no conceito de Complexo de Frankenstein – tão criticado por Isaac Asimov. As primeiras sequências de ação envolvem Trinity (Carrie-Anne Moss), que após se ver cercada diante da polícia, consegue se desvencilhar facilmente através de golpes graciosos, que desafiam a gravidade e maximizados pelo bullet time de das irmãs Lilly e Lana Watchowski.
A ação ainda melhoraria consideravelmente com o acréscimo dos agentes liderados por Smith (Hugo Weaving). Após a fuga da moça, o vilão já sabe da existência de Neo antes mesmo dele aparecer. Quando o protagonista messiânico surge já estão estabelecidas as referências visuais da série. Aliás, importante que se diga, as referências com o cristianismo em Matrix só não são mais manjadas e amplamente conhecidas quanto o didatismo da “Jornada do Herói”, de Joseph Campbell, no entanto, outra temática fica de lado a quem normalmente analisa este roteiro. O Complexo de Frankenstein está posto como pilar da história, e nada mais natural, afinal se trata de um conflito entre humanos e máquinas, mas o conceito da matrix envolve um simulacro mantido por inteligências artificiais que propiciam algum conforto a quem é escravizado, mesmo que esse conforto seja moderado, e como o domínio dessas máquinas é total e a infiltração dos agentes é facilitada por conta das regras do jogo, todos são potencialmente inimigos. A invisibilidade desses inimigos não só faz eco com a Guerra Fria, encerrada quase uma década, mas evolui a paranoia.
A jornada rumo a verdade continua cheia de simbolismos, a mansão antiga e deteriorada é repleta de escadas empoeiradas, como os castelos antigos típicos das historias medievais. O encontro com o mentor – Lawrence Fishburne – prossegue repleto de falas e enigmas, desafios de inteligência e fé ao escolhido, que precisa provar não só aos outros o seu valor, mas a si mesmo. Cada simbolismo dentro do simulacro tem uma resposta prática no mundo real, como o paralelo das pílulas com o sinal que é emitido do recém liberto da ilusão para a nave de fuga, no caso a Nabucodonosor, comandada por Morfeus e seus tripulantes.
A cena em que Neo finalmente se liberta das amarras da Matrix se dá em outro simulacro, onde luta contra Morfeus após “aprender” kung fu – chega a ser cômico que os homens e mulheres a bordo da Nabucodonosor se reúnam para assistir a luta em um painel de algoritmos. A questão da paranoia se agrava em outro treinamento, onde o mentor explicita o óbvio: se uma pessoa não é um liberto, é obviamente um deles. Ainda que tenham aparência e física humanas, eles ainda são codificados, é preciso demarcar essas diferenças na cabeça do público e de Neo.
Matrix conta com momento memoráveis, como a visita ao Oráculo que faz com que Neo se desiluda dos delírios de grandeza e sofra uma provação, mas a lição prática que sofre, ao conversar com um menino sobre como entortar colheres e o quanto elas são reais funciona melhor na prática. Mesmo que no momento seguinte ele não use isso a seu favor no momento seguinte. O momento da luta no banheiro é um dos ápices de cenas do tipo, seja pelos detalhes bem pensados pela direção de fazer a tentativa de fuga de Neo pelas paredes, reverberando na queda dos azulejos na parte de fora como também na troca de golpes entre Morpheus e Smith, onde os socos secos são fortes o suficiente para quebrar paredes, mas não o suficiente para matar o líder dos rebeldes. A poeira caindo sobre a pele deles mostra o quão humanos e falíveis podem ser os personagens, embora Weaving só esteja assim por sua contraparte no filme estar imitando a condição de ser humano. A conversa entre os dois sobre as versões antigas da Matrix onde todos eram felizes é bastante profunda para um filme dessa natureza.
A sequência dos tiros ao entrar no prédio, com o futuro casal destruindo absolutamente tudo que anda e respira impacta mais pelo prejuízo ao cenário do que pelas mortes e pelos efeitos especiais em si, pois para Trinity e Neo foi tudo muito fácil. O uso indiscriminado da câmera lenta faz lembrar os clássicos de Sam Peckinpah, um especialista em faroestes modernos. A luta no metrô é muito bem coreografada e estava lá o embrião do que Chad Stahelski (dublê de Neo à época) e David Leitch fariam em De Volta ao Jogo e seus filmes posteriores. As frentes de batalha remetem a Star Wars, onde as lutas entre Jedi e Sith passam ao mesmo tempo que as batalhas espaciais, aqui mostradas entre o Kung Fu dentro do simulacro e as Sentinelas tentando destruir a Nabucodonosor.
Neo precisou perecer para assumir finalmente sua condição, em mais uma referência óbvia ao cristianismo, mas o simbolismo é ainda mais universal, representando qualquer possibilidade de que a salvação da humanidade viria dela própria. Ainda assim, o que as Watchowski fizeram foi um trabalho hercúleo, e que jamais se imaginou funcionar tão bem, desde a trilha sonora repleta até as doses de filosofia oriental.