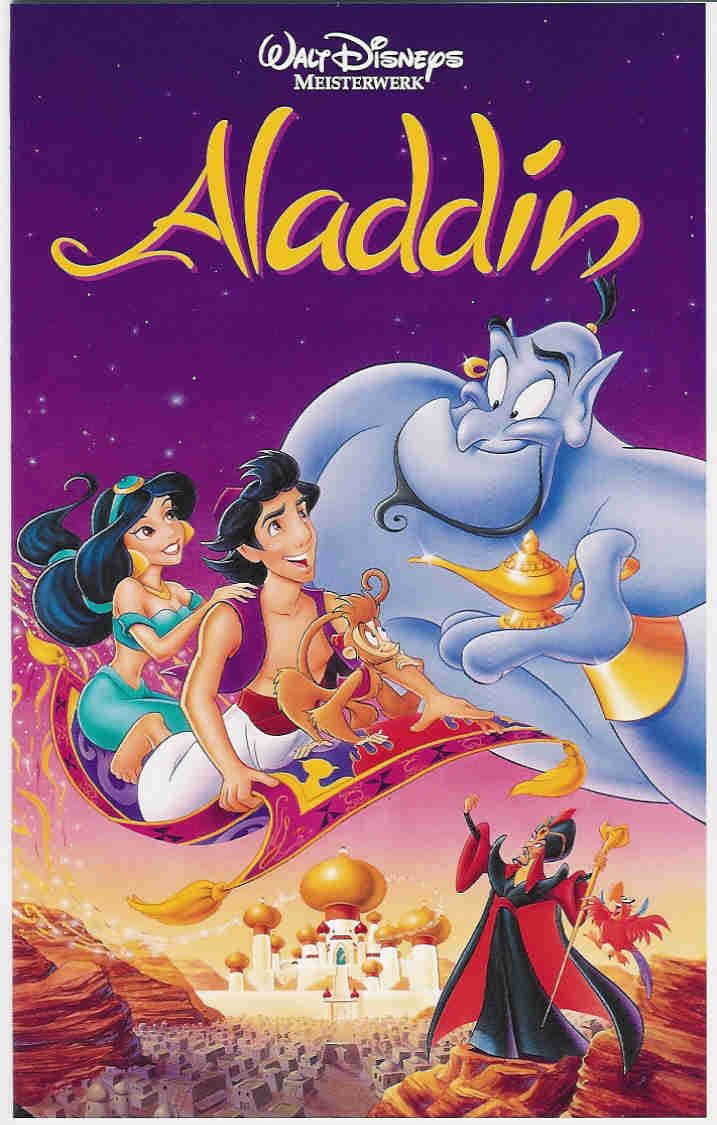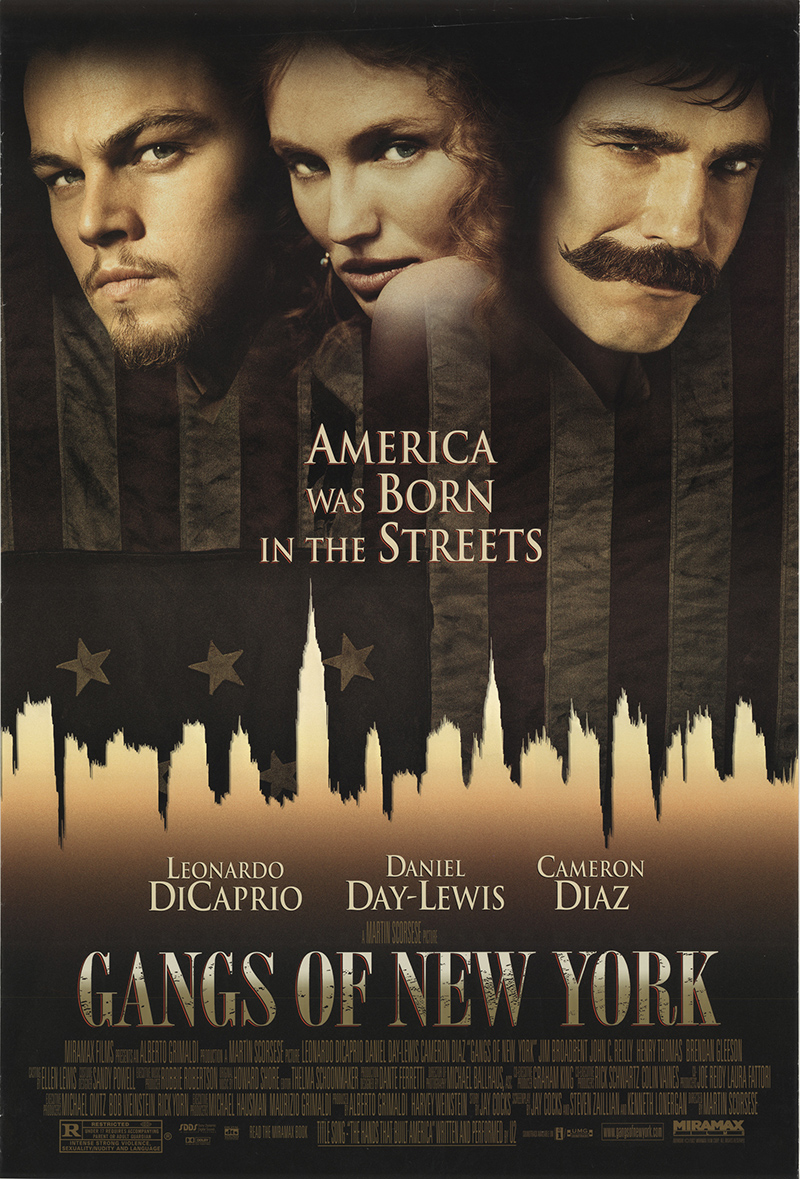O terceiro capítulo da franquia X-Men começa no passado, mostrando duas crianças que faziam parte do quinteto inicial de mutantes treinados por Charles Xavier e Magneto, em uma versão rejuvenescida Patrick Stewart e Ian McKellen terrivelmente animados e artificiais de um modo assustador. Sem saber, Brett Rattner condenaria seu filme e seria mais lembrado por esses erros crassos do que pela boa ação que em alguns momentos apresenta.
X-Men: O Confronto Final parece a receita de um bolo que não deu certo, apela para uma questão densa em seu início, depois tem momentos de ação bem filmados em uma luta com Sentinelas, mas que não vale de nada, pois ocorria numa simulação dentro da Sala de Perigo – que mais parecia o holodech de Jornada nas Estrelas: A Nova Geração, série que também tinha Stewart como líder dos heróis – e por mais infame que soe a insinuação de roubo de tecnologia do Capitão Picard para seu grupo de mutantes, certamente é algo menos desequilibrada do que a construção feita no começo deste filme.
Uma versão de Hank McCoy é apresentada, e coitado de Kelsey Grammer, seu intérprete, que tem que agir como um macaco de circo, que lida com as questões do governo relacionadas aos mutantes, como secretário dessa pasta específica. Se as autoridades agem de modo bizarro, o núcleo escolar também, Scott (James Marsden) não superou o luto, mas Marie (Anna Paquin) não, ela age como uma adolescente em fúria, que involuiu de X-Men 2 para este. Mesmo a líder tática Tempestade é desequilibrada, parecendo mais uma criança, para desgosto de Halle Berry, que acreditava que teria um melhor papel nesse.
Nada justifica a saída de Noturno do elenco (nem a presença de Fera) ou a participação de Ciclope, basicamente porque Marsden aceitou um papel no Superman: O Retorno de Bryan Singer e teve um conflito de agenda. No caso do primeiro, o motivo oficial dado era que Alan Cumming faria uma pequena participação, mas o processo de maquiagem era caro e demorado demais para utilizar em uma cena tão curta, mas o que mais se falou na época é que o público o confundiria com McCoy. No game oficial do filme, se afirma que Wagner abandonou os X-Men por não querer uma vida tão pouco pacífica quanto a de um X-Man. Se houvessem gasto algumas palavras nisso, certamente faria mais sentido.
Há outra grave adaptação, os Morlocks são reduzidos a um grupo de mutantes que usam roupas da moda, tatuados e que adora fazer amostras gratuitas de seus poderes. O visual neo punk não combina sequer com Callisto (Dania Ramirez), mas piora demais com o restante. Todo o retorno ao Lago Alkali, onde ocorreu a ação do filme anterior é equivocada, primeiro pelo retorno de Jean, que traz uma Famke Janssem com cabelos maiores e mais bela, com uma crueldade primária e inexplicada. Dito assim esses momentos soam patéticos, mas certamente não chegam nem perto da vergonha alheia que a cena em si provoca no espectador mais atento. É tudo muito mal construído, mal orquestrado e ofende até o bom desempenho da personagem no outro episódio da franquia.
O terceiro longa da série de mutantes não sabe que história contar, e erra em todos os campos que atua. A ideia da cura mutante deveria ser melhor trabalhada, de preferência por um diretor que não fosse especialista apenas em filmes de ação. Não há profundidade, drama ou qualquer grau de complexidade, apenas simplismo. A ideia do doutor Worthington é tão frágil que nem seu filho acredita nela, e aparentemente não é definitiva, visto a cena do xadrez que envolve Magneto no final, além disso, o máximo que se discute a respeito da controvérsia e da opinião pública mutante é que alguns são a favor e outros contra, nada mais é desenvolvido.
A redução de personagens inclui até Magneto, que em troca de ter mais capangas capazes de falar frases de efeito, abre mão de sua companheira Mística após salvá-lo. O vilão está longe de ser um personagem bidimensional capaz de abandonar sua antiga e mais fiel amiga à toa. Rattner não parece ter conhecimento disso. Tudo que envolve o retorno dos amigos mutantes a casa da pequena Jean é de fato a parte mais podre desse bolo azedo. O fim do Professor X, a transmutação que faz com que Janssen pareça um boneco zumbi, o acolhimento de Magneto, as falas do Fanático, é tudo muito digno de risos, assim como Wolverine ajoelhado, chorando, consolado por Ororo, tudo pífio de um jeito que é impossível não se irritar.
Lady Letal, Groxo e Dentes de Sabre são três exemplos de personagens introduzidos nos filmes de mutantes para protagonizar bons momentos de ação, mas cada um deles é bem justificado ao menos, ao contrário da montanha de mutantes vistos aqui. É uma sucessão de equívocos, que faz deste filme uma desconstrução de todo o legado que os filmes anteriores tinham, não havia mesmo como continuar a partir desse ponto e a solução que Matt Vaughn encontrou em X-Men: Primeira Classe foi criativa e inteligente.