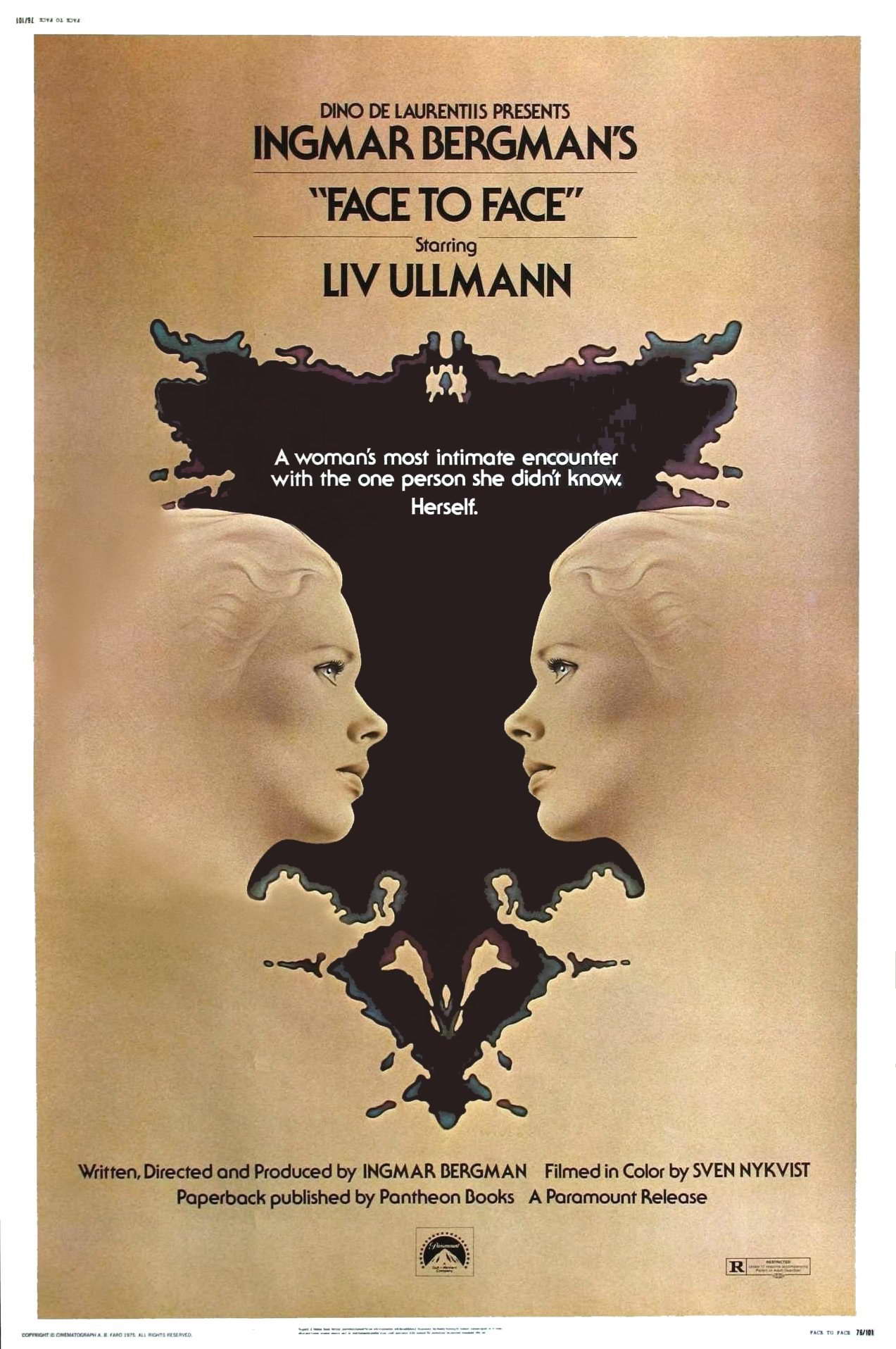O marco um da iniciativa da Marvel em realizar seu próprios filmes contou com um diretor de filmes independentes conhecido por atuar em comédias de gosto duvidoso. Vendo a obra de Jon Favreau nos dias atuais é difícil enxergar como estava sua carreira em 2008, e o começo de seu Homem de Ferro é igualmente diferenciado, nele Robert Downey Jr. tentava se reinventar como ator, no papel do milionário Tony Stark.
O chamado à aventura ocorre após um grupo terrorista interceptar o carro onde Stark era escoltado, para surpresa de poucos, pois o roteiro deixou claro em todo o seu percurso se tratar de uma viagem perigosa, mas o personagem subestimou por completo a situação, como é de praxe em seu comportamento. Já nesse momento se percebe o quão inconsequente e bon vivant é o personagem de Downey Jr., inclusive, deixando seu amigo Jim Rhodes (Terrence Howard) em uma enrascada.
Apesar da faceta engraçada e despreocupada, Tony é mostrado como um sujeito que não permite que as pessoas se aproximem demais, em um misto do que seria a personalidade do personagem criado nos anos 1960, embora tenha um pouco da personalidade de Bruce Wayne/Batman e da ironia de Dr. Stephen Strange, tanto que no filme Doutor Estranho, isso teve que ser de certa forma suprimido. A participação de Downey Jr. foi tão boa e icônica que influenciou até nas versões do herói nos quadrinhos.
Na parte oriental da trama, há alguns problemas, como estigmatização dos árabes como vilões do mundo, apesar de aqui isso ser bem tímido em comparação com outros tantos filmes de ação mais recentes ou do mesmo período, é como se esse fosse um dos últimos grandes filmes há ainda apelar para esse espectro, com o roteiro ainda tendo vergonha de ser assim, tanto que neste momento, ele tem um belo assistente, Yinsen, interpretado muito bem por Shaun Tob. Nos quadrinhos, ele é um dos mentores do futuro Homem de Ferro, mas é chinês (seu nome é Ho Yinsen), no entanto, até essa mudança é plenamente cabível dentro do filme.
Apesar de não ser perfeito, ele funciona como filme de origem bem diferente de outros como Superman, Batman e Homem-Aranha se tornando referência para contar histórias de outros filmes do Marvel Studios, apoiado ainda no equilíbrio entre drama, ação e humor, além do elenco afiado com seus personagens, não só Downey Jr. e Howard, mas também Gwynett Paltrow e Paul Bettany como Peppert Potts e o mordomo eletrônico Jarvis.
O que pesa contra o filme são os vilões. O Obadiah Stane de Jeff Bridges além de desperdiçar seu intérprete já parecia se tratar de um sujeito malvado desde sua primeira cena. O personagem de Faran Tahir também é maniqueísta, sendo somente um capanga ganancioso e inconsequente.
No entanto, as razões que fazem os vilões perseguirem Stark fazem muito sentido, principalmente por toda a trama envolvendo o mercado de armas. A ideia de não antecipar a trama envolvendo o Máquina de Guerra nesse filme foi inteligente, pois dá espaço para o herói ser desenvolvido sozinho, ainda que ele não tenha um antagonista à altura. A presença de Clark Gregg como Agente Coulson só ganha importância nos quarenta minutos finais, e o mistério que o envolve faz muito sentido, ainda mais quando é revelado.
Os aspectos visuais são bem trabalhados por Favreau, e sua duração é o suficiente para entreter e introduzir o vingador dourado como pontapé inicial desse universo. Ainda assim, o momento mais espirituoso ficou para o final, com Tony Stark assumindo publicamente a alcunha de Homem de Ferro, seguido logo depois pelo clássico Iron Man do Black Sabath, acompanhado de uma disposição de créditos bem estilizada, e claro, pela participação especial de Samuel L. Jackson, na cena pós-crédito, embrião do Universo Compartilhado da Marvel.