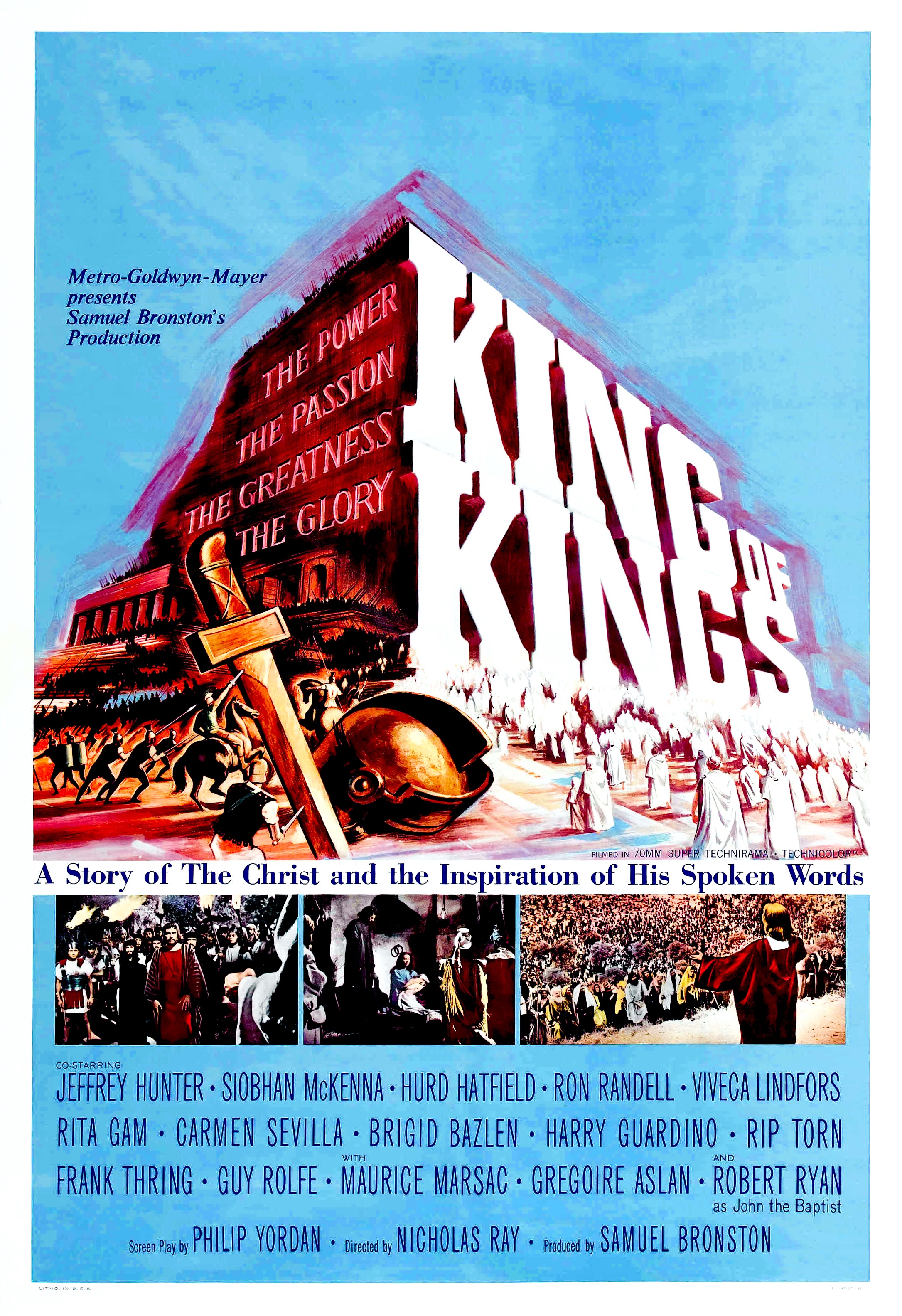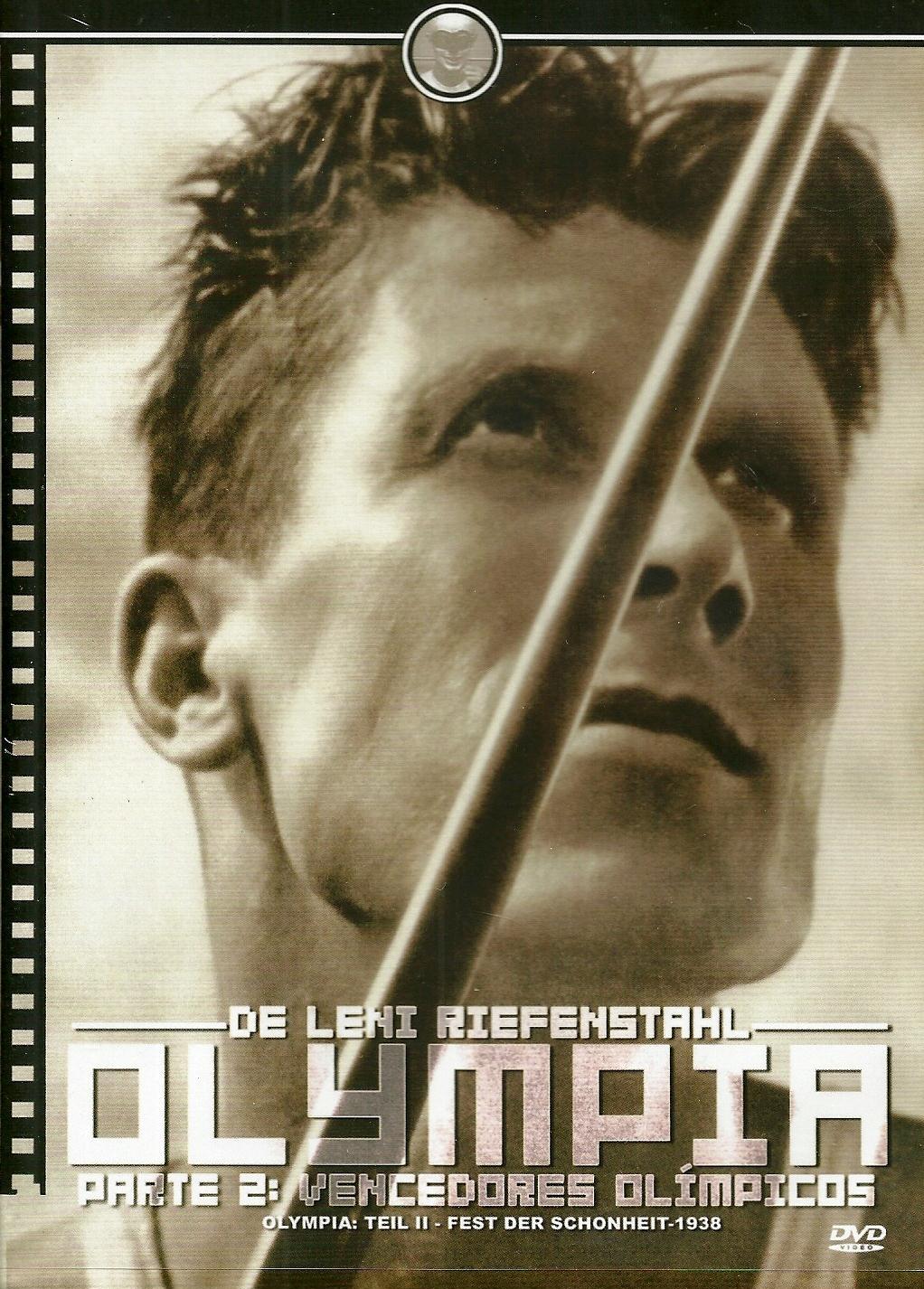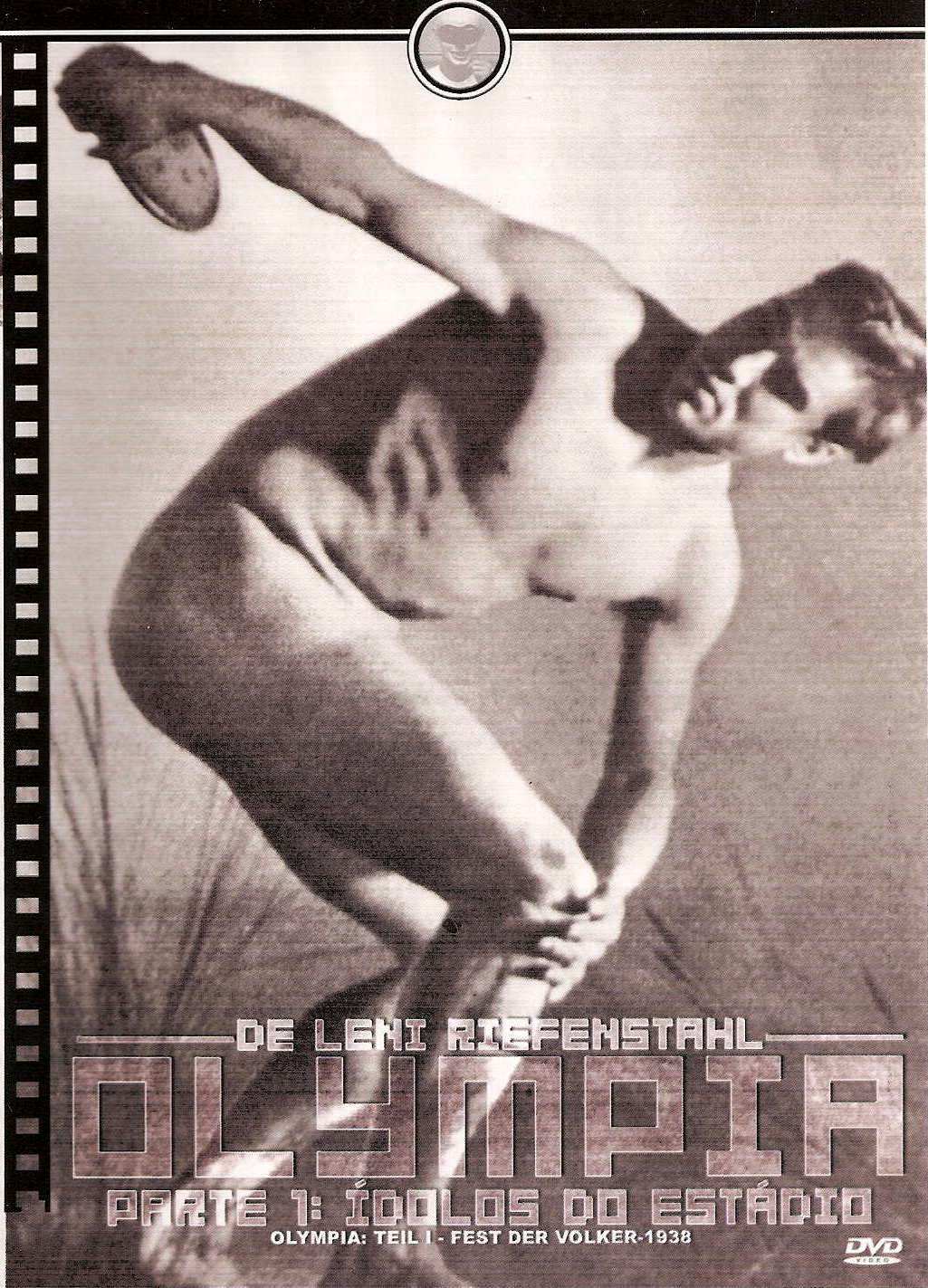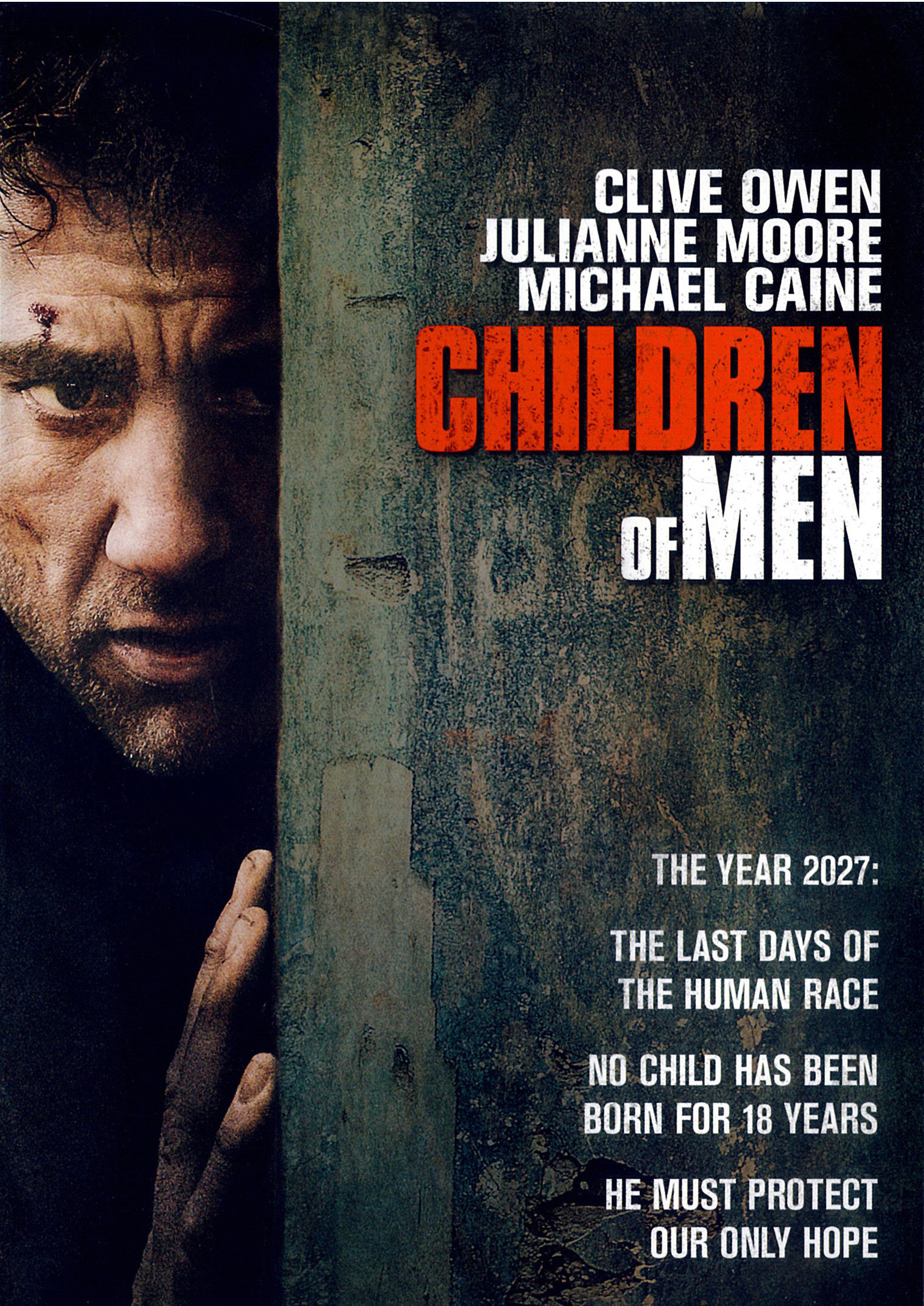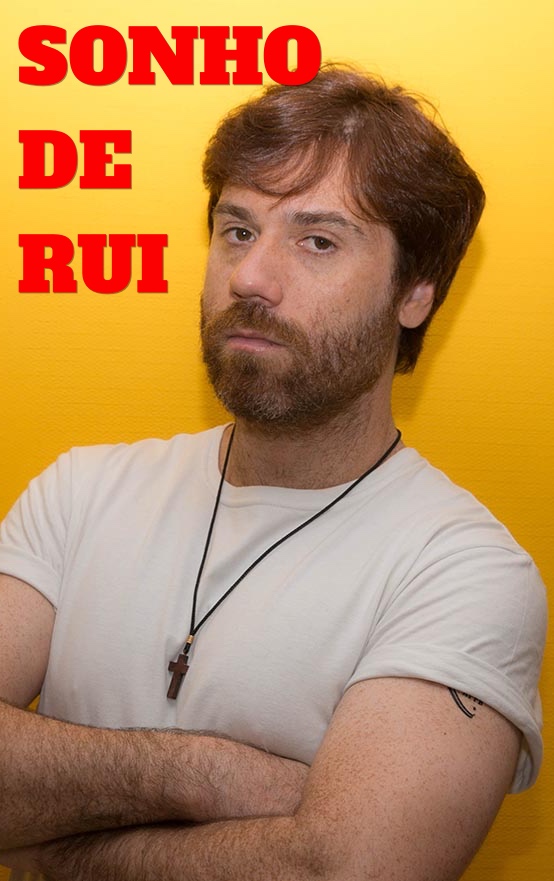Baseado na obra de Roald Dahl, A Fantástica Fábrica de Chocolate, clássico de Mel Stuart lançado em 1971 começa mostrando chocolates sendo fabricados e faturados – em uma apresentação que certamente abre o apetite de quem é amante do doce – ambientando o espectador na fantasia que se passará a seguir. Pouco depois, acompanhamos uma cena onde crianças saem correndo da escola para uma loja de doces para adquirir os chocolates de Wonka.
Tudo que é preciso saber está aí, ao menos no que toca a mística em relação a Wonka e aos seus segredos. Logo, aparece Charlie (Peter Ostrum), que se vê obrigado a trabalhar para ajudar a sustentar sua casa, que contém seus quatro avós e sua mãe. Seu avô Joe (Jack Albertson), promete que sairá da cama que divide com os outros quatro, para trabalhar e dar ao garoto a chance de ser uma criança, já que ele tem muitas responsabilidades, mas ele não consegue isso.
Dahl é quem escreve o roteiro, e nele é colocado seu protagonista infantil como um garoto fofo, mas desolado. É engraçado como sendo um magnata recluso,que procura alguém igual a si para adentrar em sua fábrica, Wonka acaba gerando muito lixo, que basicamente atrapalha a vida dos meros mortais, além de causar frisson na população inteira, sobretudo nos mais pobres, que não podem lançar mão de tanto dinheiro. Outra situação assustadora é que a forma como ele escolheu para selecionar quem entrará na fábrica privilegia apenas crianças mimadas e de grandes posses, sem maiores preocupações além de enfezar seus pais e exigir mimos.
O ingresso à fábrica que Charlie encontra se dá pela pura sorte, após ele achar um tostão na rua, comprando dois chocolates, um para si e outro para o seu avô, e a reação da rua é a de quase matar o menino sufocado, mostrando ainda que de forma leve como funciona a ganância dos homens. O personagem que dá nome ao filme – no original é Willy Wonka & The Chocolate Factory – só aparece com 44 minutos de exibição, mancando e com o cabelo tão ralo que as partes laterais cobrem o centro de sua cabeça. Ele parece um homem digno de pena, e só quebra essa imagem dentro da fábrica, e o cenário lá dentro muda por completa, se mostrando um universo próprio, onde a física é diferenciada. Até os números musicais mudam, melhorando absurdamente, e esse é apenas um dos elementos fantásticos apresentados.
As sessões em que passavam A Fantástica Fábrica de Chocolate nos anos oitenta e noventa eram acompanhadas com muito afinco pelas crianças, que achavam sensacional os rios e cachoeiras de chocolate,os anões de pele alaranjada chamados Oompa Loompas, as letras das músicas saltando a tela, e claro, as armadilhas que Wonka planta para as crianças. Talvez para as criança que assistiam, na reprise ou no cinema, não houvesse a noção de quão estranho e obsessivo era o homem, transtornado e maníaco por organização que permitia às crianças até correr risco de morte caso lhe desobedecessem. Tanto Willy quanto seus amigos pequenos são figuras enigmáticas, parecem mágicos, e gostam de provar os humanos, e é essa a função dos trabalhadores da fábrica, mesmo no que toca Charlie, provado antes até de outras crianças.
Para Charlie essa é uma oportunidade única, e de certa ele foi a única criança a usufruir tudo que a fábrica deu, não só dos doces mas também do aprendizado com Willy, mas não sem antes ser tentado. Neste ponto, ele é bem parecido com Wonka, apesar do adulto ser mais irascível. A Fantástica Fábrica de Chocolate termina com uma bela exibição de Gene Wilder, que consegue transmitir uma lição por meio não convencionais às crianças que assistem seu show.