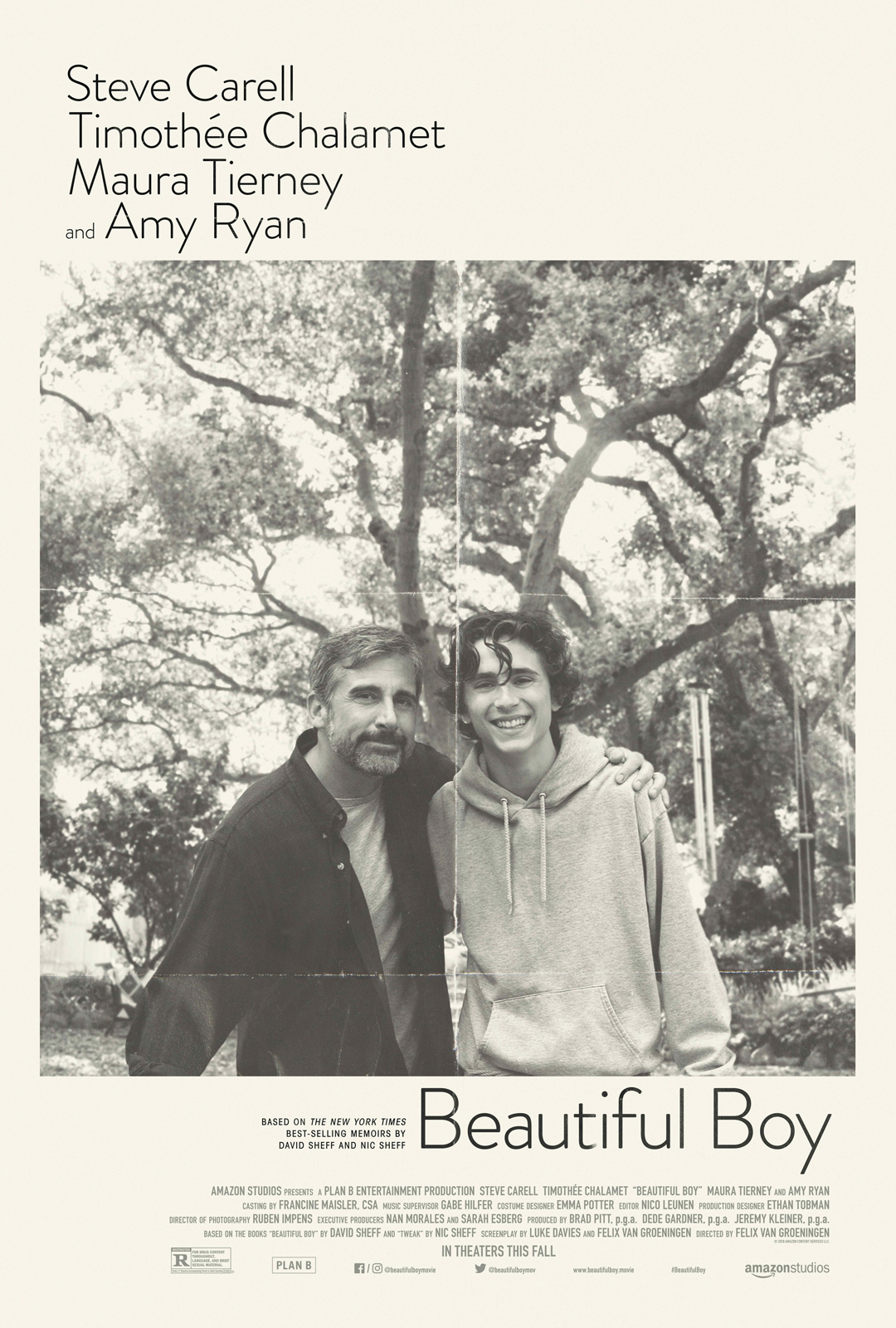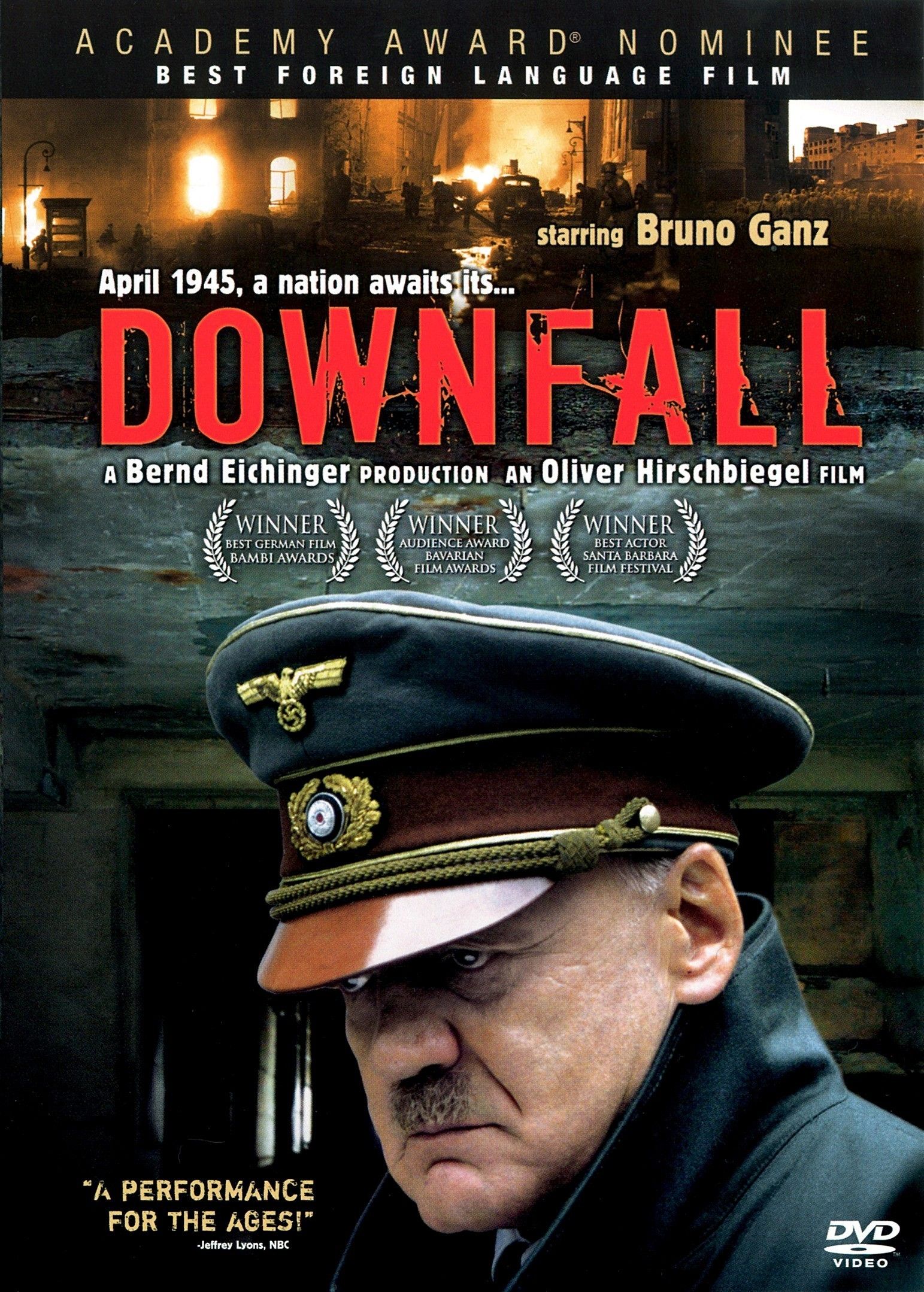O longa de Pitof fez história em 2004, trazendo Halle Berry no papel principal da mais famosa vilã das histórias em quadrinhos. Mulher Gato começa com uma introdução animada mostrando cenas do Egito, Grécia e outros lugares com mulheres vestidas como felinas. Antes de aparecer finalmente a personagem Patience Phillips, mal se nota o desastre que aguardaria o público.
Está versão com roteiro de John Brancato, Michael Ferris e John Rogers (argumento de Brancato, Ferris e Theresa Rebeck) repaginar conceitos de Batman: O Retorno, mas sem a alcunha de Selina Kyle, sem Gotham, sem Batman 3 e principalmente, sem identidade. O estranho é que pouco tempo antes, em 2001 estreava A Última Ceia, longa que deu a Berry um oscar por sua atuação. Aparentemente a premiação não garantiu a ela um maior crivo na hora de escolher os produtos dos quais faria parte, até porque em 2002 ela co protagonizou 007: Um Novo Dia Para Morrer, com chances de ganhar um spin off onde sua personagem Jynx teria o papel principal. O resultado todos sabemos, críticas bastante negativas e um novo reboot em Cassino Royale, com outro ator e nada de spin off.
Berry foi originalmente pensada para interpretar Selina Kyle no jamais feito Batman: Year One cancelado de Darren Aronofsky, inclusive quando a produção ficou parada em 2003, rumores indicavam que poderiam reaproveitar Berry em Batman Begins, mas isso não passou de um rumor, tanto que o longa de Pitof foi ao ar antes do de Christopher Nolan. Outro fato curioso é que Laeta Kalogridis foi uma das consultoras do roteiro não creditadas do filme, ela que em 2002 idealizou o seriado Bird of Prey, que aqui no Brasil ficou conhecido como Mulher Gato também.
Há uma tentativa genuína de fazer um drama acontecer, Patience é maltratada por seu patrão, George Hedare (Lambert Wilson, o Merovingian de Matrix Reloaded), defendida mal e porcamente pela esposa do mesmo – que aliás, é substituída na função de modelo da empresa que ajudou a fundar – ela é oprimida por seu vizinho. Seus problemas são mundanos e nenhum é gravíssimo. Ao tentar salvar um gato ela quase se mata, sendo salva por Tom Lone (Benjamin Bratt), um policial que virá seu interesse romântico. A maneira como esse momento é conduzido por Pitof é estranho demais, e talvez a ideia fosse ser essa uma menção a tentativa de suicídio, no entanto, não há peso dramático nisto, nem de longe, no entanto esse é só mais um equívoco, como a construção Sally (Alex Borstein), a amiga gordinha da heroína como alivio cômico/predadora sexual ou da construção supostamente fetichista da vigilante, que basicamente não possui cenas de ação e sim pretextos para rebolar de maneira artificial pelos prédios da cidade.
Daniel Waters, roteirista de Batman O Retorno deveria processar os que escreveram esse, pois Patience se vê em situações idênticas a Selina do filme de Tim Burton, sendo perseguido após descobrir segredos de seus empregadores, ainda que neste as cenas sejam mais agressivas que no filme de 1992, seguida de uma cena onde ela encontra o gato que tentou salvar é outros tantos, e eles aparentemente deram uma nova vida ela. Os gatos de CGI eram artificiais, mas não tão feios quanto a Halle Berry digital que pulou na janela do apartamento de Phillips.
Patience passa a agir como um felino, em uma performance física que beira o ridículo e que só causa mais estranheza que o jogo de basquete (em uma escola) entre a heroína e o policial em um desempenho demasiado erótico, agravado pelo fato de estarem no meio de crianças, em uma versão ainda mais inadequada que a cena do parquinho em Demolidor: O Homem Sem Medo. As ações já como vigilante se diferem demais da ladra que a personagem original era, aqui ela é apenas uma justiceira genérica, com cabelo curto e na moda, que pega algumas joias para si, entre uma cena com CGI artificial e outra.
A cena em que a personagem muda o visual é péssima, uma tentativa de mostrar ela como uma mulher independente, mas que ainda assim é refém de clichês sexistas. Ela entende o poder que lhe é conferido, e para praticar sua ideia de justiça ela faz uma roupa toda rasgada na parte das pernas e bunda, para sensualizar e para constranger seu dublê, que na maioria das vezes, era um homem.
Toda a trama envolvendo a vilã que Sharon Stone faz – Laurel Hedare, a tal esposa desprezada de George – é mostrada de maneira gratuita, mesmo que seus motivos de ciúmes sejam explícitos desde sua primeira cena. Impressionante como tanto ela quanto Patience parecem se inspirar em visuais recentes da apresentadora Ana Maria Braga para compor seus personagens, ainda que a global passe menos vergonha que as duas, mesmo com as inúmeras gafes que já cometeu no Mais Você.
É dificil encontrar o principal culpado para uma obra que adapta quadrinhos de maneira tão pífia, e certamente este fica no mesmo hall de Liga Extraordinária, Spirit, Lanterna Verde, mas não tendo o mesmo tom humorístico involuntário como Nick Fury e Spawn tiveram, uma vez que é bastante irritante, e também consegue ser tão esquecível quanto as versões de Vampirella e Model By Day, que também tinha supostas femme fatales como protagonistas, além é claro de ser o responsável por Berry ter vencido um Framboesa de Ouro, premio que ela fez questão de buscar, além de ter sepultado praticamente os trabalhos em direção de Pitof, além de ter comprometido também carreira de Stone como atriz, sendo até hoje relembrada como a péssima vilã que viveu.
A luta final é patética, mas feia até que a imagem que Stone tem após ser arranhada pelas garras da Mulher é Gato. A queda é tão mal feita quanto as tramas dos personagens secundários que se fecham. A personagem que deveria soar como uma praticante de bondage fecha seu filme solo com uma figura patética e incapaz de controlar até simples atos, não atingindo o tal ápice físico que sempre foi a marca da personagem, além disso, a ideia de que um produto de beleza revolucionário que ao longo do tempo causa em quem usa a possibilidade de morrer estar prestes a entrar no mercado é complexo demais para a produção tão porca quanto é esta, que não consegue dar qualquer dimensão mais épica aos fatos que ocorrem aqui.
https://www.youtube.com/watch?v=SbfeJC1xfSc
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.