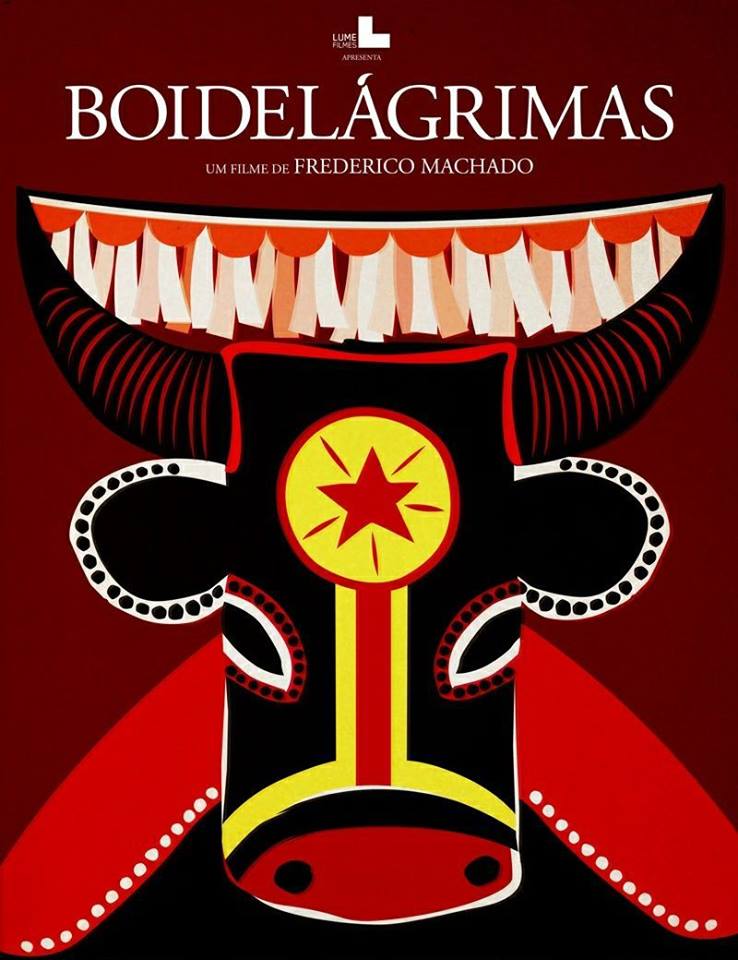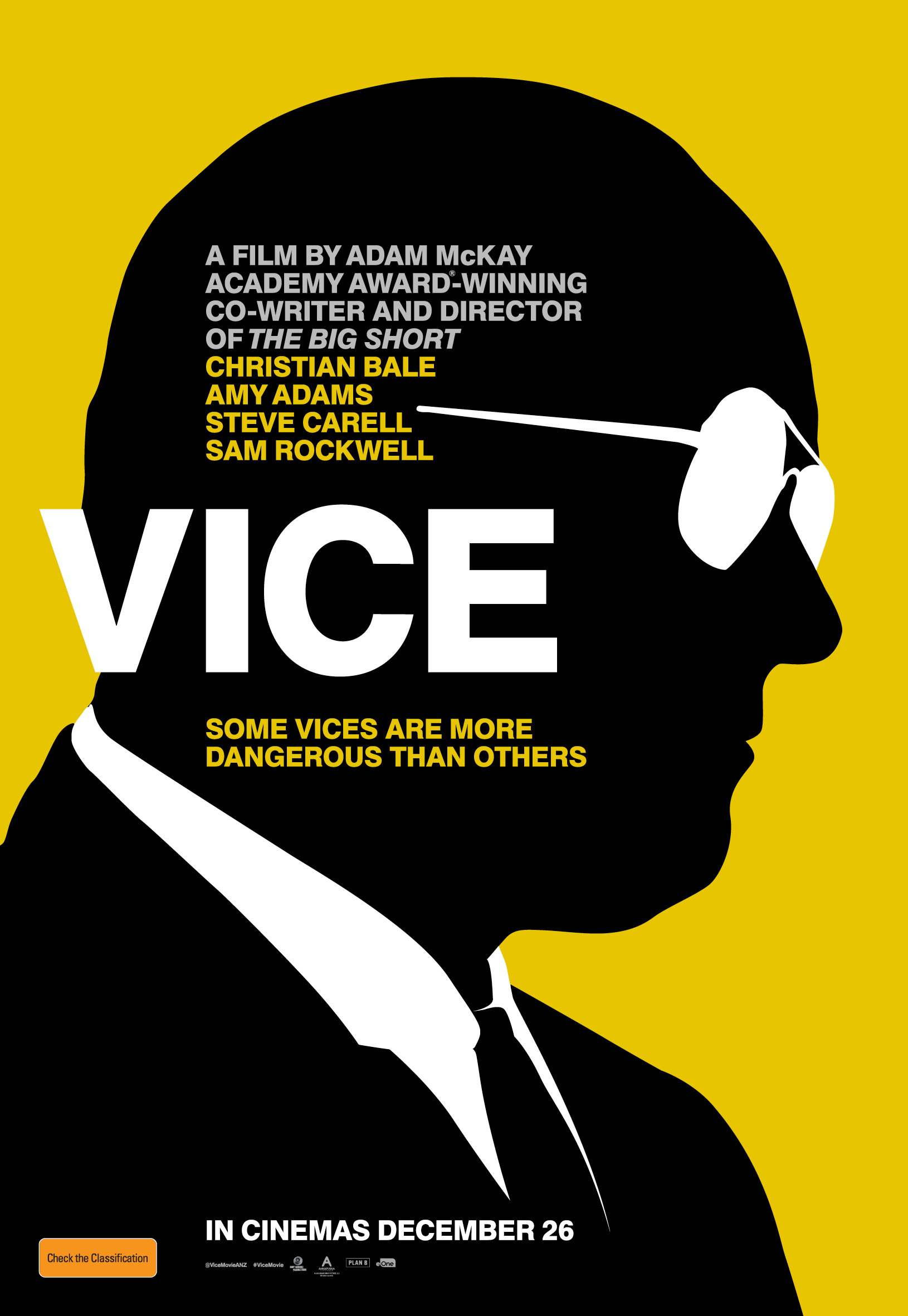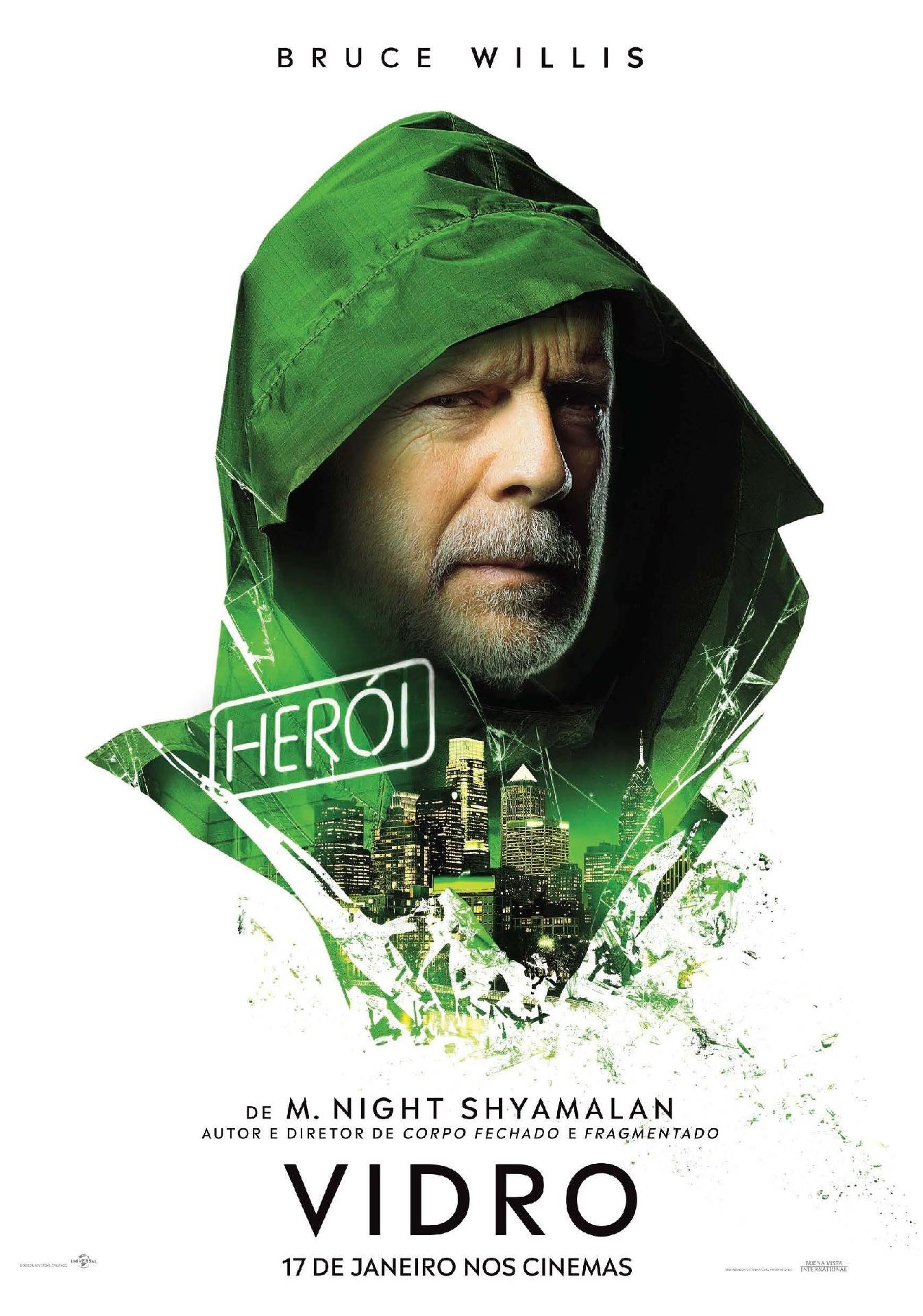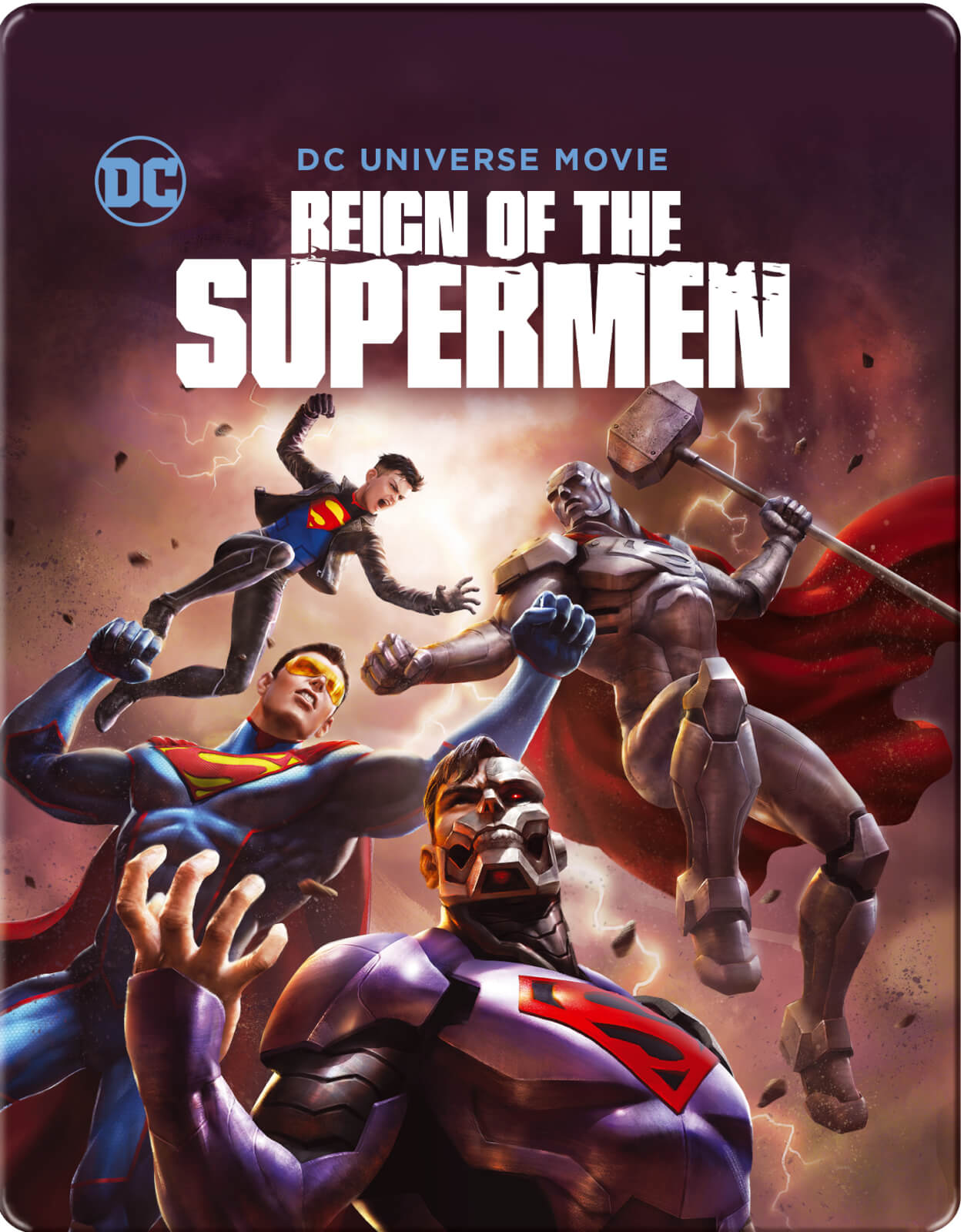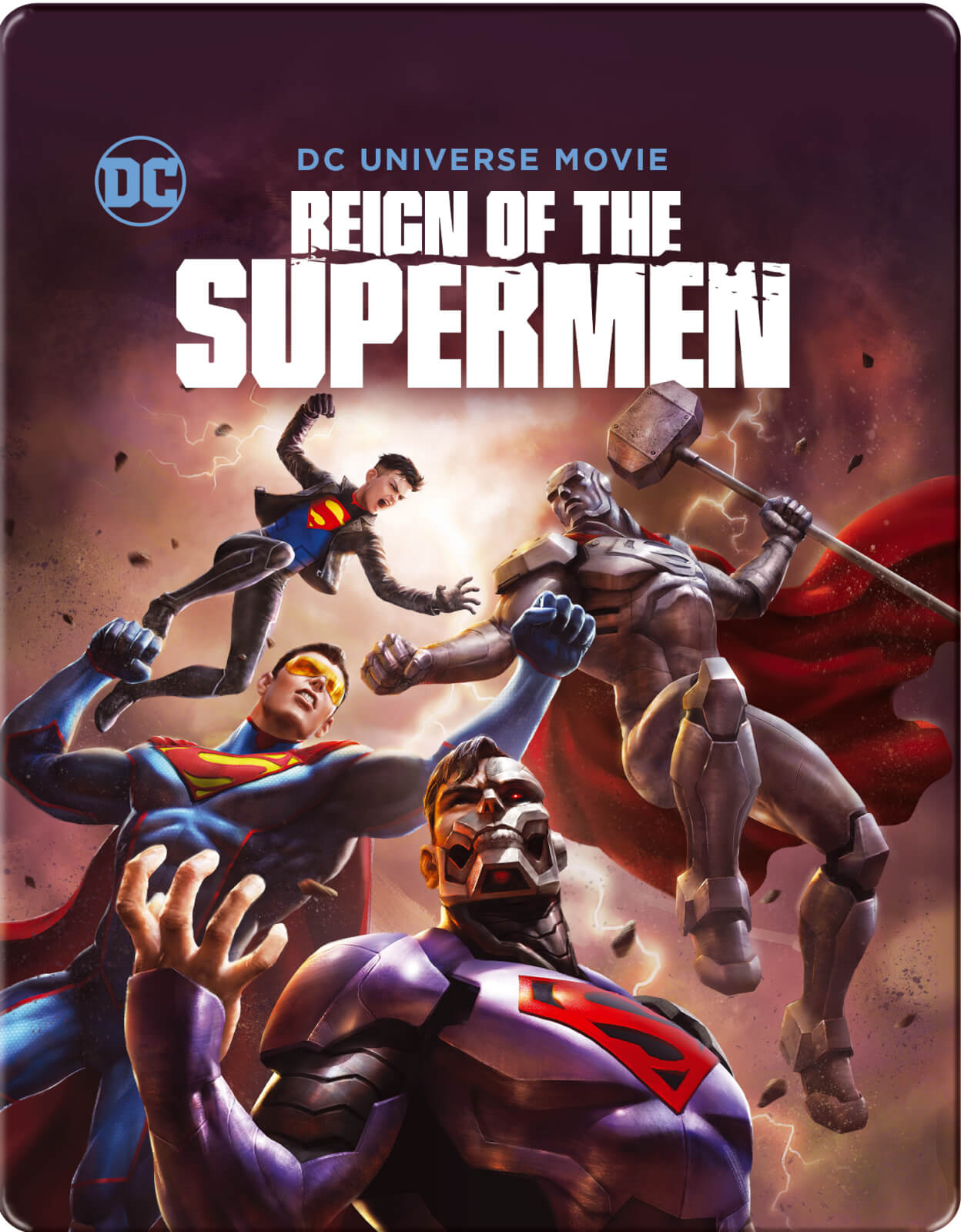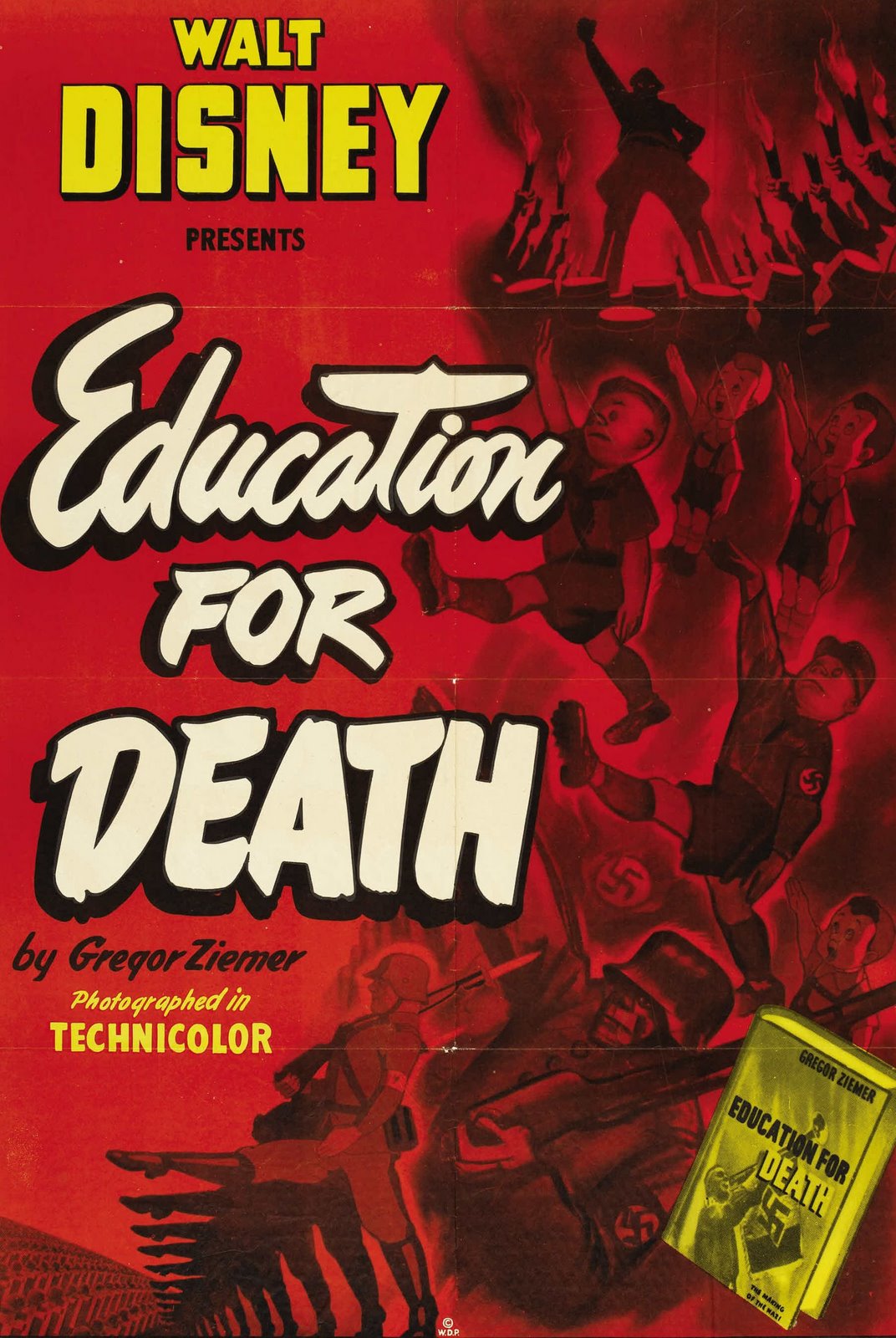Para se entender e apreciar O Banquete, de Daniela Thomas, talvez seja preciso distanciar de toda a polêmica envolvendo seu ultimo filme, Vazante, que vinha a ser sua primeira experiência em direção de longa metragem como diretora solo. Independente de criticas positivas ou negativas Thomas não pode ser acusada de não ter ambição, pois sua nova historia mira alto, tentando mostrar um retrato da sociedade mais abastada do Brasil em meio a um governo corrupto de Fernando Collor de Mello, onde um dos membros que está presente ali está prestes a ser preso por conta de um artigo veiculado na imprensa, fato esse quer serve de pretexto para um show de ofensas e troca de farpas.
Nora (Drica Moraes) organiza um jantar para um casal que faz dez anos de junção. Plínio (Caco Ciocler) chega bêbado em casa e Ted (Chay Sued) serve a ele vinho. Aos poucos, os outros convidados chegam, o dono de revista e marido aniversariante Mauro (Rodrigo Bolzan), a crítica de arte Maria (Fabiana Guglielmetti), o também jornalista Lucky (Gustavo Machado), e a atriz Bia (Mariana Lima), além de um ou outro agregado que se atrasa.
O filme foi retirado da mostra competitiva do Festival de Gramado este ano, por conta do coincidente falecimento de Otávio Frias Filho, que também teve problemas sérios com Fernando Collor durante o governo deste segundo. Thomas pessoalmente pediu para retirar seu filme para não se confundir realidade com a ficção de pessoas cruéis, mesquinhas e ególatras que aparecem ali na mesa daquele jantar, que tem todo aspecto de praça de guerra e não de banquete.
O fato de ser feito em um cenário único dá ao longa um ar de teatralidade muito forte, e serve para algumas brigas mais incisivas, como as de Bia e Nora, e outras mais eufemistas e falsas como as discussões sobre as peças de Beatriz e a condescendência de Maria diante da discussão sobre o modo como ela critica esses espetáculos. Em alguns momentos o filme se torna constrangedor, e mesmo o cenário político caótico presente no virar da década de oitenta para noventa parece subalterno diante das falas repletas de malícia dos ricos e endinheirados que se dizem progressistas, os mesmos que são egoístas o suficiente para não se permitirem deixar sequer os mais simples em paz, como é feito o personagem de Sued, o tempo inteiro abordado por um sujeito inconveniente e que não consegue aceitar sequer seu nome civil, Wanderson, que faz lembrar suas origens simples.
No entanto, a maior parte das discussões levantadas em mesa não são terminadas, como normalmente ocorre nas festas reais entre amigos e inimigos, nenhuma das questões é aprofundada e Daniela não consegue trazer qualquer reflexão nem sobre o estilo de vida dessas pessoas e nem um julgamento mais categórico do quão mesquinha pode ser parte da população que se diz progressista.
Se tais discussões tivessem ao menos um pouco de naturalidade nas falas e diálogos, toda a presunção dos personagens seria aceitável, pois de fato as elites podem ser formadas por pessoas assim, mas os entreveros verbais são essencialmente artificiais, parecem tirados de uma revista para publicitário, e por mais que boa parte das pessoas que sentam a mesa trabalharem sim em um órgão de imprensa, não justifica que em sua intimidade sobrem apenas falas e tiradas típicas de um publicitário que não consegue se expressar sem ter ao menos uma sentença em inglês e que poderia facilmente ser substituída por uma equivalente em português. Se as discussões são falsas, todo o conjunto de sentimentos é falso e nada é crível.
De positivo há a demonstração de como o quadro de um país brasileiro dirigido pela esquerda pode ser caótico, mesmo entre os mais ricos, embora também não haja muita reflexão sobre isso, só menção, só mais um dos assuntos que tornam toda a problemática tão séria e complexa. Mesmo o elenco sendo formado por estrelas, não há nenhuma atuação que se destaque mais que as outras, o que funciona em alguns pontos é a junção desses atores, mas não em todos os momentos, em alguns deles O Banquete parece mais um episodio de novela estendido e mega histriônico, que faz valer a alcunha da peça shakesperiana Muito Barulho Por Nada mas sem a maestria do autor clássico, sendo só desimportante na maior parte da duração.