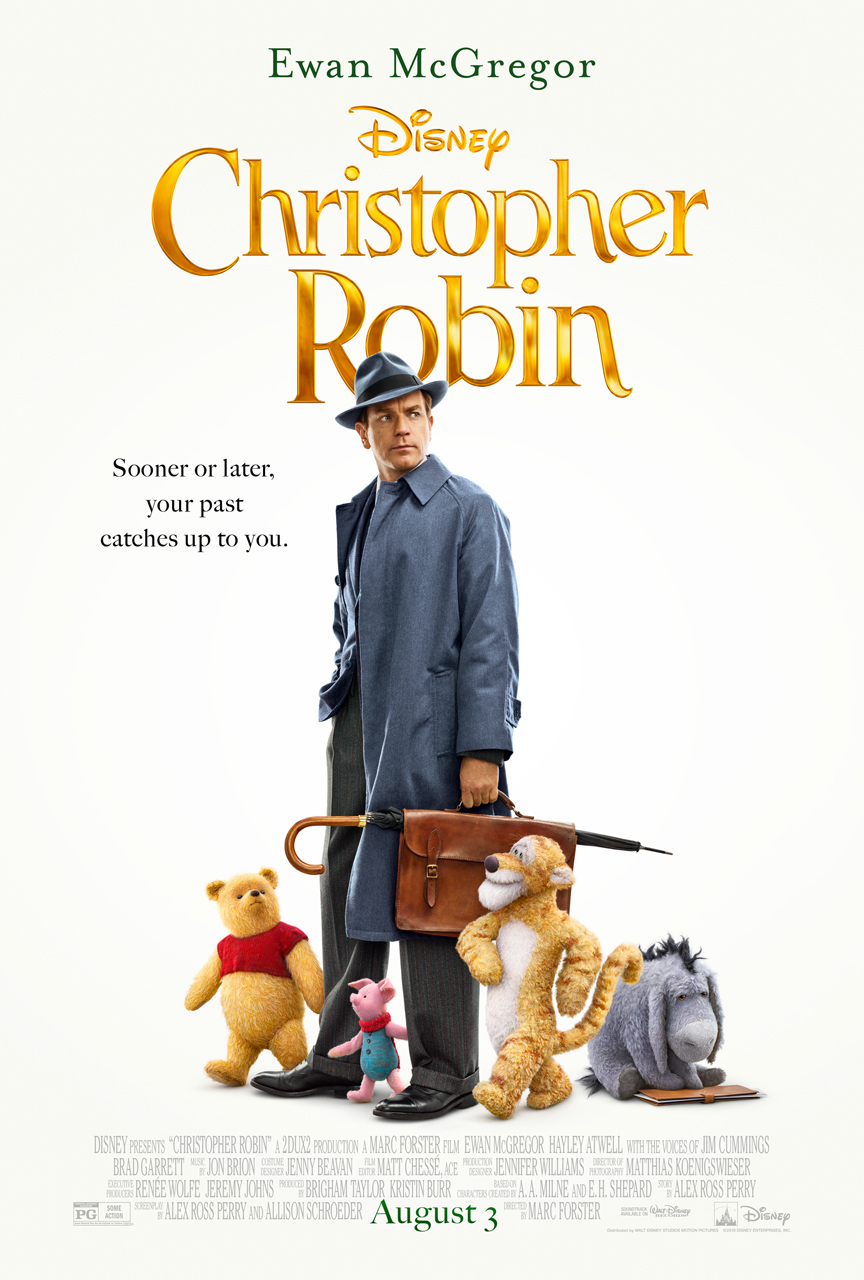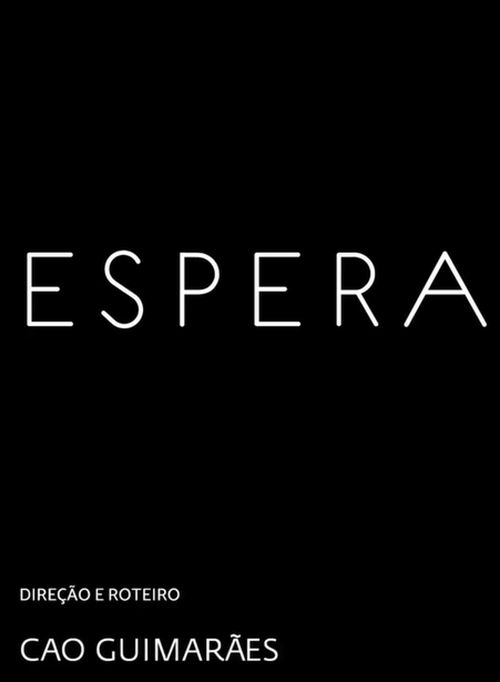O Outro Lado do Vento é um atestado de imortalidade; sobre raras marolas que nunca cessam. Filme inacabado por excelência, eis um manifesto por aquilo que nunca será esquecido, ou depreciado. Para Orson Welles, certamente que não. Era o menino prodígio que revolucionou o cinema em tempos de outras tantas revoluções menores. Junto de Charles Chaplin, Buster Keaton, Howard Hawks, Alfred Hitchcock e alguns outros deuses do Cinema, neste seleto clubinho de divindades, Welles não reinventou a roda, mas aperfeiçoou-a em verdadeiros atestados de genialidade em estado bruto como O Processo, A Marca da Maldade e Verdades e Mentiras. Gemas obrigatórias, para se dizer o mínimo.
Não chegou a ver o Cinema mudar a ponto de sair da tela, ganhar novos arranjos, entrar na casa das pessoas, anda por ai nos nossos celulares. Não chegou a criar opiniões a respeito disso. Welles, o homem, morreu em 1985, quando o Cinema americano já começava a significar tecnologia, cada vez mais, e durante setenta anos, projetou em suas histórias as suas próprias paixões por essa arte, a sétima delas, pela qual jamais será um talento substituível; um mero bastardo fiel a experimentações de todo tipo. Como o mesmo diria: “O Cinema não tem fronteiras nem limites. É um fluxo constante de sonho.”, e é justamente esse sentimento que se tem ao se assistir um dos melhores filmes de 2018.
A Netflix fez questão de remontar um filme assumidamente estranho a habitar seu catálogo de jóias e bijuterias, e sem apelar para saudosismo a tanto.Colando e deixando que trechos pré-editados das filmagens que o próprio Welles chegou a rodar ditem o tom do filme, por si só, o foco aqui vai longe da lógica, perseguindo com uma lente frenética e cores exageradas atores nus, sorridentes, chorosos e agressivos e que se cruzam, colidem-se, num absoluto caos cinematográfico cuja construção essencial, e o seu valor, baseiam-se unicamente na própria experiência poética de senti-lo, ao invés de atender a imediatista pretensão de compreendê-lo – algo que pode afugentar inúmeros espectadores acostumados apenas a entender imagens, em vez de capturar e absorver a vibração que nelas e entre elas existem, germinando muito mais que um sentido fácil.
O Outro Lado do Vento torna-se acachapante, neste finado exercício do mestre centenário, não apenas por ser uma ode à criação, a arte ou a história dessa arte (a sétima delas, como mencionado). Vira peça chave da produção contemporânea por, em 2018,conseguir reviver, mesmo que com certas vaidades estéticas ligadas a efervescência apologética de algumas imagens, a soberba pujança que os grandes clássicos imbatíveis de Welles, os aclamados e os que ainda serão (re)descobertos por novas gerações,jorram e exalam com uma vitalidade muita própria, antes ou agora; em tempos mais simples e complexos que, afinal, clamam por revitalizações de ideias e ideais de um passado glorioso, e que não merece abandonar o glamour e a visibilidade das telas de projeção – sejam elas quais forem, hoje em dia.