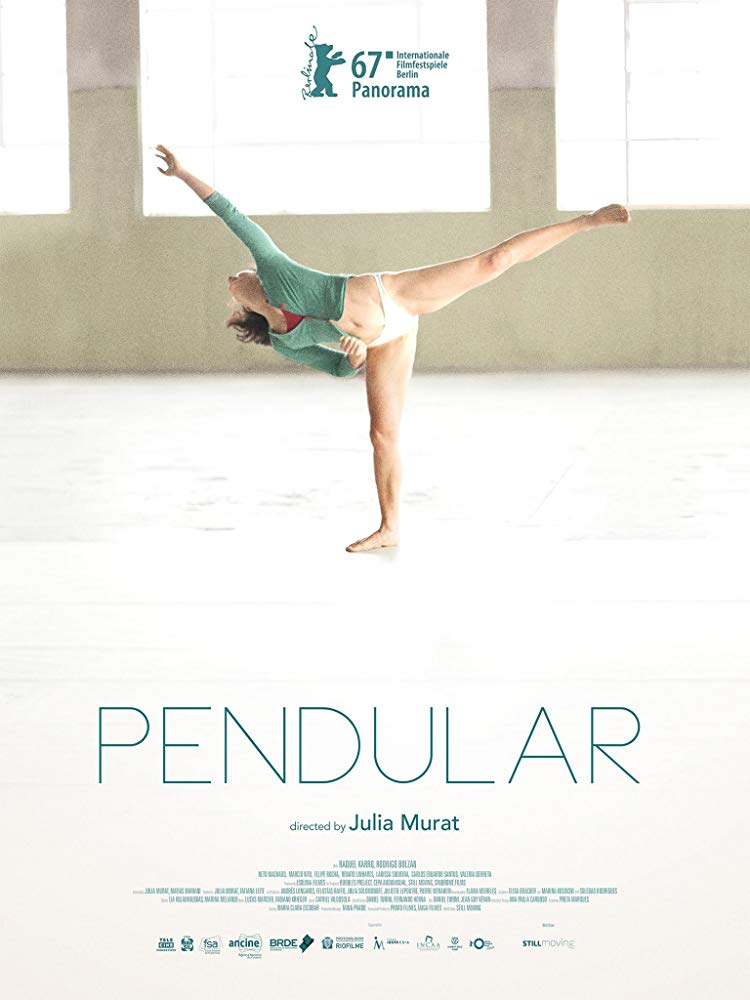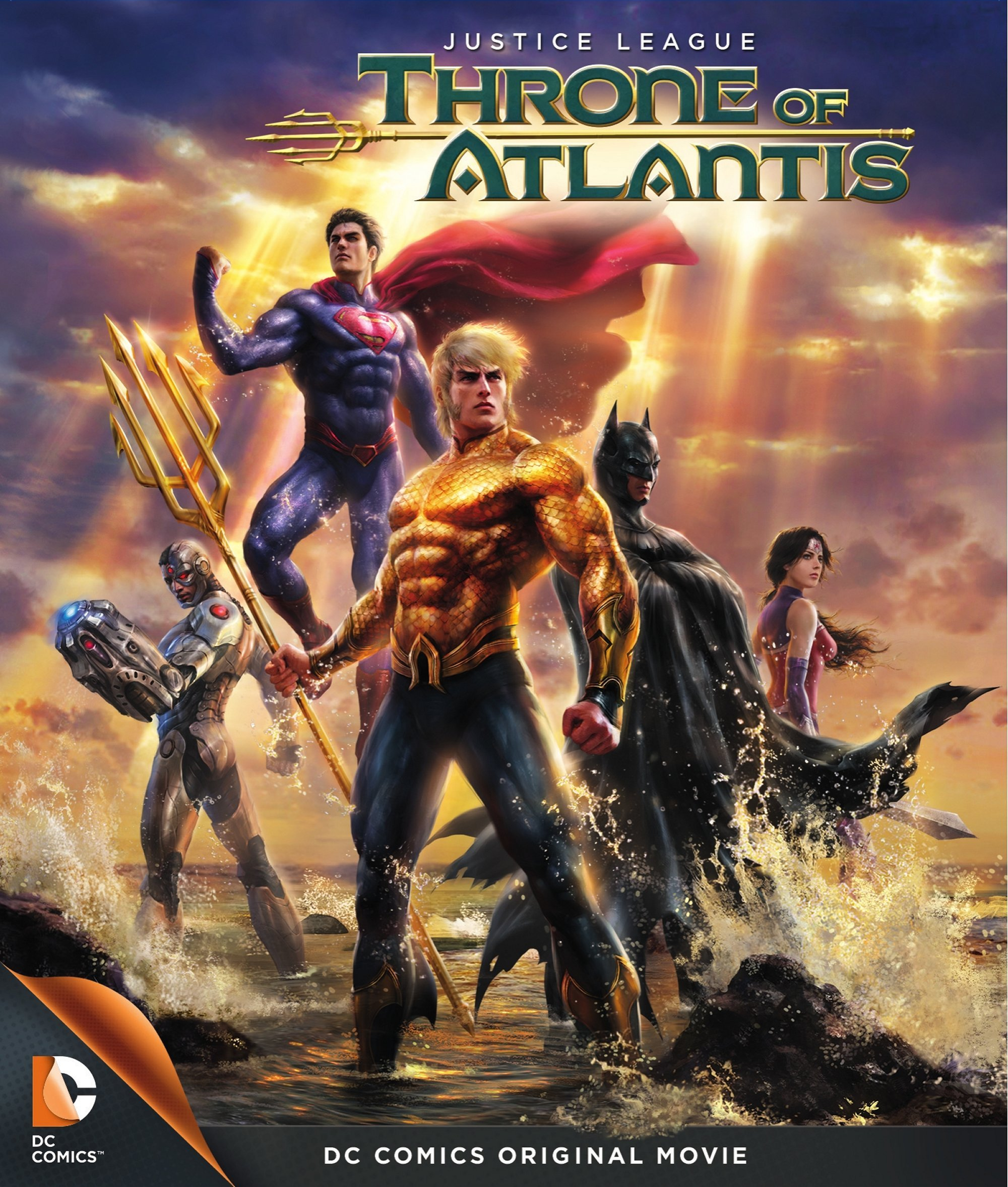São muitas as assombrações, muitos os demônios correndo soltos entre nós. O diabo mora no pequeno detalhe de que eles são atraentes. Uma pequena olhada em suas faces e é bem possível que nos entreguemos a seu poder de conquista. Mas esses demônios não querem apenas nos conquistar, sua satisfação é nos levar ao limite, à destruição, à autodestruição.
[Esse texto contém spoilers. Não descrições de cenas e desfechos, mas interpretações da história. Sugestão: tendo chegado até aqui, assistir o filme é retornar a este ponto para o restante da leitura do texto.]
Apesar de a descrição do filme indicar que se trata de drama, não é um erro de percepção entender que se está assistindo uma história de terror. A humanidade está sendo atacada por uma força incontrolável, que não se consegue explicar e que se espalha extremamente rápido. Ao primeiro, simples e breve contato com essa força, o indivíduo se torna autodestrutivo e comete suicídio logo em seguida.
O enredo se confunde com a história de Malorie (Sandra Bullock), que, grávida já em estado avançado, se depara com as primeiras “contaminações” próximas a ela justamente quando saía do hospital onde havia ido para mais um exame pré-natal. Ela ainda, mesmo já no final da gravidez, não estava certa se queria ser mãe.
Quando o contágio começa em sua cidade, se alastra de forma estupidamente rápida. O cenário de caos e destruição é apocalíptico. Não apenas um contingente enorme de pessoas ao seu redor, mas inclusive sua irmã Jessica (Sarah Paulson) que dirigia levando-as de volta do hospital para casa se mata.
Malorie, caída na rua, tentando fugir do contágio e recém espectadora do suicídio da irmã, acaba se refugiando na casa de um estranho, juntamente com outros seus completos desconhecidos. Naquele refúgio, eles viverão pelos anos seguintes. Ela, que até ali era uma pintora solitária e reclusa, que praticamente não saia de casa (até suas compras de supermercado quem fazia e a levava era sua irmã), há muito não falava com a mãe, passará a viver com diversos estranhos, um dia após o outro, lutando pelo mais básico: sobreviver.
Não bastasse a profunda metáfora da história, o filme é excelente também pelo nível excepcional de mistura de sentimentos e tensão da história. Suas duas horas passam muito rapidamente, graças a seu enredo muito bem construído. A sequência de fatos, de profundidade das mensagens de cada cena, cada diálogo nos faz ficar vidrados na tela. Embora não seja possível aqui falar sobre o livro que baseia o filme, é relativamente certo que Josh Malerman (autor do livro que deu origem ao filme) entrega uma obra profunda. Também não sendo aqui viável julgar falhas isoladas do livro ou do roteiro do filme, percebe-se que Eric Heisserer (A Chegada) poderia ter feito uma melhor adaptação para tornar a história mais verosímil. Explicações a respeito de disponibilidade de energia elétrica, água e suprimentos gerais ficam um tanto quanto falhas, especialmente se considerarmos os cinco anos em que ocorre a história entre o momento do hospital e o desfecho do filme. Isso não chega, contudo, a comprometê-lo, são detalhes menores diante de todo o resto.
A direção de Susanne Bier (Serena) coroa atuações fenomenais de todos os atores. Sua condução leva a um nível próximo do perfeito de dramaticidade e explosões de emoções. Bullock encarna Malorie a ponto de quase nos fazer esquecer que se trata apenas de uma atriz interpretando um papel. Os companheiros de morada de sobrevivência de Malorie: Douglas, Tom, Cheryl, Lucy, Olympia, Charlie, Felix e Greg, são trazidos à vida por excelentes atuações de (respectivamente) John Malkovich, Trevante Rhodes, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Machine Gun Kelly e BD Wong. Destacam-se também as interpretações de Paulson, das crianças Vivien Lyra Blair e Julian Edwards, além de Tom Hollander (Gary) – convincente e importantíssima, por sinal.
Verdadeira trama filosófica, a história nos faz refletir sobre: o quão atrativas são as promessas de satisfação e prazer ao nosso redor (consumo desenfreado, prazeres momentâneos, drogas, soluções rápidas e fáceis para nossos problemas mais complexos?) e ao mesmo tempo quentou elas nos levam à destruição; pessoas próximas a nós que podem de uma hora para outra se entregar a isso; indivíduos aparentemente frágeis poderemos fortes e resistir a essas tentações e mesmo salvar outros de nelas caírem; pessoas ranzinzas, mal-humoradas, de mal com a vida podem ser importantes em apoiar nessa resistência; existirem pessoas deslumbradas com aquelas promessas, as quais conseguem, contudo, resistir à autodestruição, e também sentirem satisfação em levar outras a sucumbirem; tentar ajudar uma pessoa aparentemente frágil poder ser uma armadilha de um ser ardiloso e vil; a fragilidade da juventude, que se entrega facilmente aos prazeres e à satisfação, acreditando ser imbatível; a existência de comunidades dedicadas a entender a importância de se manter cego a tais promessas e como ler sobre essa cegueira (a alegoria da escola para cegos no final do filme é fenomenal); dentre outras questões nas entrelinhas.
Como uma linha que costura todas as peças de pena que compõem todo esse tecido, se apresenta a importância da mãe como protetora, guia e educadora de suas crias. Sem perder de vista o risco da super proteção e do exagero (incluindo o potencial de fazer o filho lhe temer e querer se afastar de si), somos colocados diante do fundamental papel da mãe que se mantém cega e cega seus filhos para a contaminação da maldade. Pássaros se agitam com a aproximação do mal, é importante estarem isolados dele (engaiolados?) e voarem em ambiente seguro!
–
Texto de autoria de Marcos Pena Júnior.