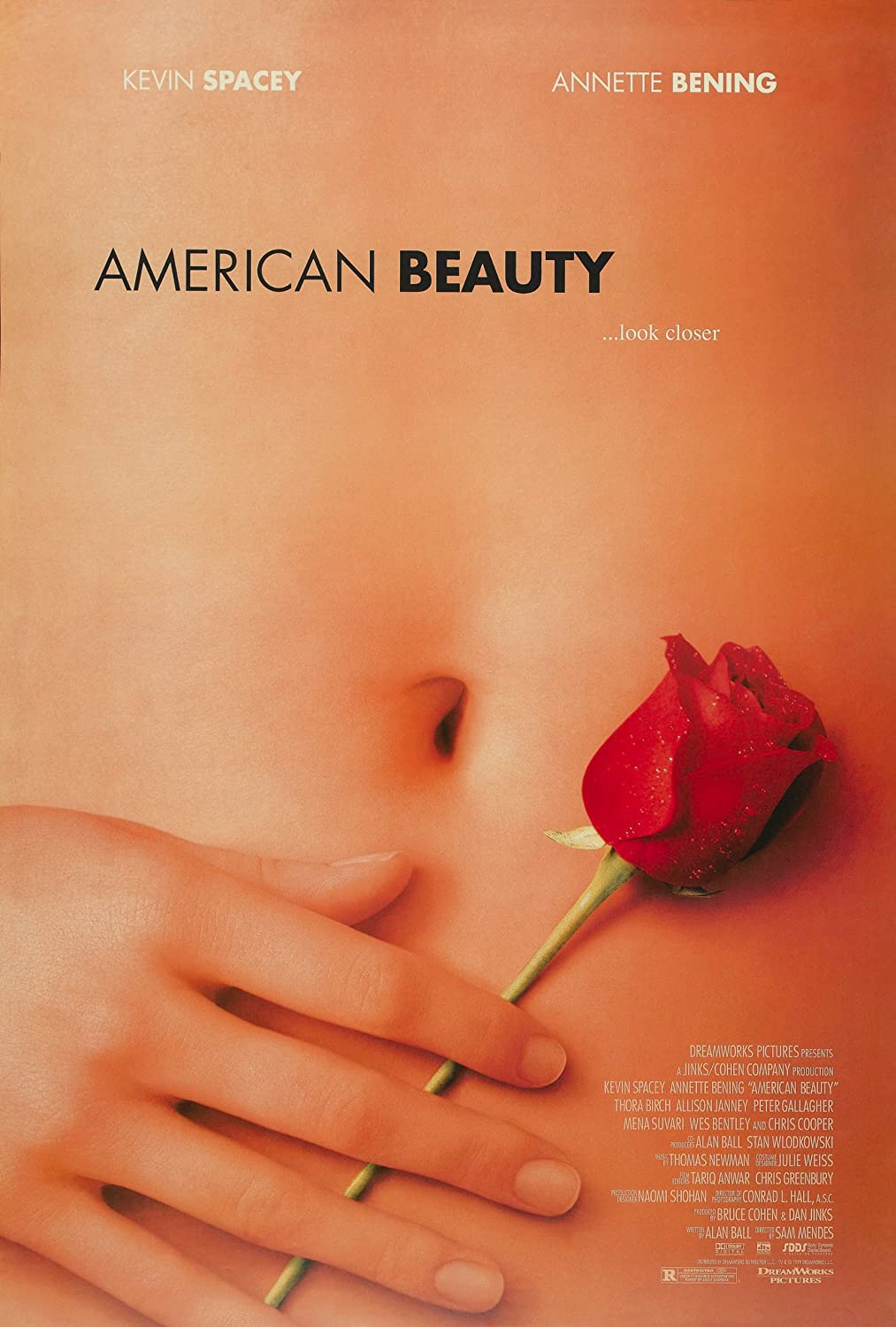Após as interessantíssimas primeiras temporadas, que faziam um belo e renovado comentário social a respeito do racismo e de como o sul dos Estados Unidos – no estado da Luisiana, na fictícia cidade de Bon Temps – lida com tais questões, True Blood deveria chegar ao seu final. O remate foi muito devido à necessidade de coisas novas, de novos embates e discussões, e a quantidade de temas diversificados já havia se esgotado lá pelo quarto ano – os mais puristas dirão que foi no terceiro.
Toda vez que uma nova temporada se aproximava, o criador Allan Ball tinha que sentar e falar qual seria o plot que viria a seguir, baseando-se nos dramas mostrados nos livros da série de Charlaine Harris, mas sem se apegar muito ao texto original. No entanto, a narrativa de Ball bateu em um muro sólido de concreto, inegavelmente; o momento de parar era clamado, já que não dava mais para evitar o estrago em que o show se instaurou. O padrão televisivo do canal HBO tinha um nome a zelar, e há uma tradição em dar mais atenção à produção de um grande número de indicações a premiações do que à quantidade de pessoas capazes de digerir suas histórias.
Sookie Stackhouse (Anna Paquin) era uma menina jovem, com toda a vida pela frente, mas que tinha uma habilidade especial: desde pequena conseguia ler a mente das pessoas. Um sujeito mal encarado, mas de aparência bela, se aproxima da moça, escondendo uma intenção escusa, mas que é diluída pela paixão. Seu nome é Bill Compton (Stephen Moyer), um vampiro secular, que, além de ser o primeiro amor da protagonista, ainda abre uma gama de polêmicas e controvérsias, já que, neste universo, os vampiros “saíram do armário” graças à fabricação do Tru Blod, uma bebida quente que contém os nutrientes necessários para a sobrevivência desses seres. O modo como a sociedade “humana” vê os vampiros mostra paralelos interessantes, que vão desde referências à discriminação racial até a questão da orientação sexual e afins. A sexualidade, aliás, é um tema perene, que obriga a audiência a assistir a diversas manifestações e interações lascivas e libertinas sem qualquer pudor.
Só por isso, True Blood já seria interessante, mas algo se perdeu no caminho. Na penúltima temporada, a trama da Deusa Lilith é explorada, mostrando que Bill bebeu o seu sangue e estaria embevecido pela vontade de trucidar tudo e todos. A dignidade dentro do roteiro é completamente deixada de lado; as sequências de ação são tão toscas que fica difícil associá-las com os primeiros três anos do seriado. Mesmo ignorando os efeitos especiais, dignos de clássicos da Asylum e as tramas estilo Power Rangers, ainda sobram um milhão de motivos para achincalhar o show.
Uma pena que a trama inicial de exploração dos preconceitos que habitava Luisiana seja deixada de lado para explorar a Autoridade, a instituição que está no topo da hierarquia dos vampiros. Tudo ruiu, e todo o quadro político dos sugadores de sangue, desconfigurado. Isto poderia obviamente ser bem explorado, já que emularia os momentos serenos de outrora, mas não é isto que ocorre.
O uso excessivo de histórias paralelas apenas servem para enfraquecer a trama principal – não que isso não ocorresse anteriormente – e também para mascarar a total falta de substância do argumento. Nem mesmo a dor dos personagens, que perderam entes queridos, é sentida: o roteiro não deixa espaço para o luto e para a superação das ausências. Tudo é muito rápido em relação às reações, e, curiosamente, o desenrolar dos plots é arrastado, como se houvesse pouco (ou nada) a contar. As boas ideias são esticadas para durarem doze episódios.
As armadilhas soam falsas. As ameaças só acontecem quando são facilmente revertidas. Nenhuma ação amorosa que envolva o triângulo Bill, Sookie e Eric Northman (Alexander Skarsgård) é feito sem que haja tempo e espaço para tudo se reverter. Até os movimentos vaginais da fada são previsíveis, anunciados eras antes de ocorrerem. A eterna saída do estranho triângulo amoroso ganha mais um par, como já era de se esperar. Seria ele uma fada-macho. O estratagema piora quando é revelado que a loirinha é, na verdade, uma descendente direta da Fada-Rei – e por isso um vampiro milenar estaria atrás do sangue dela, e, por consequência, havia matado os seus pais anos antes. Sookie é a Escolhida, o arquétipo mais pobre da literatura moderna e que, de tão importante para toda a trama, é simplesmente ignorado após este ano.
Paralelo a isto, Bill vai ganhando mais e mais poderes, podendo até prever o futuro. Logo, o governador da Luisiana declara guerra aos vampiros, retirando deles os deus direitos. Mesmo o que antes funcionava, agora é motivo para chacota. Os níveis de sutileza, que já eram baixos, praticamente inexistem neste momento. Mas nem essa questão de Lilith/Bill consegue influenciar nos outros dramas pessoais.
Mesmo diante do iminente fim do mundo, ainda há espaço para as porcas batalhas pessoais de transmorfos, lobisomens, fadas, bruxas, macacos falantes, elfos, ogros, orcs, meta-humanos etc. Em determinado momento, até as regras básicas, inclusive até a mais rasa delas, das raças mágicas são deturpadas, sem qualquer cerimônia ou justificativa. É como se a inteligência do espectador não fosse realmente importante, como se qualquer balela pudesse ser engolida facilmente unicamente pela exibição de corpos belos e sarados.
Em meio à temporada, levanta-se uma possibilidade de extinção dos vampiros através da disseminação de uma doença nova, que se vincularia à fórmula de Tru Blod e que seria comercializada, é claro. A ideia seria a de matá-los, num plano parecido com uma teoria da conspiração. Em dado momento, parece que tudo é permitido, e, após uma série de horríveis mortes, os vampiros conseguem, através de um retcon absurdo, andar à luz do dia. No momento de descanso, os seres noturnos jogam vôlei despreocupadamente, como se todo o apocalipse que os envolveu horas antes não tivesse existido.
Um semestre inteiro se passa, e, após mais uma batalha entre bem e mal, uma nova cidade surge com configurações políticas das mais toscas, numa pretensa e utópica reunião politicamente correta – entre humanos, vampiros e demais criaturas mágicas – que visa estabelecer benefícios mútuos, combatendo os malvados sugadores de sangue contaminados pela Hepatite V. Como num final de novela, todas as pontas soltas de cunho emocional são amarradas. Tara (Rutina Wesley) faz as pazes com sua mãe; Bill escreve um livro sobre sua vida; Sam Merlotte (Sam Trammel) vira o prefeito da cidade e se une às duas igrejas para abraçar o povo; e Sookie passa a namorar Alcide (Joe Manganiello). Essa paz torna irrelevantes as motivações do fim do quinto ano e o começo deste e transforma a boa premissa dos livros de Charlaine Harris em algo infantilizado.
Em contraponto, a faceira paz é logo interrompida no primeiro episódio do ano sete, com um ataque voraz de vampiros infectados, com baixas enormes. Logo de cara, personagens longevos morrem sem qualquer cerimônia e raptam tantos outros. Os vampiros que atacam Bon Temps já haviam feito o mesmo em outras cidades, drenando tudo delas, exterminando os humanos como se nada fossem. O estado de sítio se instala. Os humanos começam a agir desesperadamente, passando por cima de suas autoridades para se armarem, traçando um paralelo que pode ser interpretado como uma crítica a um povo que não tem governo, que age por instinto por não ter ninguém para instruí-lo, vociferando de modo anárquico, invalidando sua luta por direitos igualando os seus atos aos de um simples bárbaro.
Incrível como mesmo em meio a toda essa problemática, permanece fácil notar o quão mal construídos foram alguns dos alicerces da trama. Como exemplo máximo está a relação de Sookie e Alcide. O tempo todo, o romance deles parece falso, já que não houve quase tempo nenhum em ambientar o par dentro do episódio.
Na sexta temporada, cada um deles se preocupa em trepar com outras pessoas para, nos 20 minutos finais, arquitetar uma união que passaria pelo anúncio de letreiro onde está escrito “seis meses passados”. Ademais, ao menos o roteiro deste ano é um pouco mais elaborado, mais preocupado com a premissa prometida no começo da série, onde a disputa ideológica entre vampiros e humanos era a real tônica.
Logo a hepatitve V deixa de ser um tabu que contamina somente os vampirões vilões da trama, mostrando os principais vampiros do seriado como infectados. Eric e Bill têm de conviver com a “verdadeira morte”, que finalmente se avizinha. O antigo viking vai em busca de Sarah Newlin (Anna Camp), buscando vingança pela disseminação do vírus, e em meio à investigação encontra membros da Yakuza, que também a querem morta. Para variar, a questão que a envolve mostra um novo sub-plot, que inviabiliza seu assassinato graças à possibilidade de cura para a doença. Logo um estratagema capitalista se forma, no intuito de comercializar um novo produto com a patente do soro e com a imagem de Northman estampando os comerciais.
Diante da possibilidade de cura da hepatite, Bill prefere não lançar mão dela, penitenciando-se por seus pecados mais recentes, principalmente o de ter matado indivíduos de sua espécie. Sookie vê seus antigos pares se despedirem, primeiro o vampiro; depois Sam Merlotte, que decide se mudar de sua cidade natal, do seu antigo bar e de seu cargo político para criar sua filha que viria à luz logo. Unindo ao finado Alcide, já somavam três que se despediam dela.
True Blood é basicamente sobre o despertar sexual de Sookie Stackhouse e o modo como a mulher se liberta. O fato de Sookie ser uma fada é uma metáfora para a feminilidade e o largo direito da mulher ser sexualmente ativa, e isso explica o motivo da personagem ter tantos parceiros sexuais ao longo dos sete anos de exibição. Porém, tanto os eventos sociais, que reúnem as diversas raças, quanto as inserções espirituais de Lafayette (Nelsan Ellis) permanecem abordadas de um modo infantil e boboca, com discursos e diálogos dignos da novela chapa branca exibida secularmente após as cinco da tarde na Vênus Platinada.
A decisão de Bill em morrer é encarado por sua amada como um suicídio, mas na mente do vampiro é um retorno à sua antiga família, que está toda sepultada. Sua lápide vazia o incomoda, e a sensação de que a morte é certa o faz se reaproximar deles. No entanto, ele ainda pensa em Sookie, pedindo para que ela o mate com a sua energia vital, o que o livraria da condição de vivo e eximiria a moça da condição de fada, e de possível presa de outros vampiros. No último momento, o vampiro mais focado da série consegue inverter o papel de protagonista, uma vez que – finalmente – a manipulação plural de assuntos é deixada de lado para finalmente evidenciar apenas um tema. Deixa-se um espaço pequeno para todo o esquema esquizofrênico que pleiteou o seriado, a exemplo do casamento de Jéssica Hamby (Deborah Ann Woll) e Hoyt Fontenberry (Jim Parrack) que ocorre pela manhã – sim, uma das partes é um vampiro… – mas que, se comparado ao epitáfio de William Compton, não é nada. As características de folhetim novelesco prosseguem na essência do seriado.
Nos momentos finais, Sookie Stackhouse consegue enfim se entender e aceita deu destino, seus poderes e dádivas como parte integrante de sua identidade, mas ainda assim não consegue convencer o homem que foi o seu primeiro a prosseguir vivendo. O fim dele não é melancólico. A morte é deveras grotesca e sanguinolenta, como um bom romance deve acabar.
Claro que, logo após, acontece um epílogo com um salto grande no futuro. Eric Northman torna-se CEO da nova empresa New Blood, que explora o sangue de Sarah Newlin em ritmo industrial. Mas o vampiro ainda necessita de um clube como Fangtasia para chupar cada centavo das criaturas que querem usufruir da fonte máxima que era a ex-mulher do reverendo – curioso como a mesma Yakuza, que foi sabotada pelos vampiros, não mira seus olhos para o viking. Isso pouco importa…
Do outro lado, mostram-se humanos que restaram da primeira temporada se reunindo, com suas famílias feitas, repletos de filhos, como um gigantesco clã – isso sem revelar quem seria o par de Sookie –, numa reunião vergonhosa e açucarada, sem dúvida um dos momentos mais patéticos da série, condizente, e muito, com todos os anos da produção.
Infelizmente, o saldo final de True Blood está longe de ser positivo. A audiência do programa na HBO sempre foi alta, ainda que isso não seja necessariamente uma chancela de qualidade. De fato, a série de Alan Ball conseguiu em plena era Crepúsculo elevar o tema dos vampiros a algo além do aroma de virgindade e garotismo que predominava a saga de Meyer e companhia, já que a sexualidade foi a tônica do show, presente e regular em todos os seus anos de exibição.
Entender que não haverá mais nenhuma criatura fantástica (diferente) adentrando a pequena cidade de Bon Temps, que não existirão outras orgias de cunho bi e pansexual, que não acontecerão mais qualquer bestialismo ou liberação erótica entre raças tão diversas, e que as aventuras dos personagens de Charlaine Harris não mais habitarão os domingos da emissora, que mudou o paradigma de se ver televisão, é algo ainda difícil de se acostumar. Mas para o fã mais seletivo de True Blood, o fim era necessário, antes que suas aventuras fossem mudadas a paragens mais distantes e nonsenses, como a Lua ou Marte.
A nudez de Anna Paquin já não mais será uma constante.