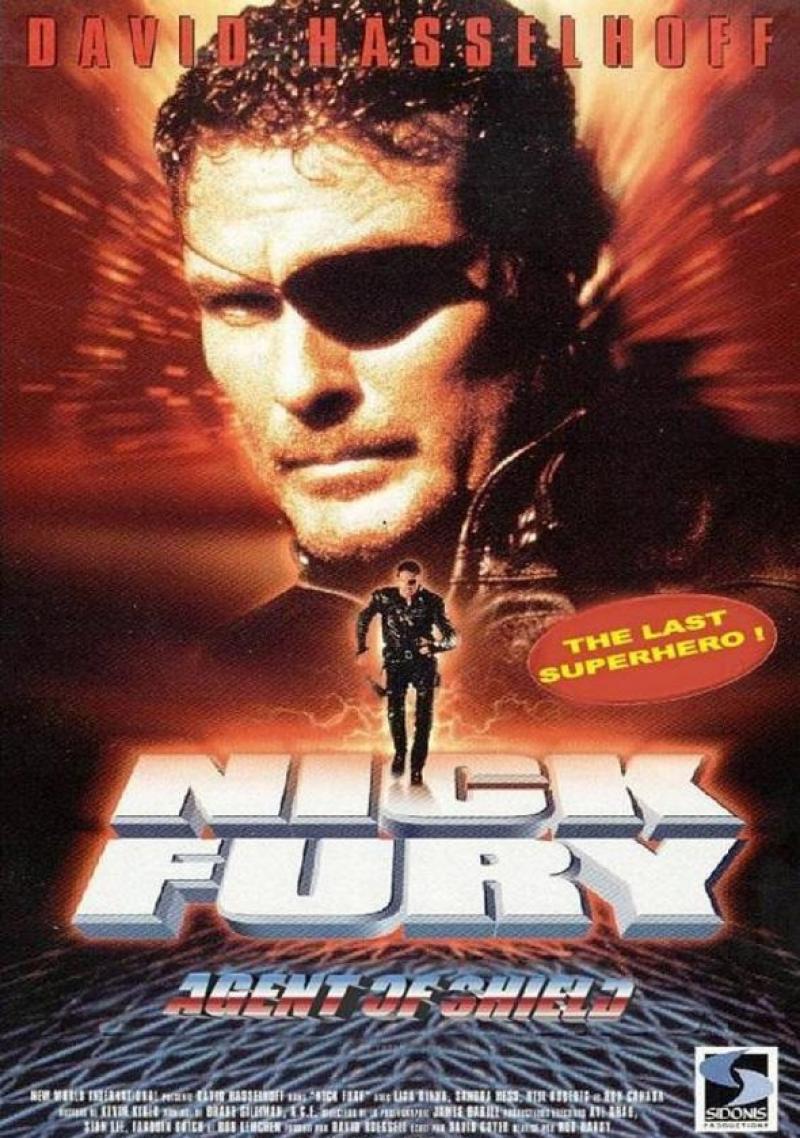O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio começa simples, com uma gravação de sua heroína, a Sarah Connor de Linda Hamilton, que estava ausente desde o 2º filme, ainda no manicômio falando a respeito do dia do Juízo Final, em 1997. A gravação a fazia parecer paranoica, mas ela era autoritária, forte, bem resolvida e durona, e a escolha por começar esse sexto episódio da franquia no cinema, que relembra outras cenas clássicas, inclusive fazendo uma rima visual que, apesar de ser um recurso clichê, aqui combina demais, com as comparações das diferentes praias, uma no caos futurista e outra na calmaria pré tragédia pessoal.
Uma das maiores preocupações por parte dos fãs, era se Tim Miller conseguiria repetir os bons momentos de O Exterminador do Futuro e O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final no quesito ação, e ao menos nesse sentido, não há do que reclamar. Os 20 minutos iniciais são de uma ação frenética absurda, e mesmo os efeitos especiais soam naturais, bem melhor do que o rejuvenescimento de O Exterminador do Futuro: Genesis, que visto hoje, faz Arnold Schwarzenegger parecer realmente um boneco mal feito.
A introdução dos novos personagens é um pouco apressada,mas o ritmo acelerado faz com que o estranhamento seja facilmente driblado. Tanto Grace (Mackenzie Davis) quanto Dani Ramos (Natalia Reyes) são personagens que parecem um pouco apagadas, mas até para manter o mistério em torno delas, faz sentido isso ocorrer. A luta que Grace tem com o Exterminador REV-9 de Gabriel Luna é sensacional, em especial a sequencia na estrada, pós saída da fábrica, uma pena que boa parte desses momentos já tivessem sido antecipados no material de divulgação.
Hamilton, no presente do filme, acrescenta demais a trama, seja no espírito de guerrilheira que ela veste, como no aspecto de heroína de ação que prosseguiu evoluindo, tal qual foi em T2. Aliás, o núcleo de protagonistas ser todo formado por mulheres é um aspecto muito bem vindo, e ela que faz lembrar os momentos mais legais de mulheres badass do cinema recente, quase como uma Charlize Theron mais madura, uma evolução da Imperator Furiosa de Mad Max: Estrada da Fúria e da espiã de Atômica.
O roteiro de David S. Goyer, Justin Rhodes e Billy Ray não é primoroso. A historia se perde um pouco ao não causar muito impacto com aspectos novos da franquia, e com essa outra versão do destino da humanidade. Talvez a quantidade grande de roteiristas e de argumentistas ( foram cinco, incluindo o produtor James Cameron) tenha ajudado a diluir essa importância que deveria ter sido dada. Além disso, há uma reciclagem tanto da trama de T2, quanto de muitos aspectos das continuações que foram “descanonizadas”. De O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas, há o conceito de uma mulher viajando no tempo e sendo badass, de O Exterminador do Futuro: A Salvação, o conceito de um humano aprimorado e de T: Genesys, a questão do envelhecimento do tecido orgânico do T-800 de Arnold.
Apesar de se valer demais de flashbacks – o que é ruim – ao menos é possível observar como essa versão do futuro é suja, lembrando inclusive Aliens: O Resgate em boa parte dos aspectos, mostrando que Miller é muito reverencial ao legado de Cameron. No entanto, a repetição de ciclos, com mulheres sempre se sacrificando pela sobrevivência da humanidade, não é tão bem traduzida para a parte da nova geração. Ao menos, o sub plot do T-800 é bem legal, e faz sentido mesmo com a suspensão de descrença. Se as máquinas são capazes de se revoltar e exterminar os homens, não há porquê elas não evoluírem ao ponto de criar uma espécie de ética própria, ainda mais se essa máquina não tiver nenhuma ordem ou comando. A mensagem sobre propósitos e a necessidade de tê-los é um pouco piegas, mas não chega a ser ofensivo, até porque Schwarzenegger está engraçadíssimo, à vontade como há muito não se via.
Exterminador do Futuro: Destino sombrio acerta demais nos aspectos ligados a action movies, tem sequencias de luta muito boas, um bom vilão, que não deixa tanto a desejar para o T 1000 de Robert Patrick, e que tem em Linda Hamilton sua âncora, com uma atuação muito tocante e inspirada da veterana atriz, com um desempenho tão bom que quase faz esquecer que Reyes e Davis não estão tão bem.