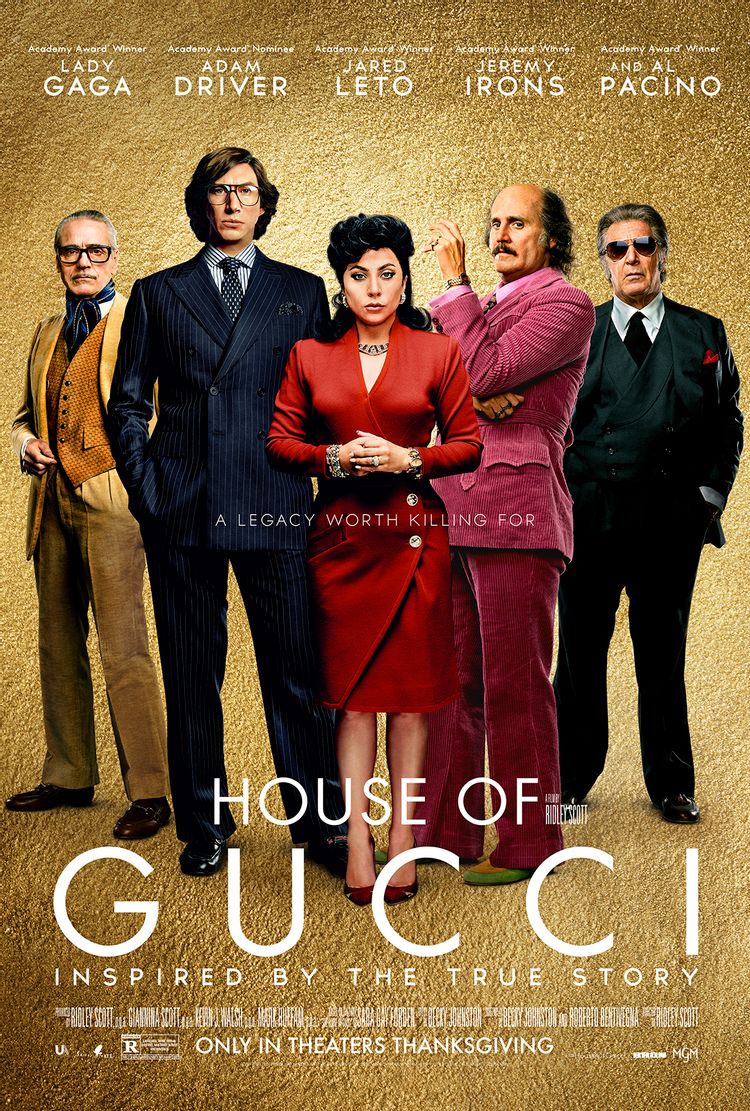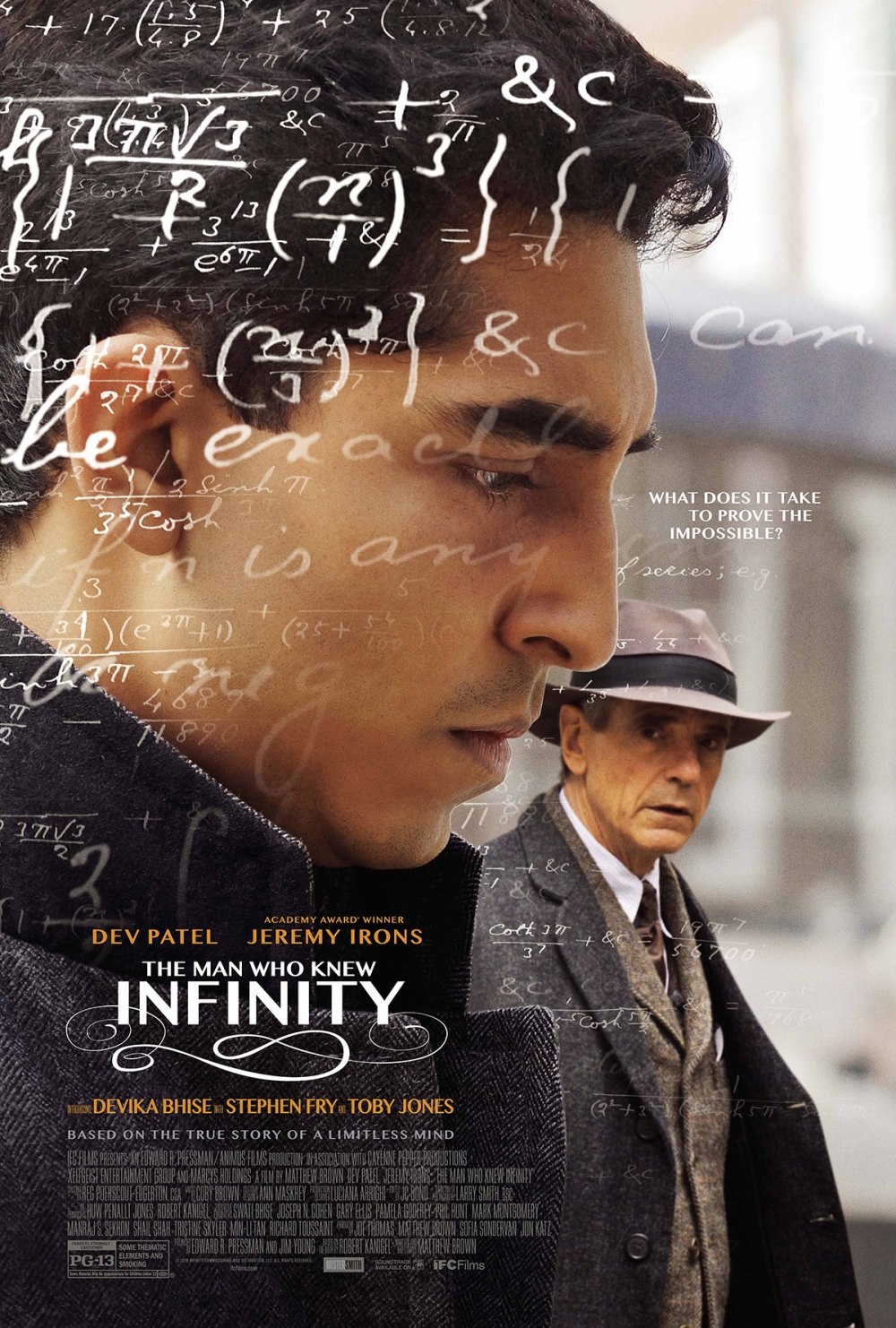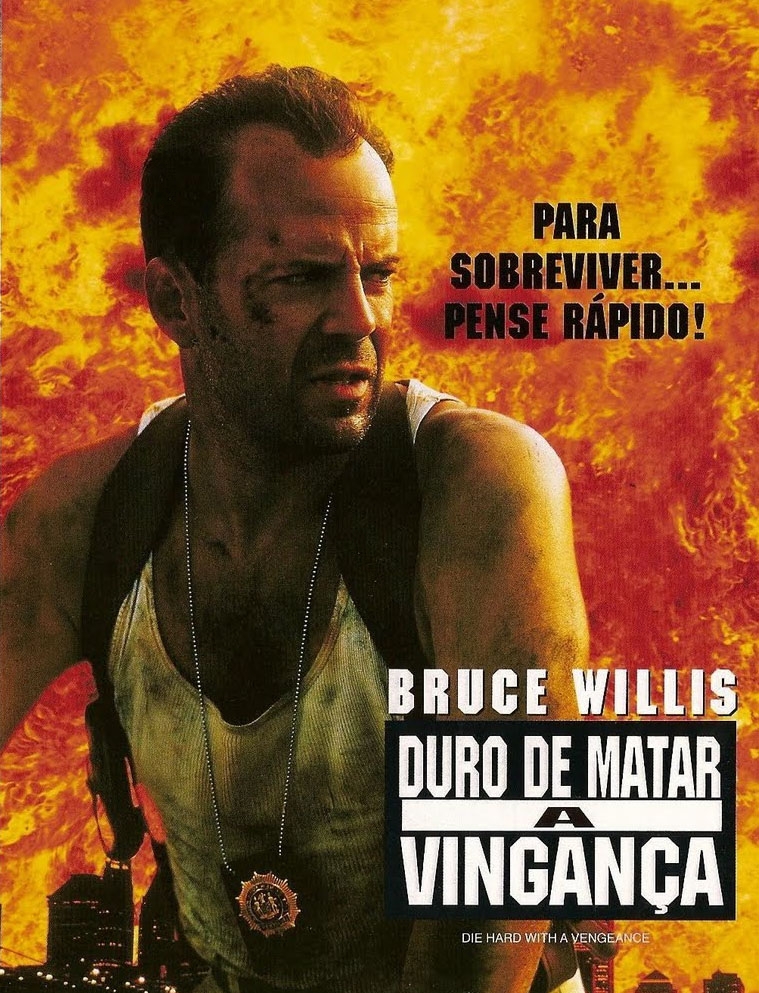Serie dramática do canal Showtime, Os Bórgias, assinada por Neil Jordan, narra a história do polêmico religioso Rodrigo Bórgia e sua família, conhecidos por sua luxúria e ganância. O programa estrelado por Jeremy Irons ficou notadamente conhecido por conta do ator, dado que em 2011 não era tão comum grandes atores do cinema migrarem para a televisão. Já na primeira temporada, acompanhamos Rodrigo (Irons) se tornando o Papa Alexandre VI.
Apesar de sua nacionalidade espanhola, isso pouco importa para a série. Os Borjas/Bórgias são uma grande família com três filhos adultos: o primogênito e também padre Cesare, de François Arnaud, que passa o programa tentando largar o manto religioso para ser um líder de exército; a filha Lucrécia (Holliday Grangier), uma bela e lasciva moça de aparência virginal e tendências incestuosas com o primeiro filho; o inconsequente e cruel Juan (David Oakes).
Jordan dirige o piloto e brinca com a visão do espectador, colocando a câmera em lugares específicos, sob a ótica e perspectiva de algumas criaturas, como a gaiola do pombo-correio que leva as informações sobre os votos necessários para que Bórgia vença a eleição ao papado, ou a de outras figuras subalternas dentro desse xadrez político.
Há algumas boas cenas de ação, inclusive de batalhas. Os exércitos do Papa e de outros países tem uma boa representação. Visualmente parecem realistas como bons filmes de época. A recriação de cenários e figurinos também impressiona. Porém, os efeitos de computação gráfica decepcionam, apesar da direção de arte compensar esses momentos.
A série subverte temas como o machismo com uma astúcia grande, exibindo mulheres fortes capazes de manipular e dominar esse mundo comandado por homens. O primeiro ano termina com humilhações públicas e a ascensão da família que dá nome ao seriado. Com o tempo os episódios ganham tons mais “adultos”, desde cenas de nudez à violência.
Durante o decorrer das temporadas, Rodrigo muda, passa a ser mais temente a religiosidade, mas não demora a retornar ao seu estado de escárnio com o catolicismo. Os personagens vão perdendo suas condições básicas de vida, inclusive o controle de suas faculdades mentais e até partes substanciais das memórias. É como se uma maldição caísse sobre eles, incluindo o avanço das questões relacionadas ao incesto. De todas as tramas, romances, traições e problemas tratados, certamente o mais focado no último e terceiro ano é a exploração da fé por parte dos políticos e poderosos de Roma.
O seriado teve três temporadas sendo interrompido de forma abrupta, com apenas 29 episódios, tendo sua trama terminada em um ebook, fato que impede boa parte da audiência de saber o que aconteceria com os personagens, até por conta das muitas liberdades tomadas pelo roteiro. O que se observa no período em que ficou no ar é uma história em que o conservadorismo, a política e a hipocrisia sempre andaram juntos.
Os Bórgias termina abruptamente, e nas temporadas seguintes lidaria com a morte do Papa e sua tentativa de se confessar para salvar a própria alma, porém sem sucesso. Diz-se também que teria uma participação maior do escritor Nicolau Maquiavel que se tornou personagem recorrente. É curioso como a série estreou no mesmo ano que Game Of Thrones, com semelhanças de tramas, contudo sem a mesma popularidade. Ainda assim, mesmo com os muitos defeitos em sua produção, a série de Jordan e da Showtime tem ótimos momentos.