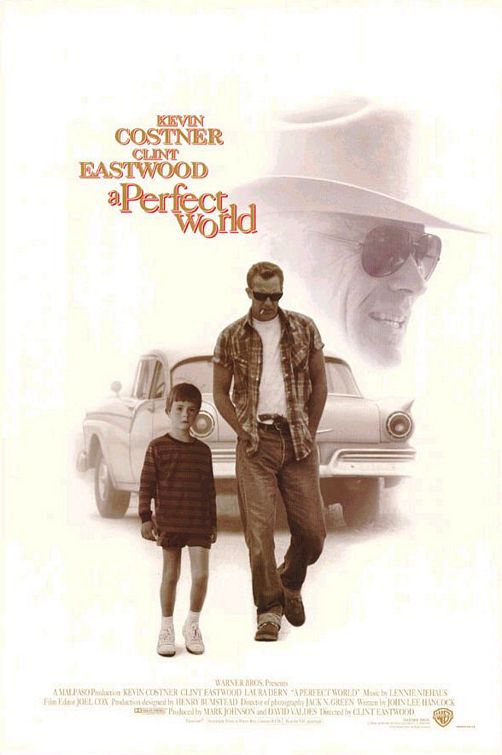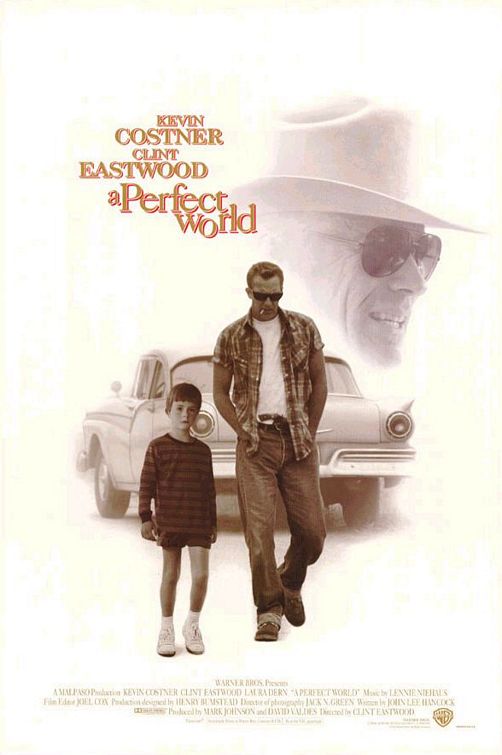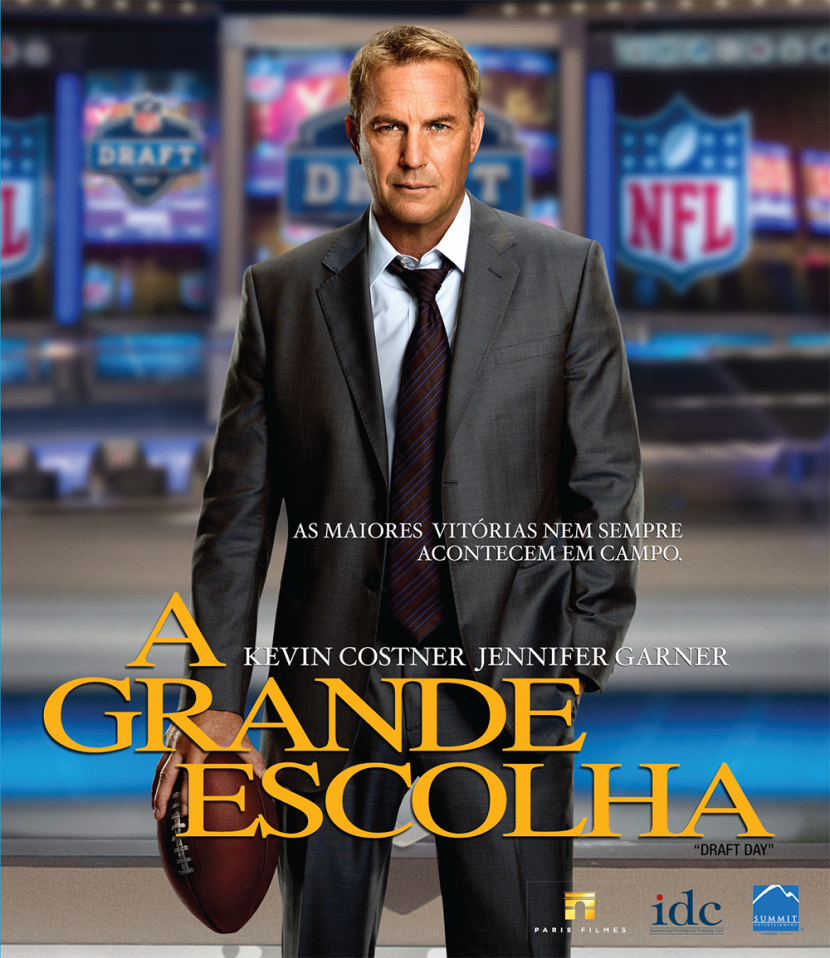A infeliz morte de Sir Sean Connery, já do alto de seus 90 anos reacendeu em seus fãs do ator a vontade de revisitar e entender sua filmografia. Certamente entre esses, um dos mais vistos e analisados foi Os Intocáveis, filme de 1987 dirigido por Brian De Palma, que se tratava de um refilmagem do seriado homônimo dos anos 1950 envolvendo um grupo de elite que desmantelaria o cartel de Al Capone. Para entender o filme e o fenômeno, é preciso mergulhar nos materiais adicionais, bastidores e o contexto da época.
Em documentário de making off, De Palma aborda um pouco do insucesso financeiro de seus últimos dois filmes Quem Tudo Quer, Tudo Pode e Dublê de Corpo, então, quando o roteiro de David Mamet via Paramount caiu em suas mãos, ele resolveu tentar desenvolve-lo. Mamet se baseou na série homônima, chamada aqui também de Os Intocáveis, iniciada em 1959. De Palma não gostava da série, e ele só aceitou participar após Art Linson garantir que ele poderia fazer o que quisesse, e basicamente, o filme aborda o primeiro capítulo do programa, que consiste na prisão de Al Capone.
Mamet era um grande nome na época, um escritor promissor, responsável pelo roteiro de Jogo de Emoções e anos depois faria Mera Coincidência e Hannibal. Com o diretor escolhido, foi decidido reduzir o número do esquadrão de elite para quatro (eram oito, a contar com Eliot Ness). Alguns desses personagens foram até desmembrados, divididos em dois ou mais como o veterano ex-fora-da-lei Joe Fuselli, que reúne em si elementos tanto de Malone como de Stone/Pettri, seja pelo fato de ter origem italiana como o personagem de Andy Garcia, ou de ser uma espécie de mentor que rapidamente perece, como o personagem de Connery.
Kevin Costner nem sempre foi a primeira opção para o papel de herói, um dos nomes pensados foi Mel Gibson, que não pôde por questões de agenda. O intuito do estúdio era encontrar um rosto conhecido, como era também o desejo de que Michael Corleone em O Poderoso Chefão fosse alguém mais experimentado que Al Pacino, e em ambos os casos, a escolha dos diretores foi correta, Costner consegue transparecer uma mistura de ingenuidade da luta pelo bem a qualquer custo, com uma crescente malícia de quem aprende a agir nas ruas.
Já Charle Martin Smith foi escolhido por conta de seu papel em Loucuras de Verão, de George Lucas. Seu Oscar Wallace é baseado num sujeito real, Frank Wilson, que também era contador, mas ficava longe da ação, já Garcia conseguiu por conta de Morrer Mil Vezes de Hal Ashby, onde faz um vilão. Para De Palma e os outros produtores, Connery era a única pessoa que caberia na função de mentor e conhecedor das ruas de Chicago, e sua dedicação foi total, inclusive na sua cena de morte, que foi a primeira em que ele teve que lidar com sangue falso.
Limitações orçamentarias fizeram a produção pensar em Bob Hoskins para o papel do vilão, até De Palma já havia se conformado, de certa forma. A insistência em Robert De Niro como alvo primário ocorreu mesmo com o alto custo de seu salário e com a problemática dele só ter duas semanas para gravar. Foi De Niro que viabilizou o visual de seu personagem, usando a mesma equipe que tratou do envelhecimento de seu personagem em Era Uma Vez na América de Sergio Leone. De Palma reclamava que ele não expressava muitas emoções em seu personagem, e De Niro afirmava que aquilo era o ideal e mais condizente com Capone. As sutilezas só foram percebidas na pós-produção, onde ficou claro que o ator tinha uma intimidade com a câmera, e nem mesmo um diretor experimentado como De Palma percebeu isso de imediato.
Stephen H. Burum, responsável pela fotografia resolver filmar em Cinemascope. A decisão por esse artifício se deu após ele pesquisar muito sobre a época e como a cultura dos anos trinta e quarenta era traduzida ao público. Foi dele a ideia de repetir muito os carros nas ruas a fim de expressar em tela uma tendência de consumo da época. Outra grande ideia foi o uso da lente angular na cena da igreja, onde as mãos de Connery e Costner parecem maiores, aumentando o simbolismo de que são seus atos que tornam Chicago um lugar mais limpo e justo, e não havia lugar melhor para isso do que utilizar uma igreja como cenário.
Sobre a cena da morte do contador Wallace, Martin Smith fala que De Palma optou por não colocar muito sangue, em respeito a figura frágil e correta do personagem, exageros não seriam bem-vindos. A composição visual em torno de Capone é precisa e quase divinal, a escolha por sua cena de abertura ser filmada de cima com pessoas o servindo, fazendo as unhas, barbeando ou meramente entrevistando-o já dá noção de sua imponência e onipotência, ele não era o grande “empresário” de Chicago, mas o Deus da cidade. Havia uma cena cortada, onde repetiram a cena do início, com Capone sendo barbeado, e quando saísse do Plano Detalhe, se perceberia ele preso, mas foi retirada do filme na última hora, pois a escolha foi a de valorizar os policiais, os reais intocáveis, os que tiveram coragem de enfrentar o chefão do crime organizado de Chicago.
Com o desfecho de Os Intocáveis se abriu a possibilidade para mais aventuras depois da queda de Capone, mas o filme praticamente reduziu essa chance a zero no cinema, afinal sem o Malone de Connery tudo seria bem mais melancólico e depressivo, e é fato que o cinema hollywoodiano tem dificuldade em não transformar sucessos em franquias, e ainda bem que este não teve novas sequencias, pois este trabalho do diretor está entre os mais elogiados, ao lado de grandes atores e em uma sinergia poucas vezes vistas no cinema.