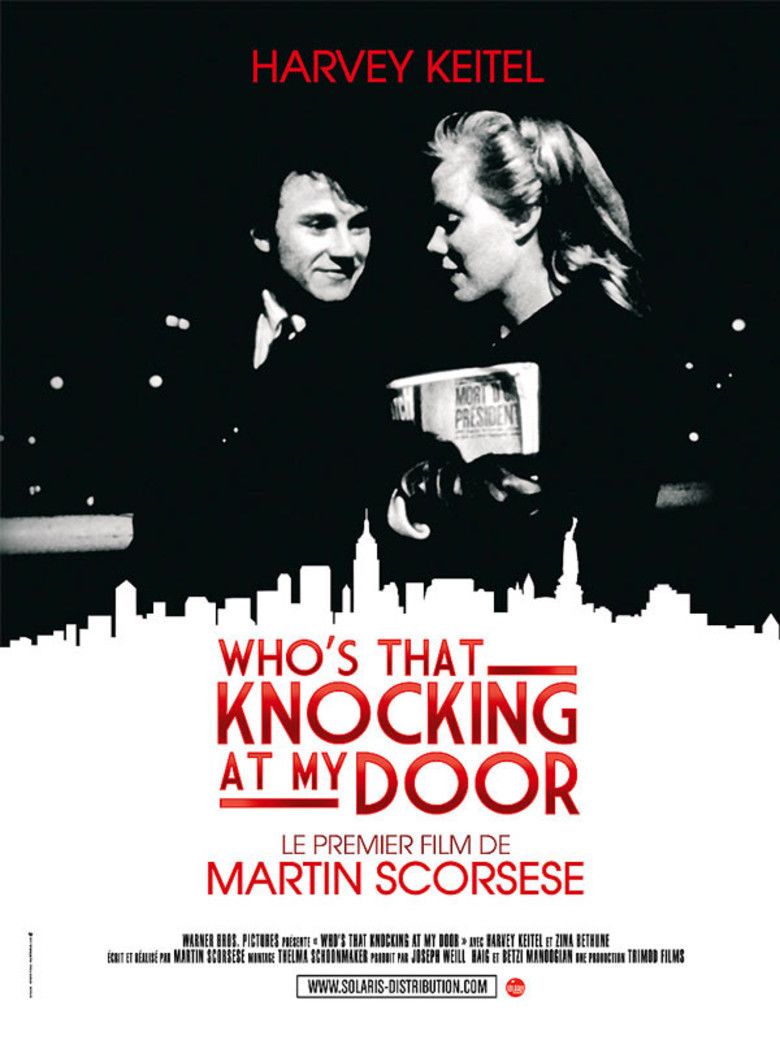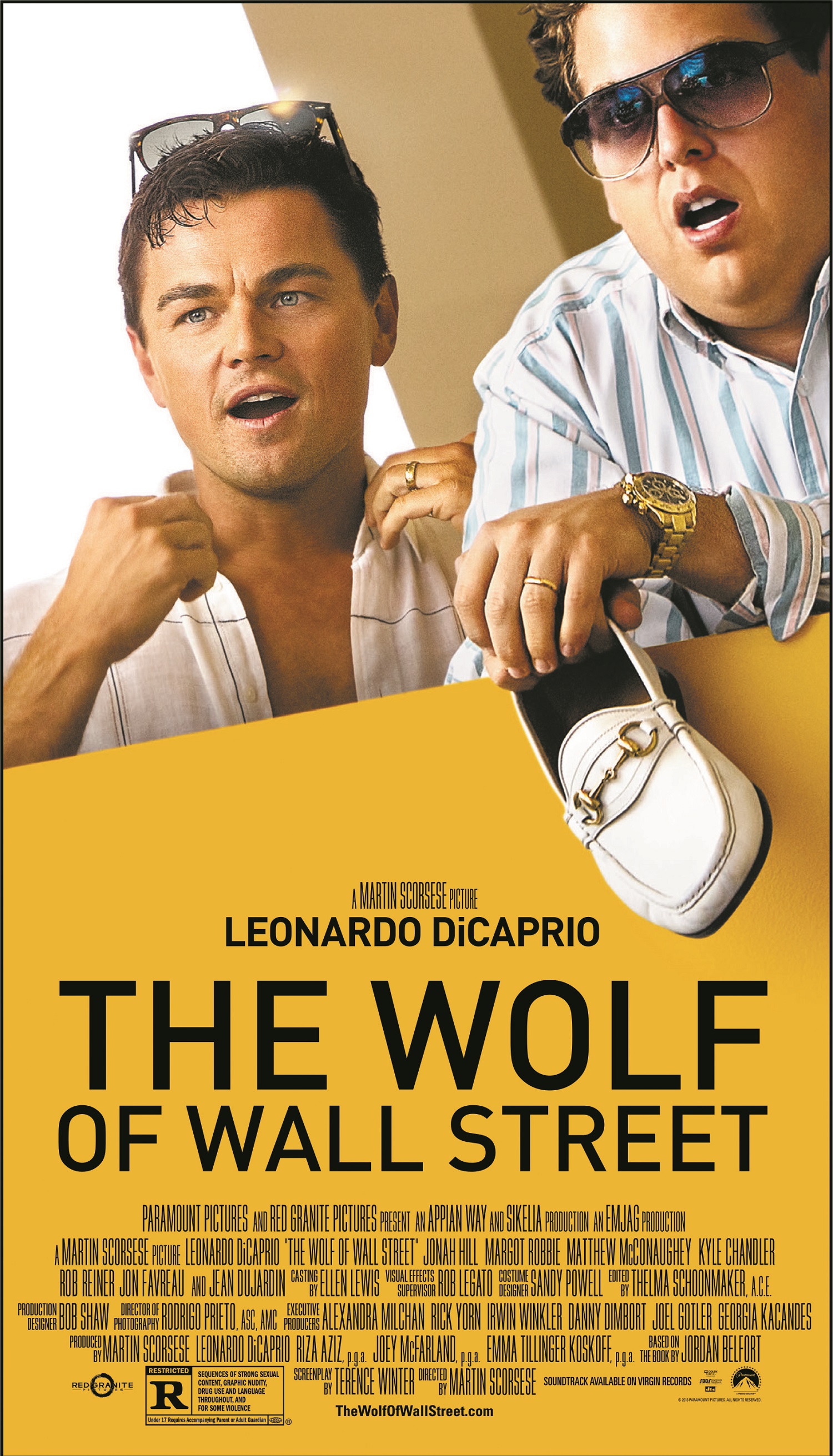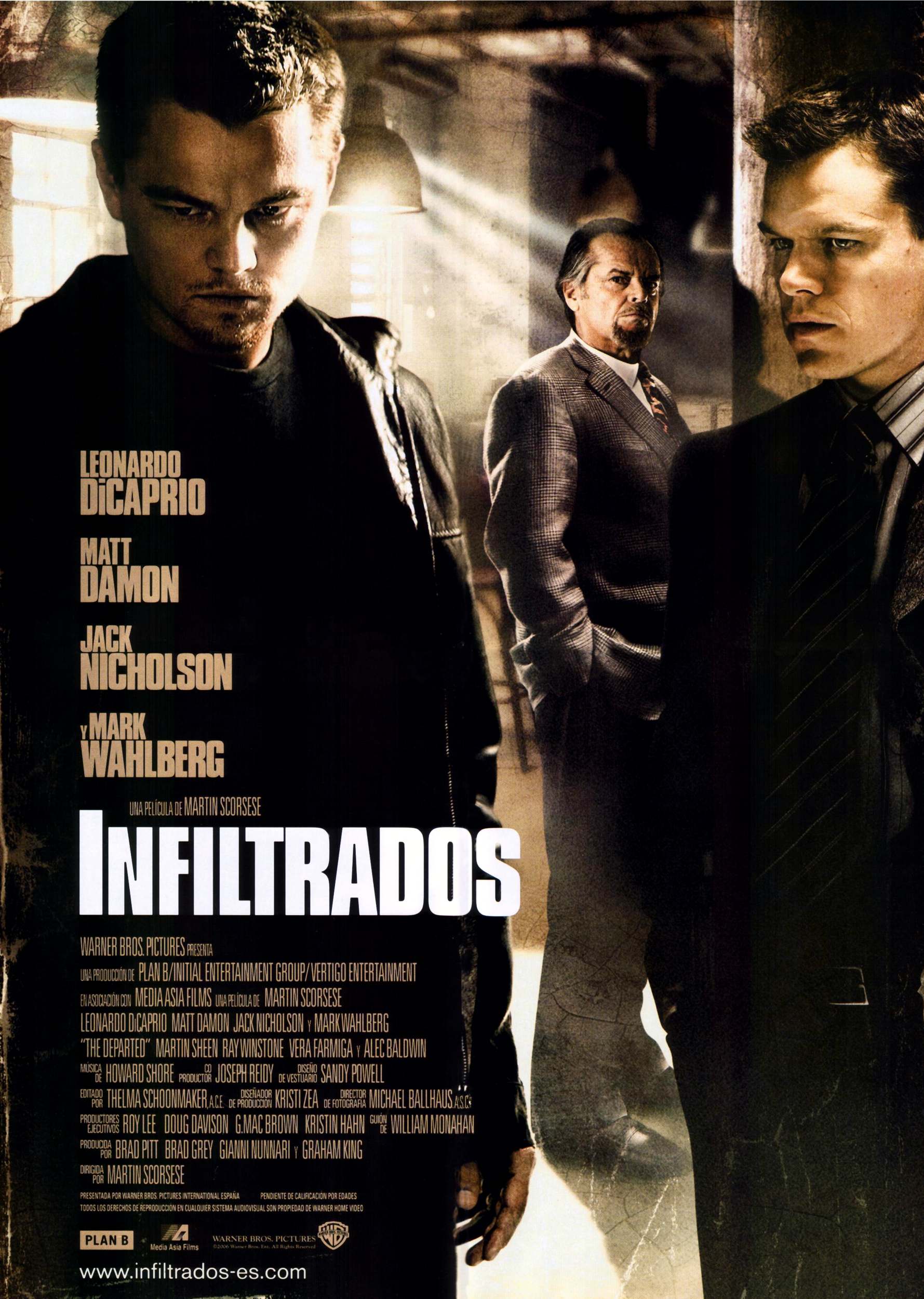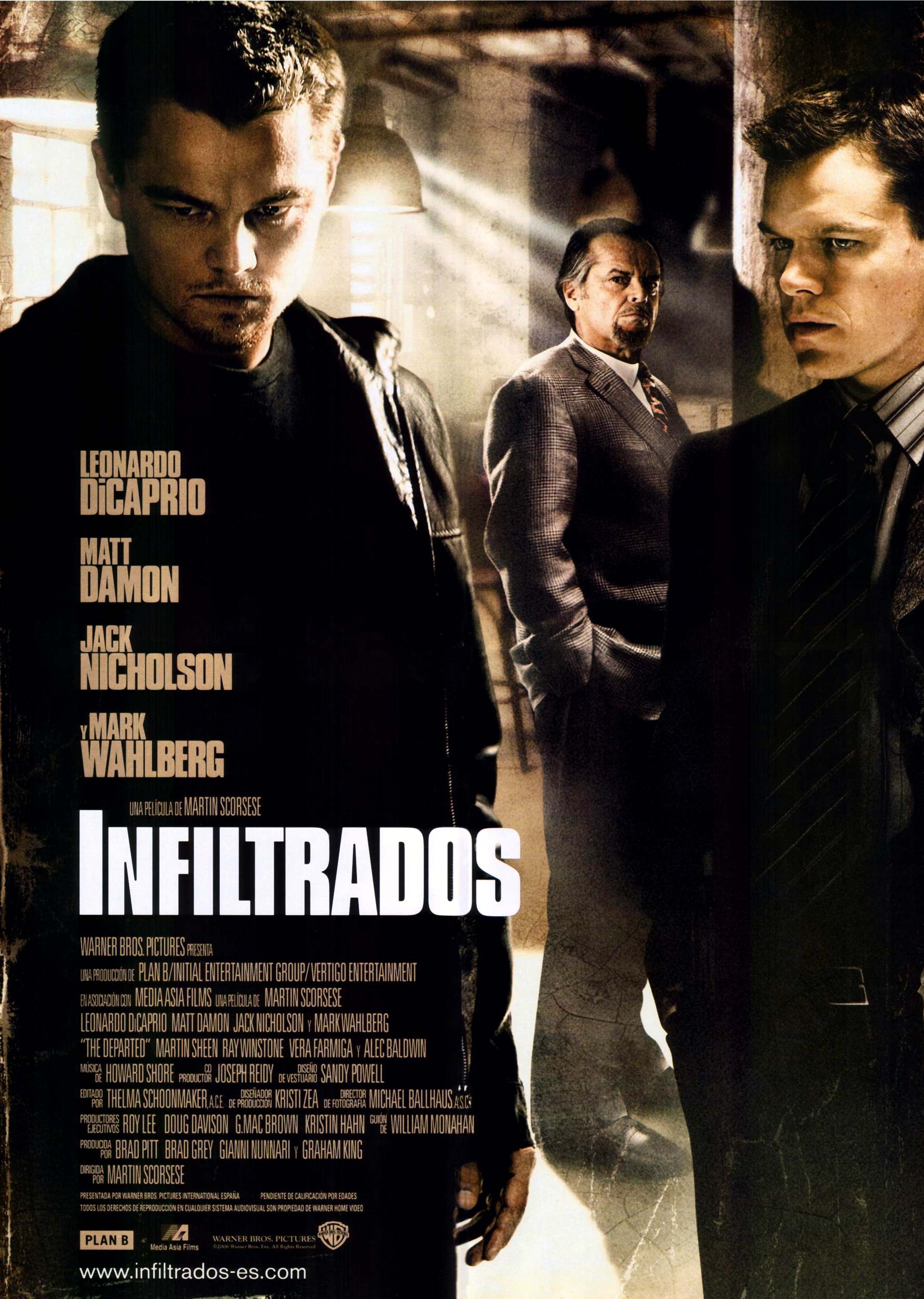Crítica | New York, New York

A única coisa creditável em New York, New York, um dos pouquíssimos clássicos superestimados de Martin Scorsese, junto dos frágeis Kundun e A Época da Inocência, são na verdade duas: O brilho absolutamente irresistível dos olhos de Liza Minnelli, e o fato de Robert de Niro não saber tocar saxofone, claro como o dia o quanto ele apenas maneja o instrumento, sem habilidade alguma no timbrar do mesmo. Em meio a um deserto de surrealismo imaturo, e mal aplicado, o filme de 1977 é a tentativa mais clara e deslocada de Scorsese de dialogar com o cinema mainstream de Hollywood, com um star casting e um visual mais apurados e trabalhados pra isso (nem tanto, na verdade). Junto do fraco Gangues de Nova York, a tão aclamada metrópole do diretor nunca pareceu tão falsa e tão estilizada como se mostra, aqui.
Tudo começa numa festa entre soldados e outras figuras, todos celebrando a vitória do Tio Sam logo em seguida das últimas bombas terem parado de cair, ao redor do mundo. Nisso, Jimmy conhece Francine, a cantora cheia de coração que atrai o músico egoísta de imediato. Uma história de amor a partir deste encontro infiltrando-se, como todas as outras da época, na frieza e nas lágrimas de toda uma nação ainda refém da dura veracidade eternizada, hoje, nos livros de história. Um romance no maior estilo A Dama e o Vagabundo encaixado na última cena de O Resgate do Soldado Ryan, quando o veterano de guerra vê o quanto que o tempo passou, como o mundo mudou. Pretexto perfeito para Scorsese tentar animar o mundo a partir da Big Apple, colorir os ânimos a partir da principal personagem do filme: Nova York. Nós, enquanto espectadores, sabemos disso, mas alguns de nós podemos ter uma séria dificuldade em sentir o mesmo.
A intenção central do realizador na verdade foi mais que recolorir o mundo pela vibração da música, ou da voz de Minelli, mas foi ambiciosa demais: Evidenciar o impacto da segunda guerra na cultura dos EUA, e em plena efervescência metropolitana que a Nova York do pós-guerra oferecia. Não que Scorsese não domine qualquer tema, sendo o mestre indiscutível que se tornou no cinema americano, mas sente-se a cada momento a indecisão confusa, e pesada, um tanto insensível também, sobre como injetar a ficção que a música representou na realidade dura e crua que a época oferecia, mesmo vivenciando o frescor que o jazz, as canções de cabaré e os artistas agregavam ao contexto histórico que arrebatou a normalidade nacional, ainda traumatizada pelo conflito de proporções globais.
Scorsese pretendeu subverter o lado feio da história, apegando-se apenas ao irreal? Pode-se dizer que não, o que explica, no desenvolvimento do equilíbrio narrativo entre o real e o ficcional, a longa duração de New York, New York. Provável indício acerca das indecisões em torno e dentro do projeto, afinal de contas, parece-se estar assistindo a perspectiva de dois apaixonados que veem o mundo de forma lírica, ao passo que isso não nos é bem comunicado também devido ao excesso de metragem, ao ponto da epifania apaixonante, e musical que Scorsese se esforçou em alcançar, e transmitir fique um tanto inalcançada, ou melhor, semi alcançada. Nós vivemos cada cena, mas é como se cada cena fosse apenas uma vitrine de algo que poderíamos, de fato, vivenciar, fenômeno certamente da incomunicabilidade que certos filmes apresentam. Talvez Scorsese e De Niro não tenham nascido para musicais, devendo muito na história do Cinema ao grande musical da década de setenta, o memorável Os Embalos de Sábado a Noite.
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.