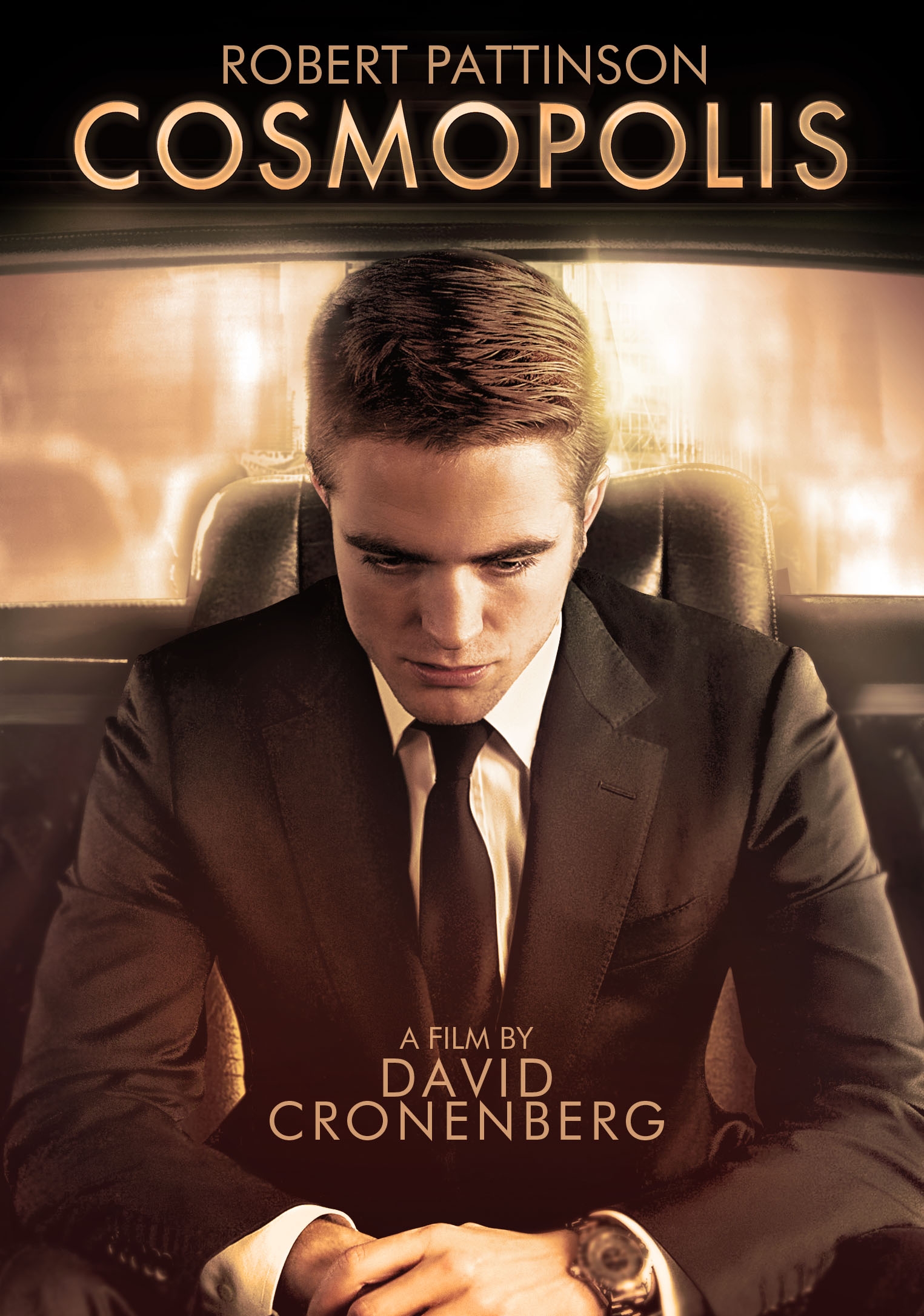Assinada pelo meio brasileiro meio estadunidense Antonio Campos, a nova produção da Netflix chega sem muito alarde em sua divulgação, apostando no elenco estrelado por Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgard, Sebastian Stan, além de Jake Gyllenhaal como produtor executivo. Baseado no livro homônimo de Donald Ray Pollack, que ainda atua como narrador no filme, O Diabo de Cada Dia é um thriller envolvendo uma série de tragédias que se conecta com a família Russel através de duas gerações, a partir do fim da primeira guerra mundial.
Inicialmente, o filme apresenta o personagem Willard (Skarsgard) e seu confronto com a fé após presenciar um soldado morto e crucificado na guerra, momento que faz questionar a existência de Deus e sua bondade, cortando então a relação com o Criador. Essa decisão persegue até a criação de uma família com Charlotte (Haley Bennett) e seu filho, Arkin (Holland). Temendo algo de negativo, Willard retoma seu laço com Deus e transforma sua negação religiosa em obsessão, realizando de forma violenta uma espécie de “pregação” em Arkin, principalmente após a descoberta de um câncer terminal em Charlotte. O núcleo entre a relação de Willard e Arkin se concentra em boa parte do filme e dialoga diretamente com os personagens das subtramas que permeiam o jovem interpretado por Holland. As consequências causadas pelo comportamento e suicídio de Willard criam um Arkin internamente conflituoso, entre rejeição e aceitação, mas aparentemente o único personagem com senso moral para enfrentar uma pequena jornada na perversa região de Ohio nos Estados Unidos.
A relação com a fé mostrada na apresentação da família Russel é ponto chave da trama, que de forma paralela introduz alguns personagens que futuramente irão cruzar o caminho de Arkin. É a partir dessas histórias que o filme constrói uma genérica crítica à religião e aos atos imorais justificados pela vontade de Deus, com estereótipos já conhecidos como o pastor pilantra que suborna os fiéis com sua devoção e outro com sérios problemas psicológicos que acredita ser um enviado do Criador, um policial corrupto e até mesmo um casal de serial killers presentes na cidade. Situados num mesmo recorte temporal, esses personagens não possuem desenvolvimento na trama, o que é mostrado são apenas as trágicas consequências de suas escolhas, que por ordem do universo colidem com Arkin num rápido intervalo de tempo, trazendo uma sucessão de confrontos que colocam sua vida em jogo.
A casualidade no roteiro no momento de conectar essas subtramas ao retorno de Arkin à cidade natal diminui a relevância do diálogo do filme com sua temática, transformando sequências de assassinato com o casal assassino ou a morte do cachorro em banais, expositivas em tela e vazias no discurso, funcionando apenas como choque visual. O filme que aparentava apenas se preocupar em mostrar momentos que despertam repulsa no público conclui-se nos duelos, que nesse momento já beiram o cômico dado ao desastre dos irmãos Sandy (Riley Keough) e Lee (Stan), indo contra o tom criado na primeira metade, mudando de um gótico thriller “caipira” para uma comédia de tragédias, claramente inspirada em Fargo dos Irmãos Coen, da mesma forma para sua estrutura narrativa.
Fechando o arco dramático de Arkin com seu pai, O Diabo de Cada Dia transforma Holland num anti-herói do interior, que enfrenta as piores tragédias de forma tão genérica que nos faz pensar se ele não é apenas um amaldiçoado por Deus apenas para testar os limites do que um ser humano pode sofrer durante sua vida na terra.
–
Texto de autoria de Mattheus Henx.