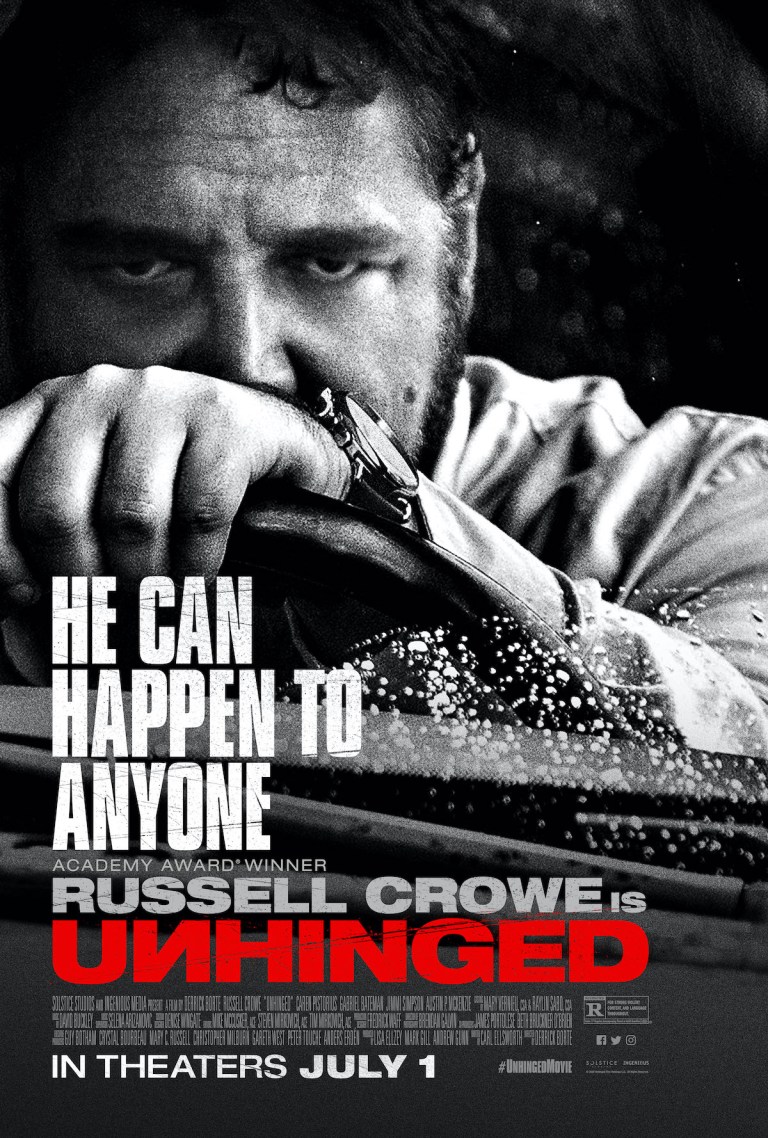O aclamado filme de Ridley Scott inicia-se introduzindo o espectador no contexto tirânico do Império Romano, com o avanço tático a Germânia sendo impetrado. As mãos do personagem principal, passando sobre a mata alta de sua plantação, remetem ao real desejo de seu coração de habitar as próprias terras em paz; distante do estado caótico que a guerra se impõe, onde a ocupação do estrangeiro ultrapassa os limites do aceitável, passando a ser uma obrigação erguida pelos superiores e passada ao exército por convenção, sem muita discussão dos porquês.
O discurso inflamado – O que fazemos em vida ecoa pela eternidade – não consegue esconder um descontentamento de Maximus (Russell Crowe), ainda sem o modus operandi do imperialismo, mas já portando um inexorável enfado em seu semblante. Analisando a jornada do herói de Joseph Campbell, o chefe do exército não seria o herói clássico, tampouco anti-herói, mas o arquétipo do herói falido, depressivo, que, apesar da adversidade e das belas cenas de combate introdutórias, guarda um ressentimento e azedume pelas ações que é levado a concluir. Quando ele hesita em matar um adversário, nota-se de maneira concreta sua insatisfação, depois proferida para que não haja dúvidas. Sua posição não é a de discutir métodos ou estratégias: ele é apenas um humilde servo, prostrado ante a vontade de Marcus Aurelius (Richard Harris), que está no final da vida, arrependido de tanto derramamento de sangue e especialmente preocupado com o seu legado, e se seria visto como um tirano de acordo com os olhos da História.
Qualquer fidelidade e compromisso com a cronologia histórica são varridos para bem longe, assim como foram em Coração Valente. De certa forma, há uma amálgama entre muitos períodos do Estado Romano após a ascensão de Júlio Cesar, ainda que tal influência não tenha sido jamais assumida pelos produtores do filme. Tal característica seria impensável para o nível de acesso a informação atual, passados 14 anos da exibição de Gladiador – ainda que o clima de redenção dos poderosos seja bastante atual nas grandes produções hollywoodianas -, e em se tratando de uma obra de caráter revisionista, de discussão do modo violento e arbitrário que os conquistadores tinham com o território descampado mundial.
Religião, crenças, sedução e ganância se misturam, tentando atravessar o caminho de Maximus. Focado, o soldado não deseja nada além de sua família, suas terras e sua vida simples no campo. A demora do filme em levá-lo ao lugar desejado é demasiado, fazendo do general mais uma vítima da burocracia e de um legado que não pediu para si.
A decisão de tornar Maximus o regente da República, retomando o panorama político anterior, é bastante fantasiosa, levando a trama para um lado semelhante ao visto em contos mitológicos, mas exibindo as piores facetas do espírito humano, como o amargor de alma do antigo herdeiro, Commodus (Joaquin Phoenix), que, ao perceber que perderia a sucessão do trono, cometeu o maior dos pecados – o que estava ao seu alcance -, ultrapassando qualquer limite ético e moral.
Ao se recusar a servir ao nefasto novo senhor, Maximus é condenado à morte. Seguindo finalmente seu senso de justiça, ele tem o revide proporcional à sua boa ação, pondo sua família em risco. Após escapar da pena imposta ao personagem, ele consegue a duras penas retornar ao seu lar para assistir, em meio a lágrimas e salivas, ao extermínio dos seus, na maior mostra de degradação em que ele poderia estar até então. De olhos fechados, carregado à força, o sujeito sofre a morte de sua antiga identidade, renascendo com outra alcunha, outro espírito e função social, ainda mais desimportante do que planejava.
Como em uma peça teatral, a divisão clara por atos permeia o filme, com uma virada no segundo tomo mostrando o herói falido como escravo, digladiando por sua vida e ganhando um sentido novo para a própria existência, ainda que a glória seja cantada ao nome que lhe deram. O Espanhol logo torna-se o mais carismático e amado guerreiro, exibindo uma tenacidade não antes vista nas arenas romanas, tão corajosa que visa, inclusive, desobedecer uma ordem imperial.
Diante de seu inimigo mortal, Maximus pensa em dar um fim breve ao opositor, mas se demove da ideia ao vê-lo com a criança que se afeiçoou. Após revelar sua real identidade, consegue ganhar uma pequena fama, a ponto de ter soldados novamente dispostos a levantar sua bandeira, além de ter uma ajuda real por meio da apaixonada Lucila (Connie Nielsen), cujo amor incestuoso de Commodus não é correspondido. As coincidências do roteiro são coladas por uma liga demasiada fraca, conveniente demais aos desejos e desígnios do protagonista.
Como se esperava, o megalomaníaco plano do gladiador em aplicar um golpe de estado no soberano tem seu destino selado. A grandiosidade e magnificência dos cenários da história e do Ethos de Maximus são elevados a patamares quase infinitos, mas perdem seu peso pela disputa final, disfarçada de embate físico desigual. A justiça dificilmente teria seu lugar no combate entre as contrapartes, entre os dois “filhos” de Marcus Aurelius. O problema é o quão apelativo é o confronto épico, banalizado pela teatralidade excessiva da batalha. O dramalhão enfraquece o plot de Maximus e o retorno da liberdade do povo romano. O sonho torna-se algo de cunho barato, feito para um público idiotizado, acostumado a mensagens felizes, não condiz com a época em que se passava o drama do general/gladiador. O merecido descanso do herói é enfraquecido por mais uma mensagem politicamente correta, mudando rumos históricos e traindo qualquer possibilidade de dignidade. Gladiador é considerado por muitos como um clássico, e até caracteriza-se por um expoente interessante na combalida filmografia de Ridley Scott, mas só garante bons momentos em meio às cenas de batalha, uma vez que seu roteiro só serve para tentar justificar porcamente todos os entraves.