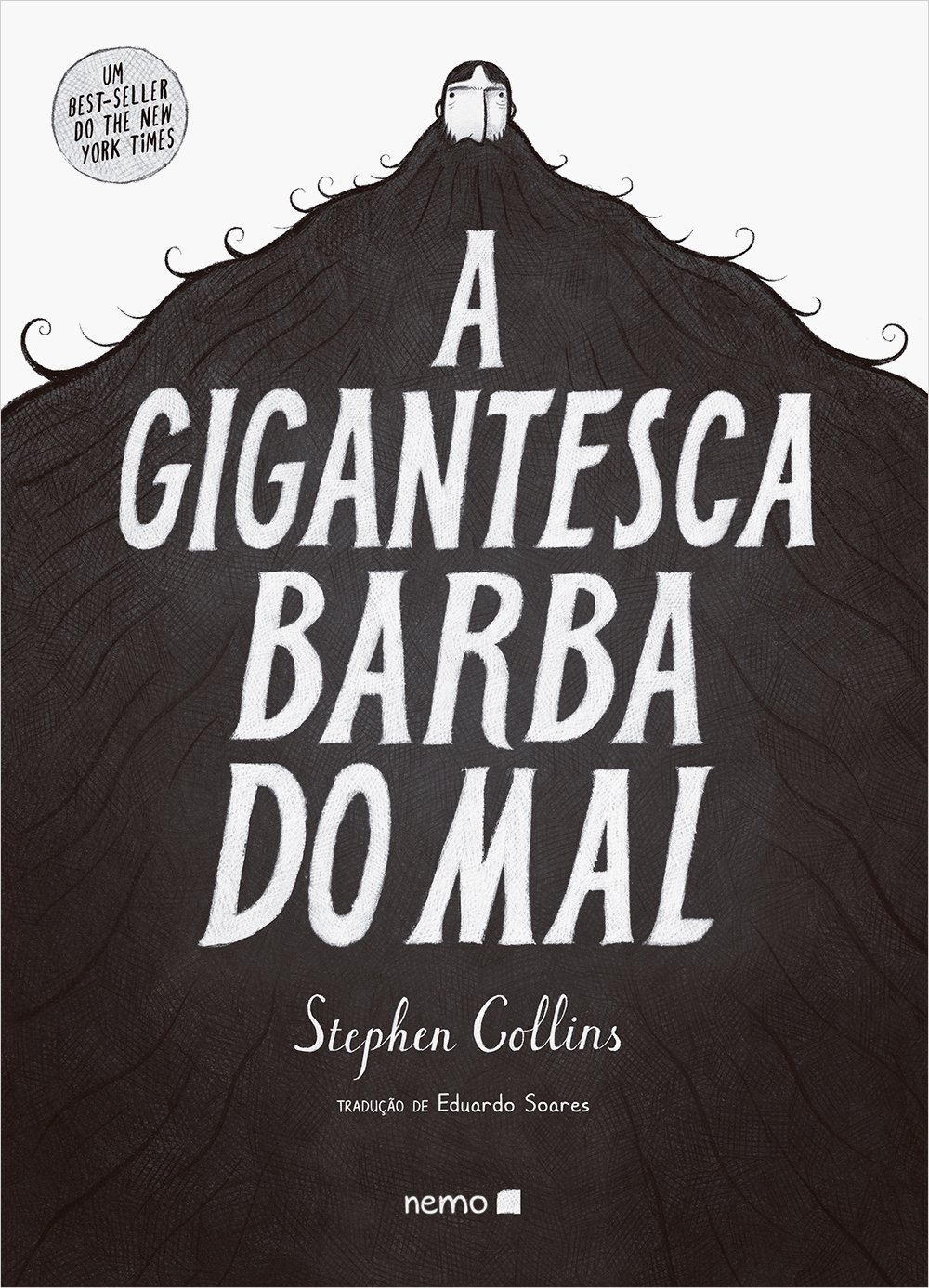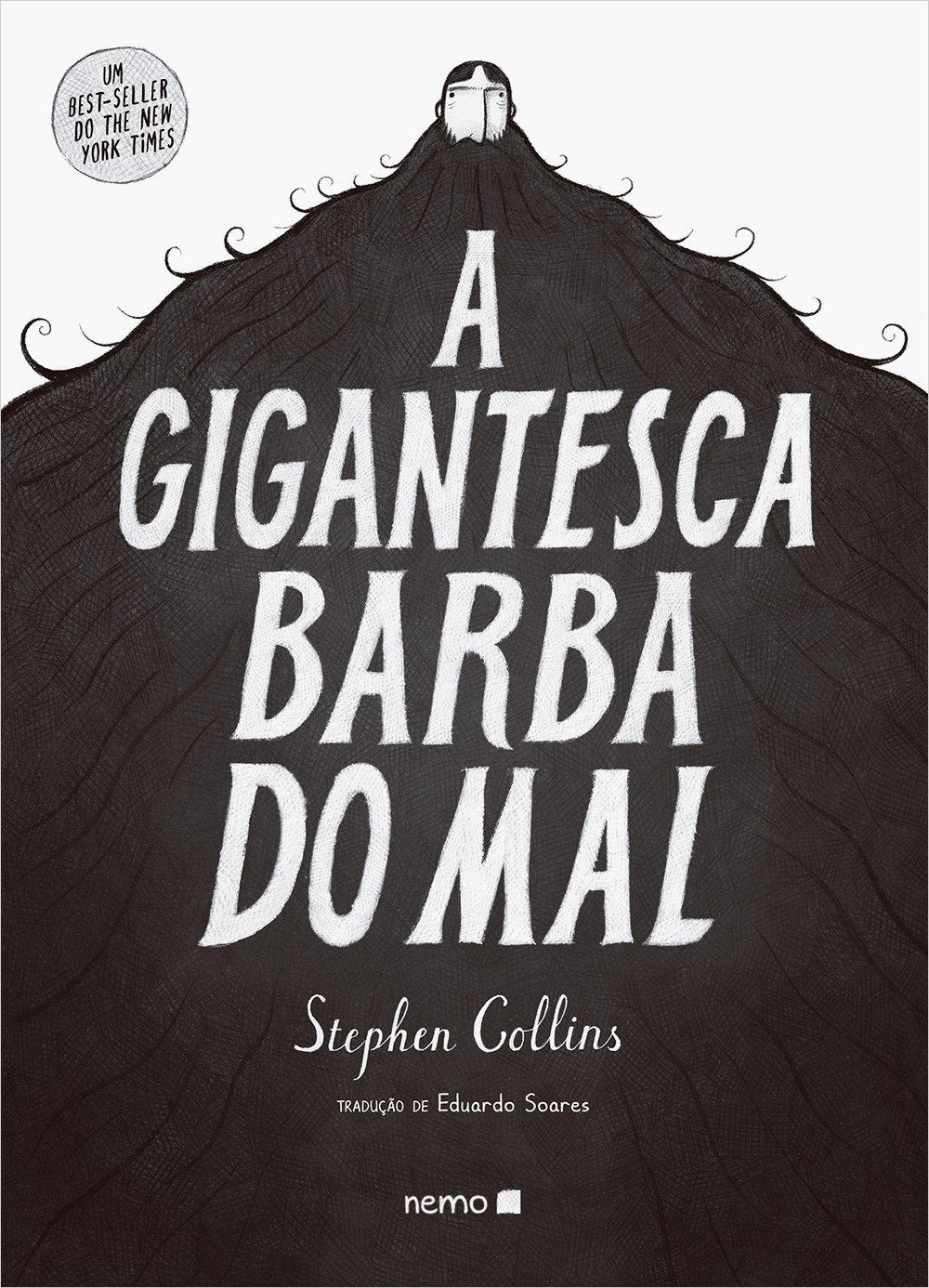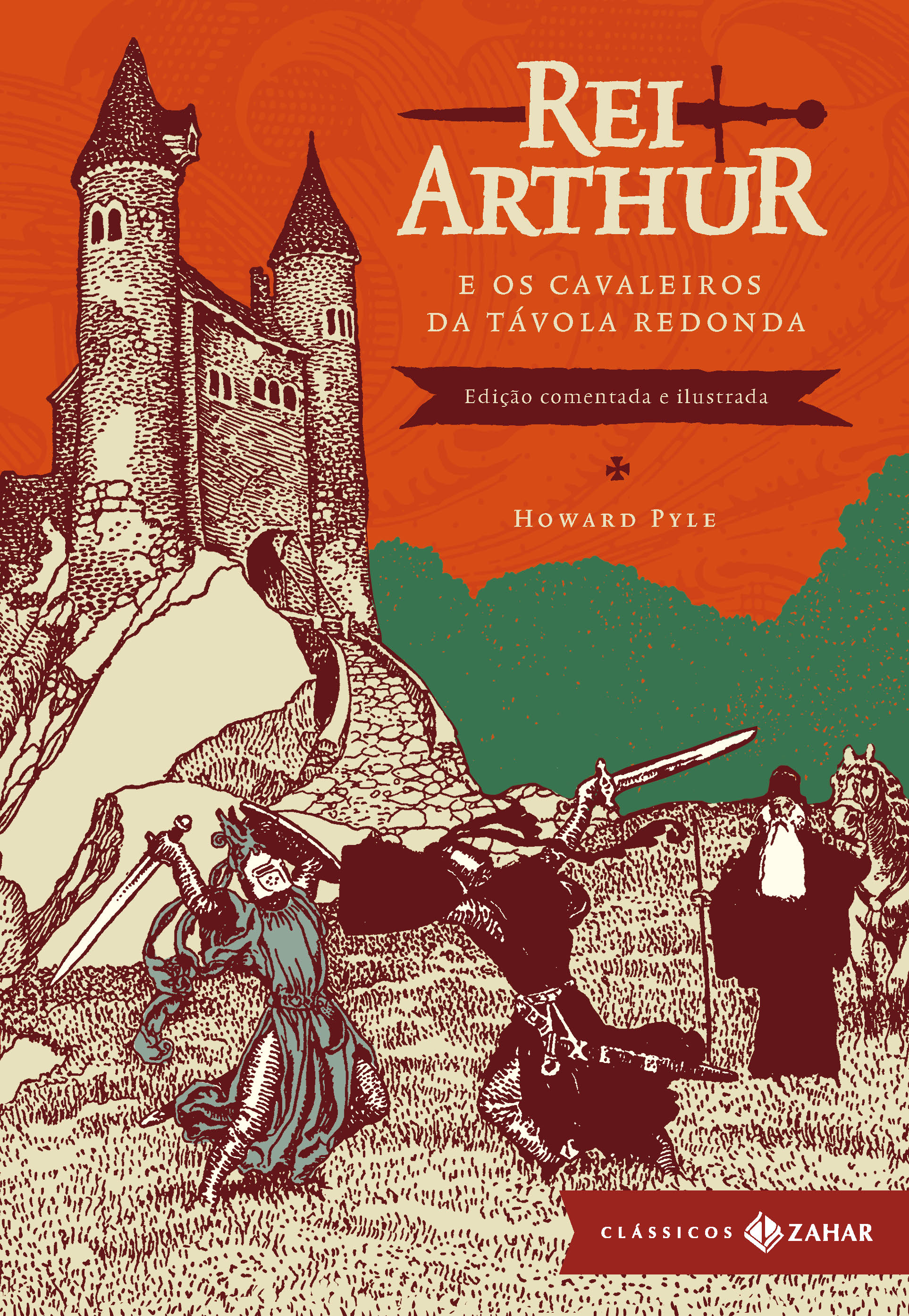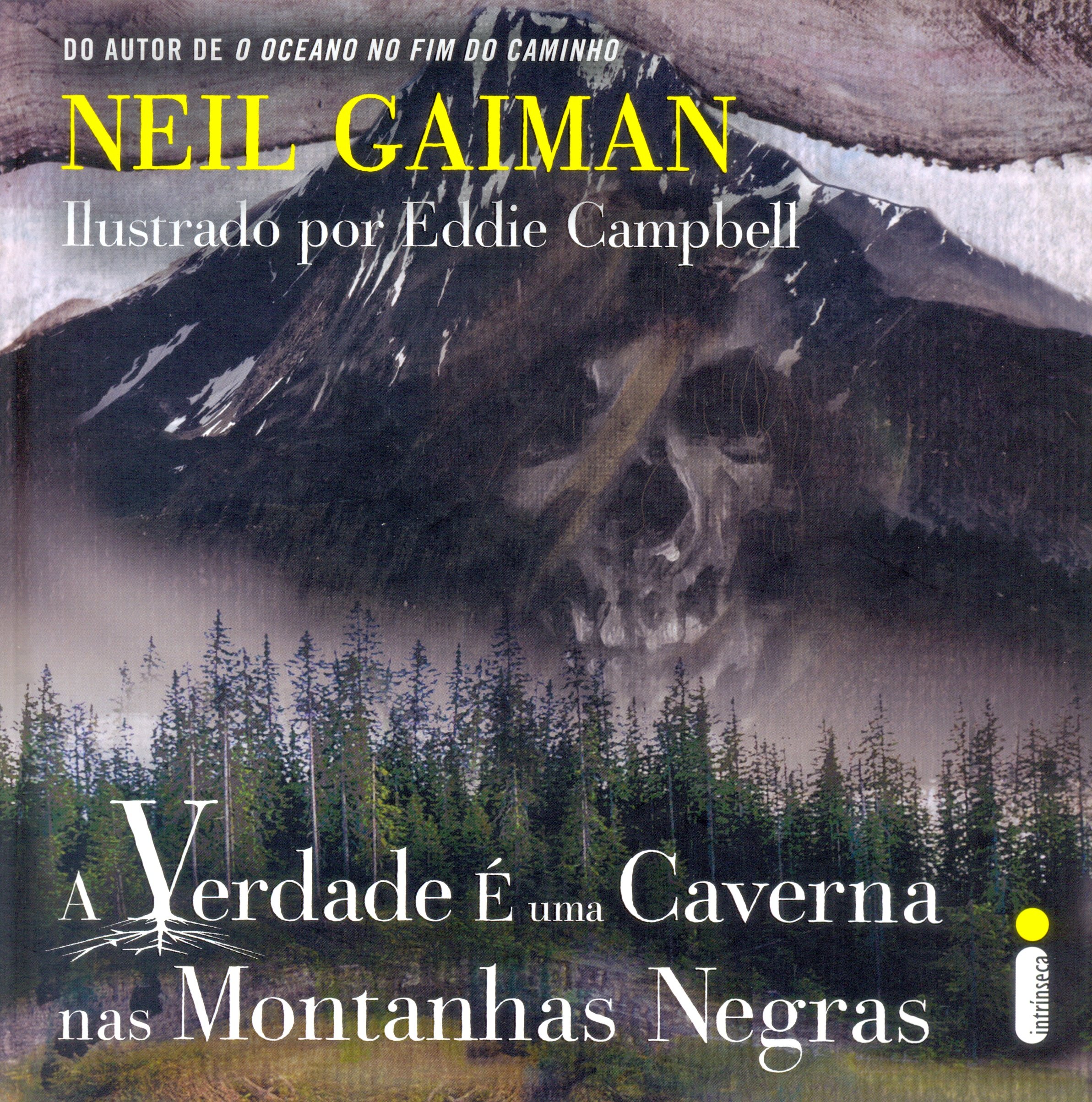“Há muito tempo, em uma terra distante, eu, Abu, o grande mestre das trevas, libertei as terríveis forças do mal, mas um simplório guerreiro samurai, empunhando uma espada mágica, opôs-se a mim. Antes do combate final, eu abri um portal no tempo, e o lancei no futuro, onde o mal é lei. Agora o tolo busca retornar ao passado e destruir o futuro que é Abu!”
Esta é a introdução para um dos clássicos da Cartoon Network, criado por Genndy Tartakovsky, a mesma mente por trás de O Laboratório de Dexter.
Samurai Jack é uma série animada que conta a história de um Príncipe, filho de um Guerreiro Imperador Samurai, que tem sua terra natal tomada e destruída por um demônio metamorfo, Abu (ou Aku, no original em inglês), o maligno mestre das trevas que havia despertado novamente. Antes que o palácio fosse tomado pela criatura, o Imperador envia o príncipe para uma jornada épica, que havia sido planejada no caso do retorno do vilão, onde o jovem iria aprender a se tornar um verdadeiro guerreiro.
Viajando por diferentes locais do mundo todo, ao encontro dos maiores mestres nas artes da luta e disciplina, ao longo de anos, o Príncipe conquista os conhecimentos necessários para retornar a sua terra natal e enfrentar o maligno Abu. Portando a espada Mágica entregue por seus pais – a única arma capaz de derrotar a criatura – o jovem guerreiro finalmente se depara com o demônio e, ao enfrentá-lo com todos os conhecimentos adquiridos em sua jornada, tem força suficiente para derrotá-lo. Porém, Abu é ardiloso, e antes que o guerreiro pudesse lançar seu golpe de misericórdia, a criatura abre um portal mágico no tempo e espaço a fim de dar cabo de seu rival, enviando o jovem samurai para um futuro distópico e semi-apocalíptico, no qual Abu reinava tiranicamente durante séculos.
O futuro é um mundo cheio de caos, onde a magia e a tecnologia convivem. Robôs, extraterrestres, animais falantes, monstros, criaturas mágicas e divindades habitam este futuro. Algumas áreas possuem tecnologia avançada, como carros voadores, enquanto outras parecem cidades antigas ou em ruínas. Criaturas mitológicas e sobrenaturais também fazem aparições normalmente, coexistindo com toda a tecnologia. Ao chegar nesta terra retro-futurística desconhecida, as primeiras pessoas que encontram com o samurai o chamam de “Jack”, que, por fim, adota esse nome. Seu nome real nunca é mencionado.
Jack agora tem uma nova jornada, a de buscar uma maneira de voltar para o passado, para seu próprio tempo, onde poderá derrotar Abu antes que este domine o mundo. E nessa jornada, Jack precisa passar por vários conflitos, seja enfrentando bandidos, entidades místicas, assassinos, caçadores de recompensa ou apenas por ajudar algum povo ou pessoa em necessidade, assim ganhando novos aliados e sempre contrariando a vontade do maligno Abu. Mesmo assim, sempre quando Jack se encontra prestes a terminar sua jornada, algo sempre faz com que suas chances sejam perdidas ou desperdiçadas, normalmente em troca de um bem maior, forçando assim com que o herói continue em sua jornada.

Criada originalmente em 2001, a saga de Samurai Jack estreou no Canal da Cartoon Network Norte Americana como um especial em três partes, contando o início da história do jovem guerreiro. Com o bom recebimento da animação, Samurai Jack teve 52 episódios encomendados pela a emissora, sendo exibidos em quatro temporadas de 13 episódios.
A série tem como base a fascinação que Tartakovsky tinha quando criança pelas histórias e cultura dos Samurais e seus códigos de honra, o bushido, seguido de seus sonhos recorrentes em que perambulava por uma terra devastada, carregando uma espada e lutando contra criaturas diversas, mas também com influências do cinema e da literatura.
As cores e o som são elementos importantes para a série, sendo capazes de delinear as situações pelas quais Jack está passando com tamanha profundidade que dispensam qualquer diálogo, e os cortes de cenas com telas divididas ou com apenas afunilando a íris na diagonal e vertical dão a dinâmica e o movimento que o tornam tão especial.
O show evoca uma cinematografia hollywoodiana anterior aos anos 70, como as dos clássicos Ben-Hur (1959), Spartacus (1960) e Lawrence da Arabia (1962), assim como as obras antológicas de Akira Kurosawa, e um visual estético inspirado nas obras em quadrinhos de Frank Miller, como 300 (1998) e Ronin (1983-1984), e o mangá de Kazuo Koike e Goseki Kojima, Lobo Solitário (1970-1976), que possuem premissas similares à série, qual seja, um protagonista solitário e sua luta contra poderosos inimigos. Ao longo da série, ela também destaca elementos que mostram inspiração ou até mesmo alusão a diversas outras obras da cultura pop, como os elementos de horror das obras de Junji Ito (Uzumaki, Fragmentos do Horror), conflitos como os das sagas Westerns de Sérgio Leone (Trilogia dos Dólares), o ar distópico e noir de Blade Runner (1982), e Mad Max (1979) ou até mesmo as das fantasias espaciais de George Lucas (Star Wars), algumas das referências que podem ser encontradas. Filmes clássicos de Kung-Fu e obras literárias e mitológicas diversas são bastante exploradas, entre muitos outros gêneros.
Todos os episódios da série são dirigidos por Tartakovsky, geralmente com a colaboração de outros diretores convidados. A série foi aclamada pela crítica, recebendo quatro Prêmios Emmy, seis Prêmios Annie e um Prêmio OIAF. Em setembro de 2002, a série estreou no Brasil pela Cartoon Network, assim como pelo SBT, em TV aberta. Por fim, a série terminou sem uma conclusão, simplesmente por não terem um final planejado para a saga do samurai, tendo seu último episódio exibido em Setembro de 2004.

“Cinquenta anos se passaram, mas… eu não envelheço. O tempo perdeu seu efeito sobre mim. No entanto, o sofrimento continua. O alcance de Abu sufoca o passado, o presente e o futuro. A esperança está perdida.
Tenho que voltar… voltar ao passado … Samurai Jack!”
Após um longo hiato e promessas de adaptações cinematográficas que nunca se materializaram, em dezembro de 2015, 11 anos após a exibição do ultimo episódio da quarta temporada, foi anunciado que Samurai Jack retornaria. Novamente com a presença de seu criador original, Genndy Tartakovsky, na produção e direção, eles mantiveram uma equipe simples, porém competente e criativa, sendo concedida a série os direitos da produção de 10 novos episódios. Com as mudanças no método de narrativa de animações para televisão desde o término da série, a produção da nova temporada permitiu que o show mudasse seu estilo original de narração episódica, onde cada episódio é mais ou menos independente uns dos outros, para uma história contínua, mas sempre mantendo o estilo da série original. Esta também aborda elementos mais maduros, seguindo uma premissa mais coesa que concluiria a jornada de Jack. O progresso foi gradualmente sendo exibido ao longo de 2016 até, finalmente, ter sua estreia em março de 2017 no bloco Adult Swim, da Cartoon Network Norte Americana.
A história se passa cinquenta anos após Jack ser lançado no futuro, embora ele não tenha envelhecido um único dia, como um efeito colateral de sua viagem no tempo. Infelizmente, após seu ultimo confronto com Abu, Jack perdeu a espada mágica de seu pai e, desesperado pelos muitos anos de incontáveis lutas contra Abu e da destruição de todos os portais do tempo, ele é assombrado por visões distorcidas de si mesmo e de sua família, provenientes de sua culpa por acreditar ter falhado em sua missão. Mas Abu parece não estar ciente desse fato e, com o tempo, começa a desistir de derrotar Jack por saber que sua determinação nunca se perderia e pelo fato de Jack não poder envelhecer.
Paralelamente, uma seita seguidora de Abu prepara sete guerreiras assassinas devotadas unicamente a matar o samurai em benefício do déspota demoníaco. Num primeiro ataque, Jack, acostumado a enfrentar as máquinas e robôs de Abu, acaba matando uma das assassinas, o que causa grande abalo em sua psique, pois ao longo dos anos – e da série – ele nunca havia ferido ou matado um ser humano. Ferido e abalado, Jack consegue fugir, caindo em um rio, e acaba sendo salvo por um Lobo, que o ajuda a cuidar de seus ferimentos e a se recuperar. Ao se recompor, Jack reúne suas forças para enfrentar novamente as assassinas de Abu, e apesar da desvantagem, Jack possui mais habilidades que as jovens, conseguindo derrotá-las uma a uma. Por fim, o samurai enfrenta Ashi, a última sobrevivente e prodígio do grupo, em uma grande batalha. Com as guerreiras mortas, menos uma, Jack acaba aprisionando a jovem assassina para tentar entender o porquê de sua devoção ao demônio.

Convencido de que Ashi teria sido “programada” para acreditar que Abu seria um grande e bondoso governante e que Jack seria o vilão que estaria tentando fazer mal à humanidade, Jack mostra a Ashi todo o mal de Abu, levando-a numa jornada a locais dizimados por seu poder maligno, o que a faz seguir sua própria jornada. Ao encontrar diversas criaturas e povos que foram ajudados pelo samurai, Ashi descobre a real bondade de seu coração e a manipulação de sua mente, o que acaba por convencê-la da realidade. Ashi, então, vaga ao encontro do Samurai e decide acompanhá-lo em sua missão de recuperar a espada mágica e derrotar o maligno Abu.
Ao tentar recuperar sua espada, que havia caído em um abismo após a última batalha com Abu, Jack descobre que o fato de nunca a ter recuperado era por conta dos conflitos em sua mente, a culpa e o desespero tomaram conta de sua alma e o afastavam da magia da espada. Entrando em meditação, Jack se recompõe e liberta sua mente, equilibrando seu espírito e recuperando sua espada, enquanto Ashi o protegia de um ataque, lutando contra um exército mercenário. Após conflitos com uma espaçonave caída, Jack e Ashi começam a atingir um laço de afeição que ambos nunca haviam sentido anteriormente, e se envolvem romanticamente.
Quando finalmente a notícia de que Jack havia perdido sua espada chega ao conhecimento de Abu, o ânimo e a vitória iminente acendem sua determinação, o que faz com que o demônio parta em busca do samurai para um novo e último conflito. O que Abu não sabia era que Jack já havia recuperado a espada mágica e estava pronto para enfrentar o demônio, o que quase se concretiza, porém, Abu consegue farejar sua energia maligna dentro de Ashi, descobrindo que seu nascimento não era ocasional e sim ela teria sido criada da essência do déspota e patriarca da seita sinistra. Abusando justamente de seus propósitos, Abu usa seu poder para dominar e controlar a jovem, a colocando em uma batalha contra o samurai. Quando este desiste de lutar com medo de matar sua companheira, Jack é finalmente capturado por Abu.
Com Ashi sendo controlada e Jack aprisionado, Abu finalmente comemora sua vitória transmitindo o que viria a ser a execução do herói para que todos no planeta pudessem assistir. Por causa do anúncio feito pelo demônio maligno, todos aqueles que já tiveram suas vidas salvas pelo guerreiro samurai partiram ao encontro do herói, na esperança de livrá-lo das garras do vilão. Com a ajuda de seus velhos amigos, Jack está livre para lutar mais uma vez, mas ele não quer ferir Ashi que, ainda sobre feitiço de Abu, parte para matá-lo. Jack, mesmo escapando dos ataques de Ashi, é absorvido pela energia negra controlada por Abu, onde ela lutava para se libertar. Jack, declarando seu amor, faz com que Ashi encontre forças para sair do transe de Abu, se voltando novamente contra seu mestre. Ao descobrir que também possuía os mesmos poderes do maligno demônio, Ashi usa habilidades para abrir um portal no tempo, assim como Abu havia feito anos atrás, e assim levar o samurai de volta para o passado.

A partida de Jack mal havia acontecido e Abu cantava sua vitória 50 anos atrás, quando o portal vindo do futuro se abre exatamente onde o antigo havia fechado, e Abu se depara com Jack novamente, mais forte e determinado que nunca, usando a espada dada por seus pais. Jack finalmente põe um fim no caos de Abu, e dessa vez, para sempre. Os dois jovens apaixonados estão livres do mal do demônio, e por fim decidem se reunir em matrimônio, porém, como a maldade do futuro de Abu nunca existira, a existência de Ashi se tornara um paradoxo, e se dissolve no tempo diante do samurai. Desolado diante da perda de seu único amor, Jack se sente novamente perdido, mas encontra esperanças na presença de uma pequena joaninha que voa ao encontro do pôr do sol.
Essa temporada explora bem as faces do herói estagnado que Jack se tornara com o tempo. Suas escolhas ou a falta de escolhas demonstram a maturidade no caráter do herói em retrospectiva as suas ações comparadas aos antigos vilões, que normalmente eram apenas máquinas programadas unicamente para matar, mas que não possuíam nenhuma espécie de sentimento.
Tartakovsky realmente esperava causar um impacto emocional aos fãs da série, pois com a vinda de Ashi, a série pode explorar os acontecimentos e consequências de uma criatura viva, e ciente de outras ao seu redor, sendo reduzida também a uma máquina, mas com possibilidade de redenção, e assim redimir não somente a ela, mas também a Jack. O cuidado e o carinho da produção em manter as memórias das temporadas anteriores nessa última jornada mostram que nada se perdeu com o tempo, tudo que anteriormente foi criado para a série ainda faz parte de seu universo.
A crítica aclamou essa última temporada como sendo uma das obras primas de Tartakovsky, ganhando nota 94 de 100 no site Metacritic, e com nota máxima na Rotten Tomatos, deixando no imaginário como seria se toda a série tivesse utilizado do mesmo método para sua produção, desde sua primeira temporada, com uma história única a cada temporada, e abordando esse material mais maduro. Para muitos, a quinta e última temporada de Samurai Jack pode ter terminado em clichês baratos ou até mesmo com suas pontas soltas, mas pela jornada que ela nos leva e pelo que podemos aprender com ela, posso dizer que seu fechamento é poesia, pura e melancólica poesia de um guerreiro eternamente solitário.
–
Texto de autoria de Bruno Gaspar.