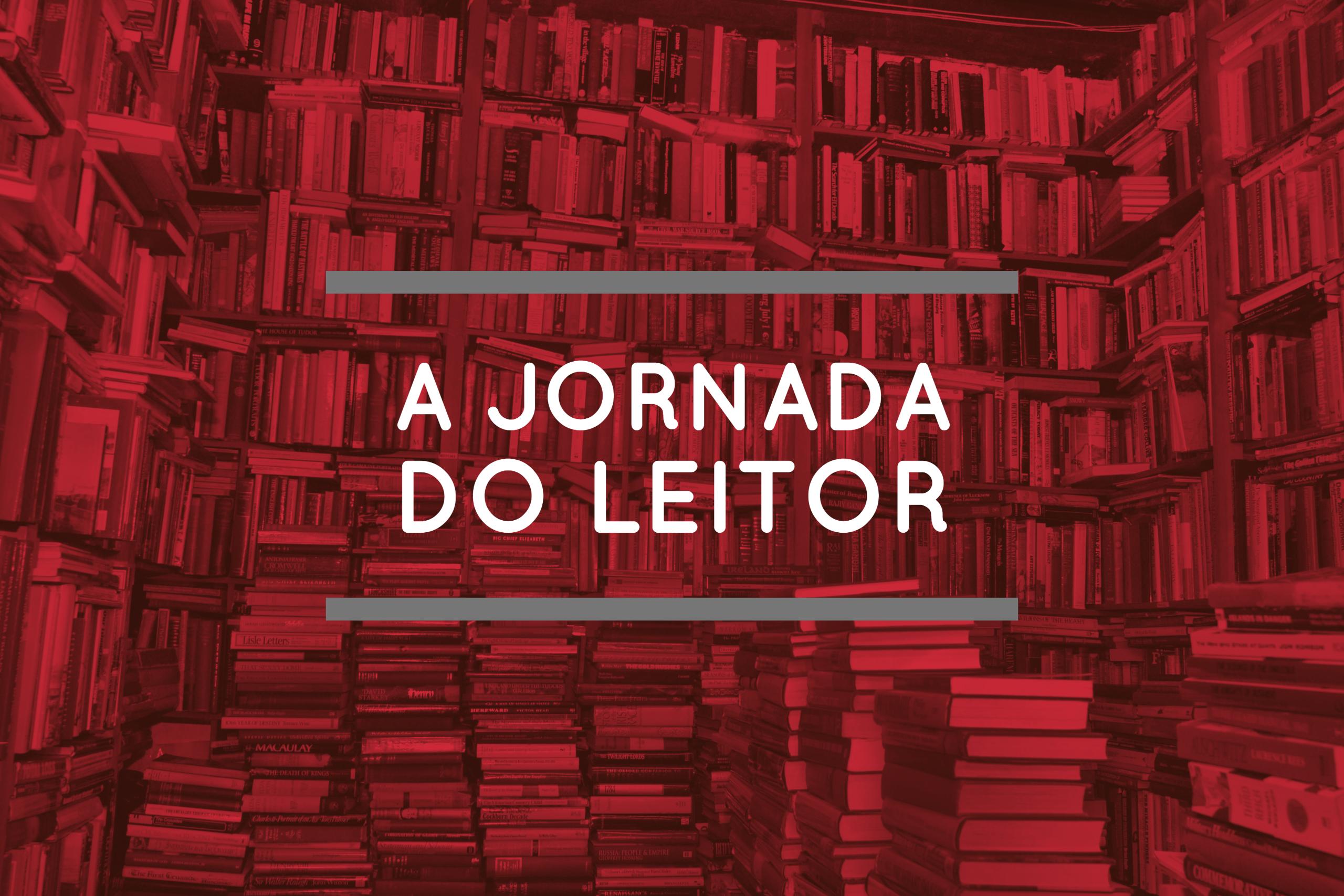
Todo herói tem um arco, uma jornada. Cada personagem – ao menos de escritores que sabem o que estão fazendo com as mãos num teclado – tem um papel dentro da trama principal. É o arco narrativo, sua jornada do início ao fim, sem importar quão frívolos sejam seus motivos ou abrupta sua morte. Ao analisar narrativas dos principais textos de diferentes religiões num brilhante estudo de mitologia comparada, Joseph Campbell notou avanços narrativos semelhantes, em que personagens diferentes preenchiam partes idênticas nos mecanismos internos dos contos, assim o próximo passo do protagonista invariavelmente seguia uma lógica. O Herói de Mil Faces, Campbell chamou seu livro, pois a trilha é seguida de novo e de novo e de novo.
O autor desenvolve seus argumentos sobre o molde narrativo do qual partilham as mais diversas histórias, desde Pulp Fiction até a epopeia de Gilgamesh. Crucial, um dos pontos mais importantes dentro de uma história é a transformação dos personagens de um estado inicial até o ponto de chegada, quando retornam para uma normalidade, profundamente mudados pelo caminho, pelo percurso da Jornada. Harry Potter, Luke Skywalker e Rick Blaine atravessaram os mesmos passos: uma velha estrada de tijolos amarelos que já foi percorrido por Dorothy. Todos eles tinham um desejo, uma aspiração que dá o pontapé inicial de suas histórias. Na Jornada, é essencial que se deseje algo. Mesmo que seja um copo de água fresca, como disse Kurt Vonnegut. São nos passos identificados no “O Herói de Mil Faces” que as histórias se desenrolam, com ou sem variações, e a vontade de virar a página ganha contornos urgentes. Ao leitor desatento, pode parecer um tanto formulaico, mas a Jornada é algo sutil, uma trama em que mãos habilidosas podem bordar qualquer coisa maluca que se passa em sua mente.
De forma resumida, cada personagem responde com hesitação antes de aceitar o Chamado da Aventura, o acontecimento surpreendente e muitas vezes surreal que inicia, de fato, o plot: Gandalf bate à porta de Bilbo Bolseiro logo no início de O Hobbit, e, anos mais tarde, Frodo herda um certo anel, dando os primeiros passos em uma das jornadas definidoras de todo um gênero, O Senhor dos Anéis. Tal Chamado gira todas as rodas dentadas que trabalham por trás das linhas e parágrafos que você deita os olhos, jogando os protagonistas num mundo desconhecido onde contam com um Mentor – palavra que vem do grego menos, que significa desde força, propósito, até mente, espírito ou lembrança -, em que o caminho até o próximo passo da Jornada, a Caverna Misteriosa, será permeado por aliados, inimigos e provações. No Hobbit, Bilbo encontra Gollum e Frodo chega até Mordor. O herói que perseverar no caminho, retornará ao velho mundo onde sua jornada começou e, com os tesouros e ensinamentos da estrada percorrida, faz o leitor respirar aliviado depois de Bilbo ter enfrentado os perigos de um dragão ganancioso e o fiel Sam empurrar seu amigo na direção certa, um dos momentos de maior carga emocional de “O Senhor dos Anéis”. Agora, o herói precisa enfrentar seu real perigo antes de prevalecer sobre o mal: a Batalha dos Cinco Exércitos e a Montanha da Perdição, para continuar com os exemplo de Tolkien.
É a jornada do herói, com ou sem maiúsculas; o arco. Ainda me lembro de uma das cenas preferidas de Família Soprano, quando o jovem e explosivo Christopher Moltisanti pergunta ao mentor Paulie, um mafioso da velha guarda, onde estava o seu arco, pois nada de interessante acontecia em sua vida.
“E daí,” Paulie responde, numa calma enervante, “eu estou vivo. Eu sobrevivo”.
Christopher enterra os dedos no cabelo. Como ele pode não entender? “Não quero apenas sobreviver. Os manuais de roteiro dizem que cada personagem tem seu arco. Entende? Todo mundo começa em um lugar, e eles fazem algo. Algo acontece a eles. E isso muda suas vidas. Isso é um arco. Onde está o meu arco?”.
Foi a angústia de Christopher, um personagem com o qual pouco me identifico, que tomou conta de meus pensamentos quando li as últimas linhas da A Roda do Tempo, uma série composta de catorze tijolos – e um tijolinho de prefácio -, totalizando algo em torno de doze mil páginas. Doze mil páginas. Milhões de palavras. E mais arcos de personagens do que eu poderia contar de cabeça. Claro, em (quase) todos os livros da série o leitor pode encontrar começo, meio e fim para as diversas histórias que se desgarraram da linha narrativa principal e acompanhar o crescimento das personagens que mais cativam ou detestam. A Roda do tempo é uma longa jornada, talvez a maior que já percorri – com grande chance de ser a maior que jamais percorrerei -, uma estrada esburacada, com altos e baixos, longas tempestades e mais paradas que o ideal, uma viagem que talvez exija uma ou outra pausa a fim de trocar pneus carecas e reabastecer a água do radiador. É uma história épica que envolve até mesmo o Tempo em si, com T maiúsculo, onde Luz e Escuridão duelam em grande escala e a existência do mundo depende de quem sairá vitorioso. É o maniqueísmo de Tolkien em maior escala.
A Roda do Tempo e o leitor
Não vou perder nosso tempo com um resumo do mundo ou da história quando dezenas de análises e críticas estão aparecendo aqui e ali, enquanto a série começa a fazer sucesso na Terra Brasilis. Basta dizer que há altos e baixos, defeitos e virtudes, grandes lições de escrita; Vale lembrar que a última porção da história foi escrita por Brandon Sanderson por causa da morte do criador, Robert Jordan, afinal é difícil escrever depois de morto. Sanderson fez um ótimo trabalho e o último volume é um clímax de novecentas páginas – o maior capítulo, A Última Batalha, tem mais de 180 páginas.
Levei seis anos para ler “A Roda do Tempo”. Partindo do meu Chamado de Aventura – inspirado por uma música da banda alemã Blind Guardian – até o Retorno com o tesouro, anos se passaram e centenas de outros livros, sem exagero, foram lidos, tanto para trabalho quanto lazer. Nesse meio tempo, comecei e terminei outras séries e trilogias, mas a Roda do Tempo sempre esteve no fundo de minha mente, ganhando novos contornos enquanto eu me reabastecia com outros autores, escritas e gêneros diferentes.
Em paralelo a narrativa, analisava minha jornada de leitor, sobre como os dias podem girar em torno do livro em suas mãos, sobre nosso próprio crescimento, mudanças, derrotas e vitórias enquanto vivenciamos tantas outras jornadas. Da mesma forma que nosso herói tem mil faces, também as temos, cada um de nós. Desejamos, buscamos e nos transformamos em algo… bem, em algo diferente. Pergunte ao Kafka, se quiser.
Quando li o primeiro livro, O Olho do Mundo, estava deitado no meu quarto, sozinho, febril e em Lisboa, morando numa casa cheia de gatos. Eu era um mestrando em História da Expansão e dos Descobrimentos, dissertando com a ajuda de mapas antigos sobre a formação do Japão na mentalidade ocidental entre os séculos XV e XVIII. O primeiro volume de “A Roda do Tempo” segue uma estrutura fixada por Tolkien, com um protagonista seguindo o estereótipo Luke Skywalker, o jovem e ingênuo fazendeiro que se descobre envolvido em acontecimentos maiores e perigosos. E não foi O chamado de aventura, mas foi UM chamado. É como nos livros da série: não há começos ou fins em “A Roda do Tempo”, mas esse foi um começo. Ao menos isso.
Eu morava sozinho e seguia uma rotina bem definida. Acordava, engolia meio litro de café e tomava banho para, depois, mergulhar no submundo metroviário de Lisboa e percorrer os corredores úmidos da Faculdade de Letras, onde ficava o centro de pesquisa em que trabalhava. Escrever, pesquisar e realizar enfadonhas tarefas administrativas tomava quase todo o meu dia, além de conversas e risos com pessoas que marcaram minha vida. Eu vivia um arco, afinal. Recém-formado, mergulhado em arquivos de fama internacional, lendo e observando mapas, cartas ânuas de jesuítas que foram ao Japão, além de manifestos de embarcações. Tudo no passado. Todos, viajantes e religiosos, europeu e japoneses, de volta ao pó, uma grande bacia de cinzas e poeira onde eu tinha me enterrado até os cotovelos na mais pura – elétrica – euforia.
Já no segundo livro da série, vaguei por Londres, onde estava pesquisando a sessão de mapas da British Library. Foi no café do British Museum – onde fui ver a A Grande Onda – que terminei o livro e já tirei o terceiro da mochila. Antes, pedi outro café. Saí de lá quando me expulsaram, mais de sessenta páginas depois. Voltei para a casa da minha irmã no escuro, a cabeça perdida no mundo criado por Robert Jordan. No meu arco, hoje enxergo que estava numa fase que podia me permitir vagar por mundos imaginários sem prestar muita atenção nos problemas do mundo real. Morando sozinho na Europa, com poucas aulas na semana e um trabalho com horário flexível que me permitia trabalhar em casa, um quando que permitia o luxo de focar nos estudos, conhecer melhor Portugal e afundar meu nariz nos livros. Ler até derrubar o livro no meu rosto, até esfregar olhos queimando e resolver fazer café às quatro da manhã, para tentar extrair mais um capítulo, quem sabe dois. Olhando para trás, eu deveria ter saído mais de casa, pergunte à Rosa.
Quando voltei ao Brasil e morei em Campinas, comecei a escrever ficção. Corria quase todos os dias. Li mais. Enrolei minha dissertação e fiquei noivo. O tempo passou e eu estraguei um dos joelhos, começando um lento caminho de volta ao sobrepeso, quando meus quilos perdidos na corrida voltaram com novos amigos e a ficção ganhou espaço no meu cotidiano e nas minhas ambições. Foi talvez no sexto livro de “A Roda do Tempo” que decidi – ou melhor, fui empurrado a aceitar o que estava diante do meu nariz – trocar de profissão. Adeus vida acadêmica, olá rotina de escrita e edição. E desespero, claro.
Atravessando a narrativa
Conforme riscava os títulos de minha lista de leitura, meu próprio arco avançou. Aniversários, discussões, risadas, bebedeiras e jogatinas, tudo envolvido em muita escrita, leitura e edição. Eu me casei. Terminei meu primeiro livro, com mais de quatrocentas páginas, muitas delas desnecessárias e cortadas com um coração em prantos. Percebi depois que um livro de quatrocentas páginas é um erro se você ainda é um escritor desconhecido. Criei histórias menores, deixei outras depois de duzentas páginas. Meu filho nasceu. Páginas escritas dividiram espaço com mamadeiras e fraldas pedindo atenção. E então, alcancei a Última Batalha e, depois dela, o final de “A Roda do Tempo”. Bem, não O final, mas UM final. “A Roda do Tempo” não tem começos nem fins. Foram seis anos. Foram catorze livros.
Claro, há relatos, principalmente no Reddit, de monstros que leem uma série deste tamanho em seis meses; outros estão na quinta, sexta, décima sexta – não é mentira – leitura da série. São arcos, tenho certeza: ninguém lê tantos livros – mesmo que seja uma só história – e fecha a última capa sem mudar, sem passar por uma transformação. Mesmo que a transformação seja pela necessidade de livros com fontes maiores para olhos cansados, essa pessoa mudou. No meu caso, a mudança foi gigantesca. Seis anos se passaram. Porcaria. Eu mudei, e muito. Do quarto escuro, iluminado apenas por um abajur amarelado, doente e trancado para deixar os gatos de outra pessoa fora do alcance de minha alergia, para um sofá confortável em nosso apartamento, numa cidade do interior de São Paulo; de minhas pretensões de conseguir ingressar num bom doutorado e viver de aulas e pesquisas, para a perspectiva de pagar contas com as mentiras que saem de minha cabeça e encontram caminho às pontas dos dedos; de namoro à distância – altos e baixos, altos e baixos – para a feliz paternidade dentro de um casamento estável, carinhoso e sincero. Eu cresci e, como um camaleão, minhas cores se transformaram em resposta ao ambiente em que agora vivo. Firmei convicções políticas e agora faço oposição a um governo que não me parece correto, brigo com unhas e dentes contra o monopólio dos veículos midiáticos, contra ambos analfabetismos, científico e político. Não sou apenas um historiador em outro país, cheio de perguntas sobre o que acontecia no passado, em ondas que banhavam o Japão tantos séculos atrás, enquanto o cenário atual me alcançava apenas como murmurinhos incômodos. De um historiador um tanto egoísta e recluso, tornei-me um escritor um pouco menos egoísta e recluso. Um pai, com sono e um sorriso bobo no rosto.
Encontrei o final de “A Roda do Tempo” e dele passei. Pode apostar que me senti decepcionado com o final e tenho perguntas que nunca serão respondidas, mas estou satisfeito com a clareira no final do caminho. Quando se termina uma série, a sensação que se tem é um misto da nostalgia precoce e liberdade literária. O homem que sou hoje é bem diferente do estudante que ouviu uma música inspiradora e sentiu arrepios nos braços. Os livros da série tiveram pouco impacto nas minhas mudanças – Haruki Murakami, Carl Sagan, Yuval Noah Harari, Eric Hobsbawm e outros tantos tiveram mais importância -, mas servem de perfeito exemplo para o meu arco de herói. Afinal, sou o herói de minha história, assim como você é o personagem principal da sua.
Minha jornada não é (nada) épica. A sua também não, até que você me prove o contrário. Mas é uma jornada e, caramba, ela é muito importante para quem está preso em seus quilômetros. Desejamos um emprego melhor, perder peso, que amanhã seja feriado e que, pelo amor de Deus, essa chuva dos infernos pare antes do sábado. Desejamos e buscamos, adaptamo-nos ao nosso próprio arco, nosso plot. Oras, estudamos para concursos públicos, brigamos contra chefes gananciosos e discutimos política; dançamos para a chuva parar e, como é um assunto que foge de nossa alçada, traçamos um plano alternativo para o sábado chuvoso, com pizza e jogos de tabuleiro. Talvez pedir meia frango com catupiry e meia calabresa não tenha o mesmo impacto que recuperar a Excalibur ou descobrir que o caminho para casa estava em você esse tempo todo, mas – por Crom! – essa pizza é o seu Chamado da Aventura e, se você não pisar na bola, será o herói de muita gente. São arcos diferentes. Nossa jornada é tediosa. Enfadonha. O oposto de épica. Mas, você sabe, é real.
Quando Christopher Montisanti pergunta a Paulie onde está o seu arco, ele com certeza enfrentava a terrível angústia de não ser o que idealizava em outros tempos. Naquele fascinante mundo de violência, drogas e incertezas existenciais, Chris tentava se agarrar em algo para continuar sendo ele mesmo. Sem perceber, o jovem mafioso percorria um arco em si mesmo: o bloqueio, a desorientação. Quando chegasse na outra ponta do labirinto, ele seria – fatalmente – um mafioso mais forte. Um homem mudado. E outro arco teria início.
Mas estou divagando e você já está se perguntando se realmente sou um escritor, tamanha verborragia. Você está lendo um texto sobre a passagem do tempo. Sobre como a saga de Robert Jordan me acompanhou em parte do caminho. Talvez você tenha sua própria Roda do Tempo e possa se identificar com o que exponho aqui. Talvez tenha crescido com Harry Potter e seus terríveis professores, ou tenha acompanhado Roland Deschain em cada passo no difícil caminho até a Torre Negra. Provavelmente sentiu os sóis de Tatooine queimando na pele. Minhas mudanças são acompanhadas de livros marcantes justamente porque sou um leitor antes de ser escritor. Filmes, músicas, relacionamentos, empregos… talvez até casamentos. Com toda certeza, o seu arco também tem um pano de fundo com variáveis e constantes.
Agora que terminei uma série, meu arco continua. Talvez encontrou outras aventuras e chamados no meio do caminho. Quem sabe precise ir para um Mundo Especial e dele retornar com o Elixir do qual falou Campbell.
Terminei de ler “A Roda do Tempo” muito, muito tempo depois de ter começado. E agora? Eu não sei para onde meu arco me levará, mas o próximo livro já está presente, com o marca páginas entre o final de um capítulo e o começo do próximo.
Os passos da Jornada do Herói
A Jornada do Herói
Ato 1
Mundo comum
Chamado à Aventura
Recusa do Chamado
Encontro com o Mentor
Travessia do Primeiro Limiar
Ato 2
Provas, Aliados e Inimigos
Aproximação da Caverna Secreta
Provação
Recompensa
Ato 3
O caminho de Volta
Ressurreição
Retorno com o Elixir
Livros para levar na estrada
– Trilogia dos Espinhos – Mark Lawrence (Darkside)
– Série Os Cavalheiros Bastardos – Scott Lynch (Arqueiro)
– Os livros da Cosmere – Brandon Sanderson (Leya)
– A Roda do Tempo – Robert Jordan (Intrínseca)
– A Torre Negra – Stephen King (Suma de Letras)
– Livros da Terra Média – J. R. R. Tolkien (Martins Fontes)
– Crônicas de Gelo e Fogo – George R. R. Martin (Leya)
– Série A Companhia Negra – Glen Cook (Record) – Resenha
– Série O Livro Malazanos dos Caídos – Steven Erikson (Arqueiro)
– Discworld – Terry Pratchett (Conrad/Bertrand) – Resenha
– The Dresden Files – Jim Butcher
– Traitor Son Cycle – Miles Cameron
– Série Revelações de Riyria – Michael J. Sullivan (Record)
– Série Ciclo das Trevas – Peter V. Brett (Darkside)
– A Saga de Ender – Orson Scott Card
– A Guerra do Velho – Jon Scalzi (Aleph)
– Elric de Melniboné – Michael Moorcock (Generale)
– Crônica do Matador do Rei – Patrick Rothfuss (Arqueiro)
– The Expanse – James S. A. Corey
– The Rain Wild Chronicles – Robin Hobb
– Trilogia Oryx e Crake – Margaret Atwood (Rocco)
–
Maurício Ieiri é um historiador que não faz História. Atualmente, tentando descobrir o que fazer com sua vida, partindo deste exato momento até o dia em que morrer. No meio tempo, escreve ficções. Participou do blog coletivo Os Caras do Clube.


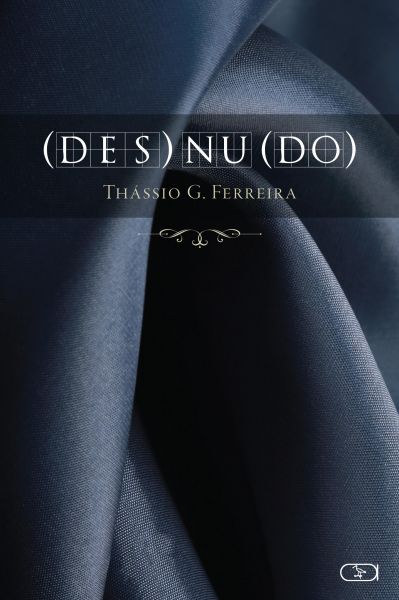


 Lançado no Brasil somente em 2016, Asterix e o Domínio dos Deuses foi a tentativa de reviver no cinema as versões animadas dos quadrinhos desde 2006 quando saiu Asterix e os Vikings.
Lançado no Brasil somente em 2016, Asterix e o Domínio dos Deuses foi a tentativa de reviver no cinema as versões animadas dos quadrinhos desde 2006 quando saiu Asterix e os Vikings.
 Com roteiro de Christina Hodson e David Leslie Johnson, e direção de Denise Di Novi, o filme começa in media res (técnica narrativa onde a história começa no meio, em vez de no início), com Julia Banks (Rosario Dawson) numa sala de interrogatório de uma delegacia, com o rosto bastante machucado, aparentemente dando depoimento sobre a agressão sofrida. Obviamente, não é bem isso. O investigador quer que ela explique como aquele homem – Michael Vargas (Simon Kassianides), um ex-namorado de Julia – acabou sendo morto na casa dela, depois de ter sido atraído para lá por uma série de mensagens de cunho erótico enviadas via Facebook.
Com roteiro de Christina Hodson e David Leslie Johnson, e direção de Denise Di Novi, o filme começa in media res (técnica narrativa onde a história começa no meio, em vez de no início), com Julia Banks (Rosario Dawson) numa sala de interrogatório de uma delegacia, com o rosto bastante machucado, aparentemente dando depoimento sobre a agressão sofrida. Obviamente, não é bem isso. O investigador quer que ela explique como aquele homem – Michael Vargas (Simon Kassianides), um ex-namorado de Julia – acabou sendo morto na casa dela, depois de ter sido atraído para lá por uma série de mensagens de cunho erótico enviadas via Facebook.


 Após a epifania causada pelo pôster, Johnson avisa que vai ter trailer, sim e o exibe duas vezes para o público. Confira abaixo:
Após a epifania causada pelo pôster, Johnson avisa que vai ter trailer, sim e o exibe duas vezes para o público. Confira abaixo:
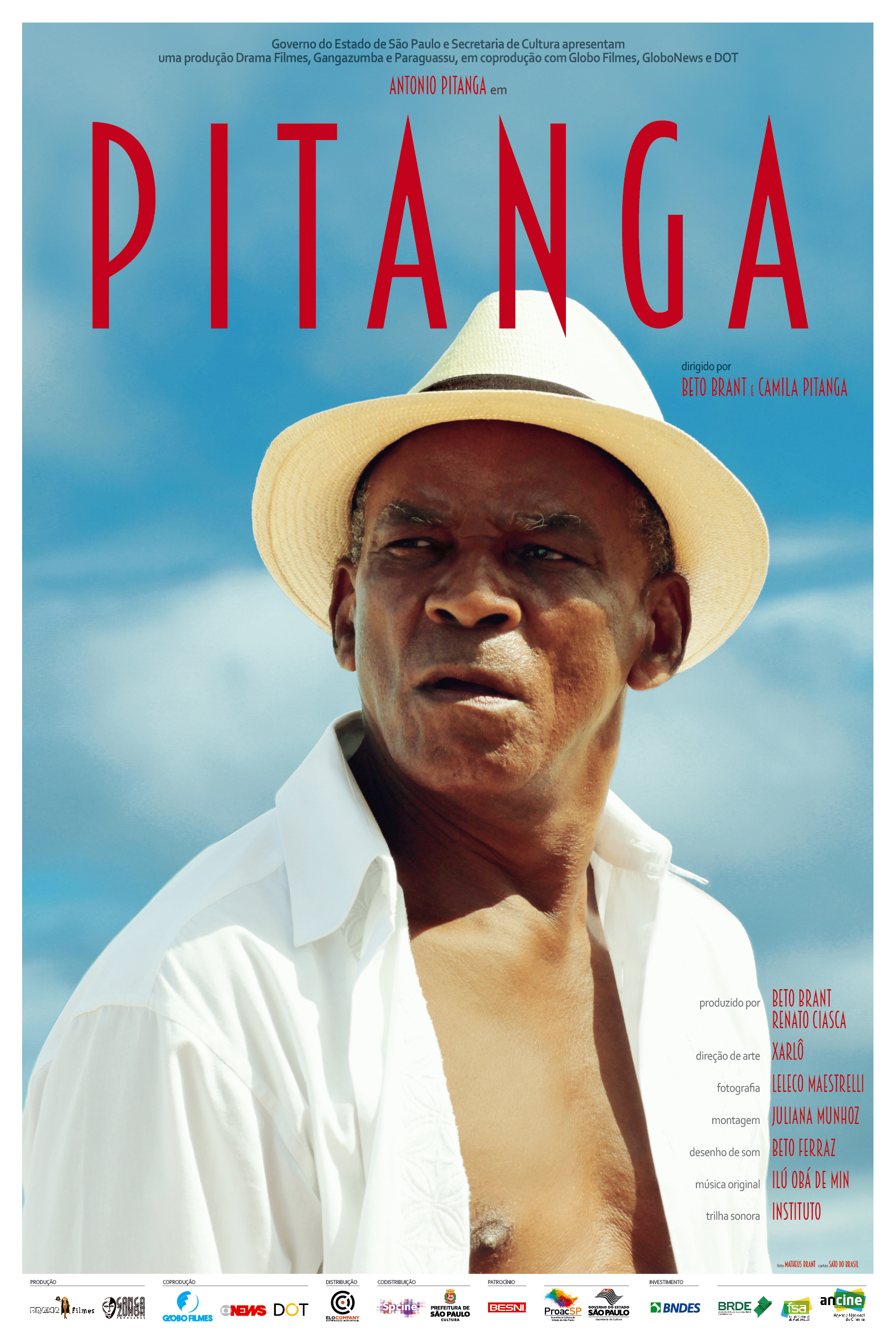










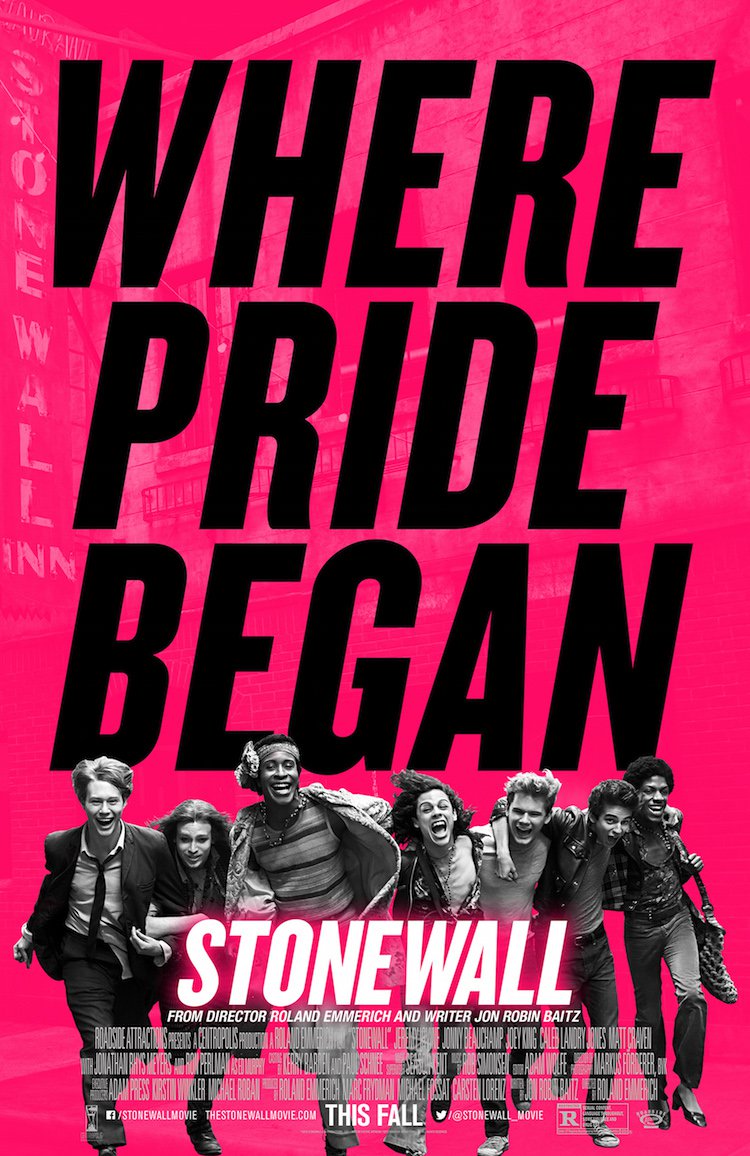


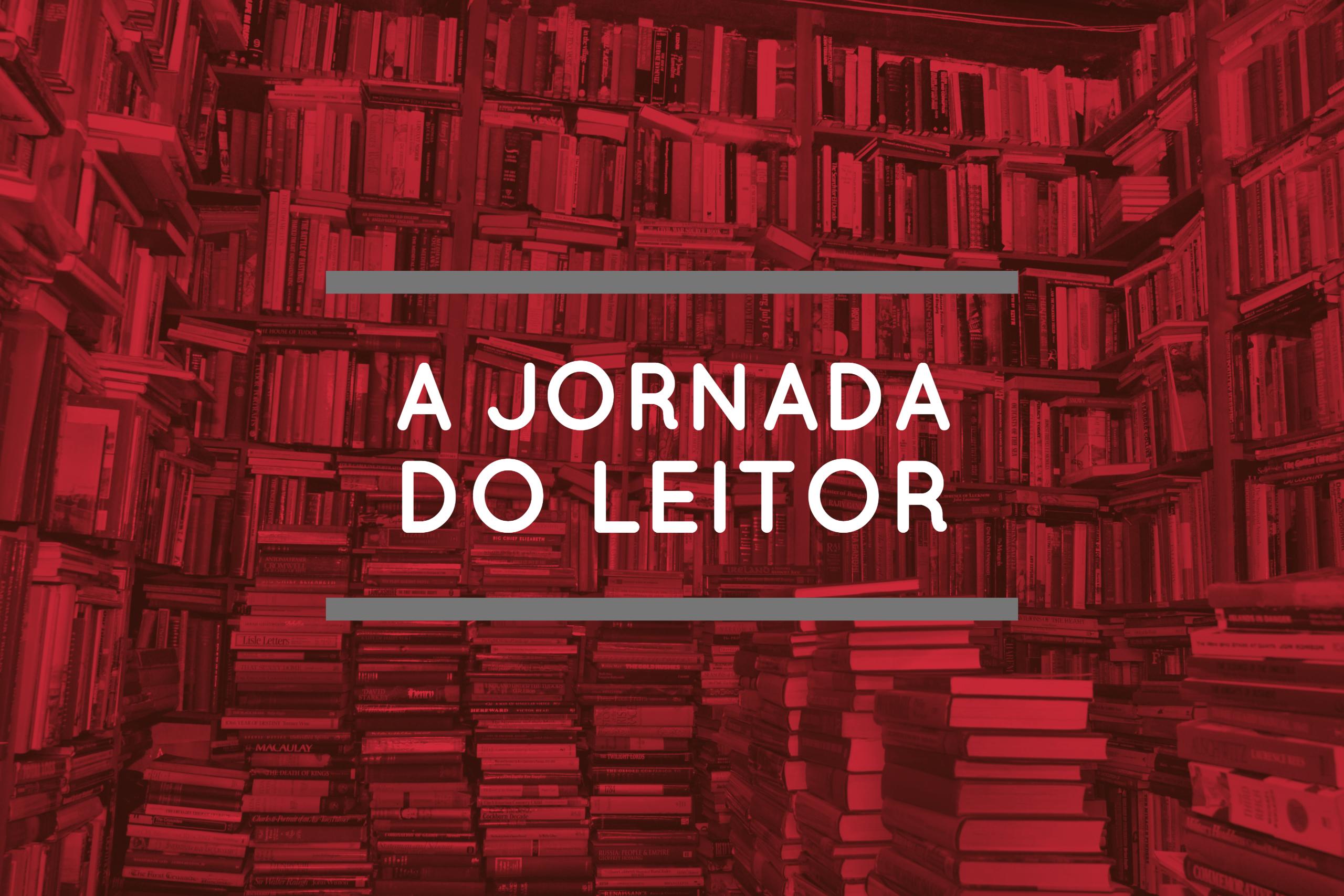
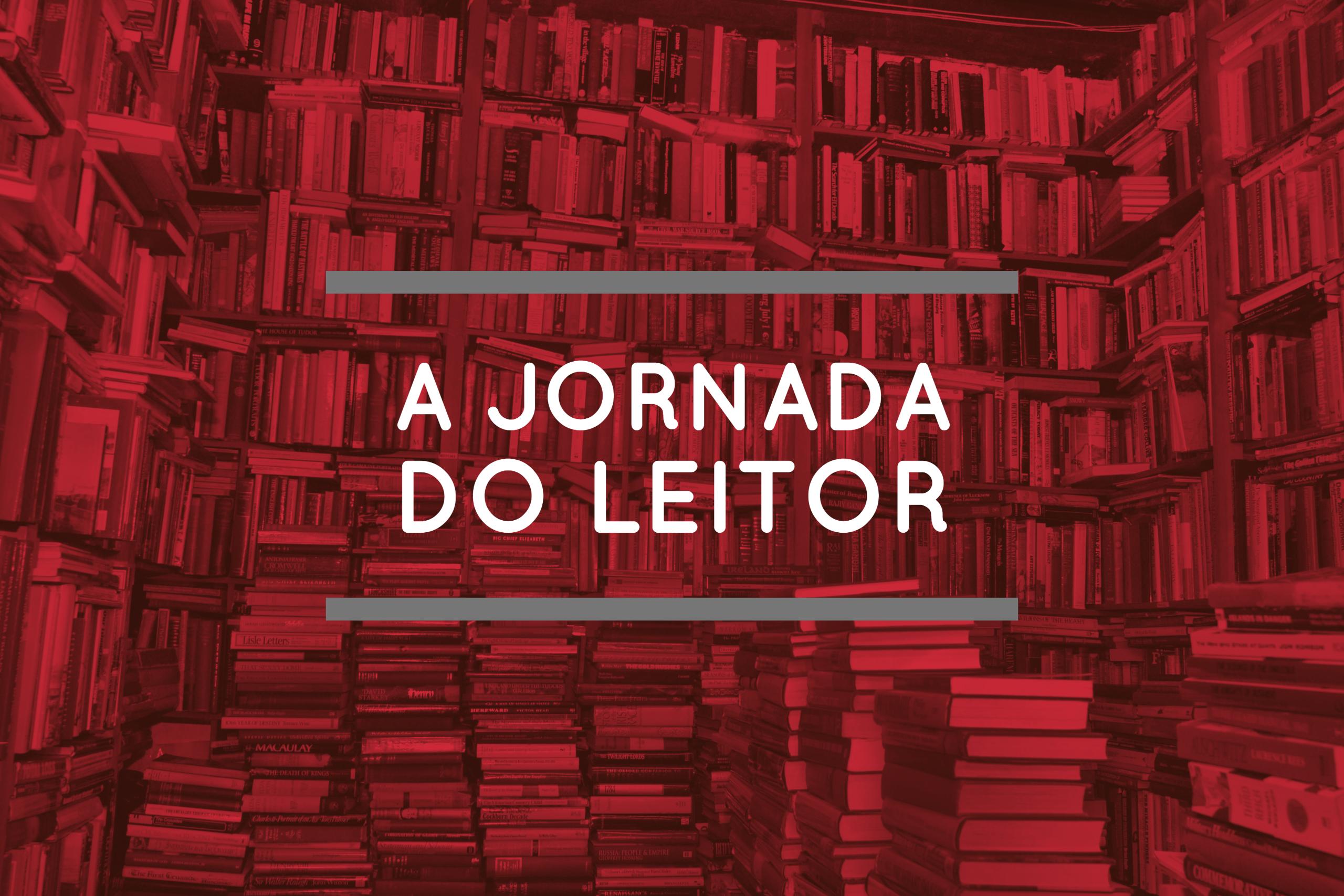





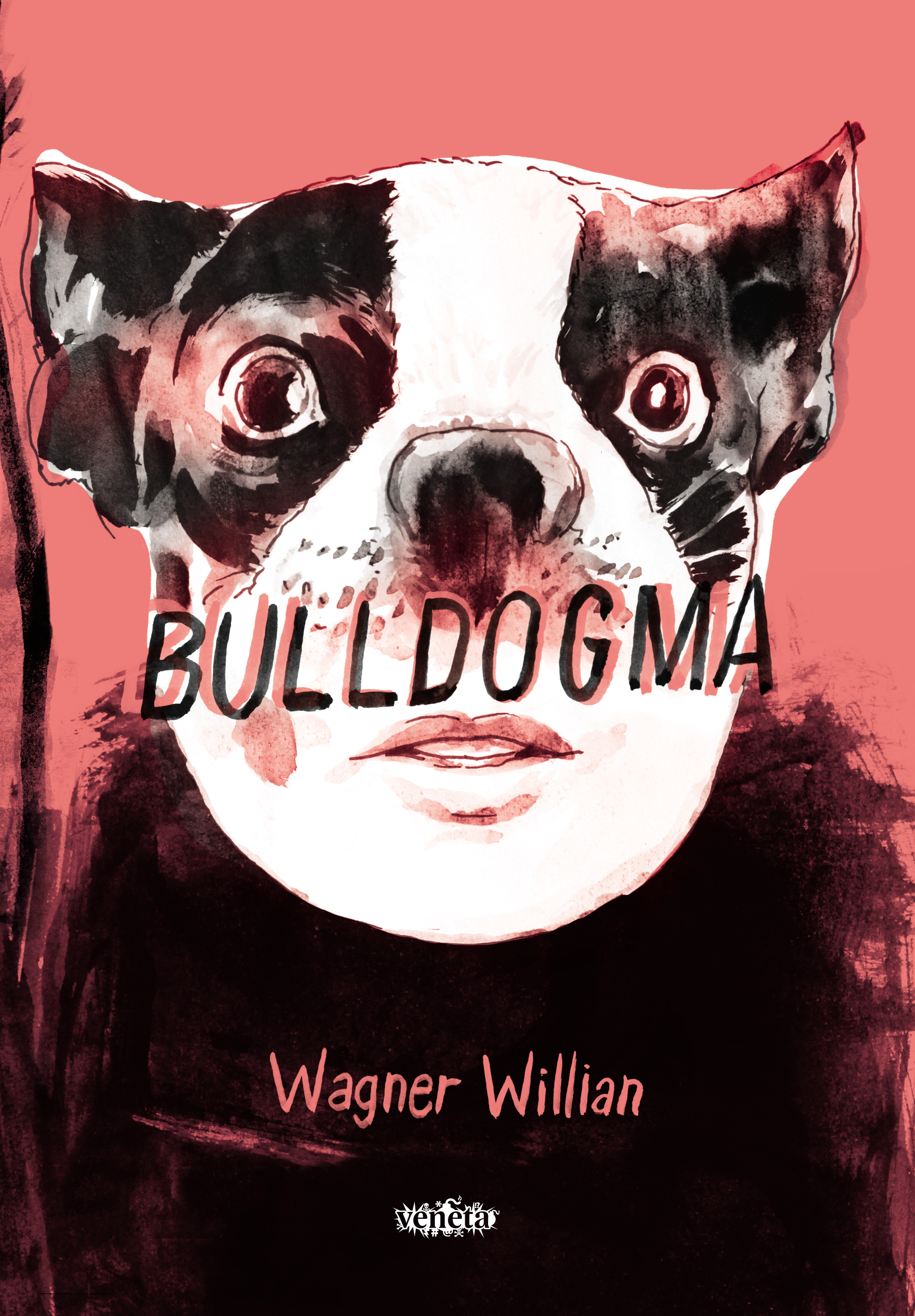





 Qualquer cinéfilo ou entusiasta de filmes de ação é familiarizado com o incrível Operação França (The French Connection), obra do diretor William Friedkin e estrelado por Gene Hackman e detêm a considerada melhor perseguição de carro já feita na história do cinema. Em contraste, não são muitas pessoas que viram a sua sequência, Operação França 2 (The French Connection 2), em que o detetive interpretado por Hackman vai até a França achar a tal conexão do título original. Não é um grande filme se compara a obra original. Felizmente, encontramos agora décadas depois a obra Conexão Francesa, dirigida por Cedric Jimenez, estrelando ninguém menos que Jean Dujardin
Qualquer cinéfilo ou entusiasta de filmes de ação é familiarizado com o incrível Operação França (The French Connection), obra do diretor William Friedkin e estrelado por Gene Hackman e detêm a considerada melhor perseguição de carro já feita na história do cinema. Em contraste, não são muitas pessoas que viram a sua sequência, Operação França 2 (The French Connection 2), em que o detetive interpretado por Hackman vai até a França achar a tal conexão do título original. Não é um grande filme se compara a obra original. Felizmente, encontramos agora décadas depois a obra Conexão Francesa, dirigida por Cedric Jimenez, estrelando ninguém menos que Jean Dujardin 






