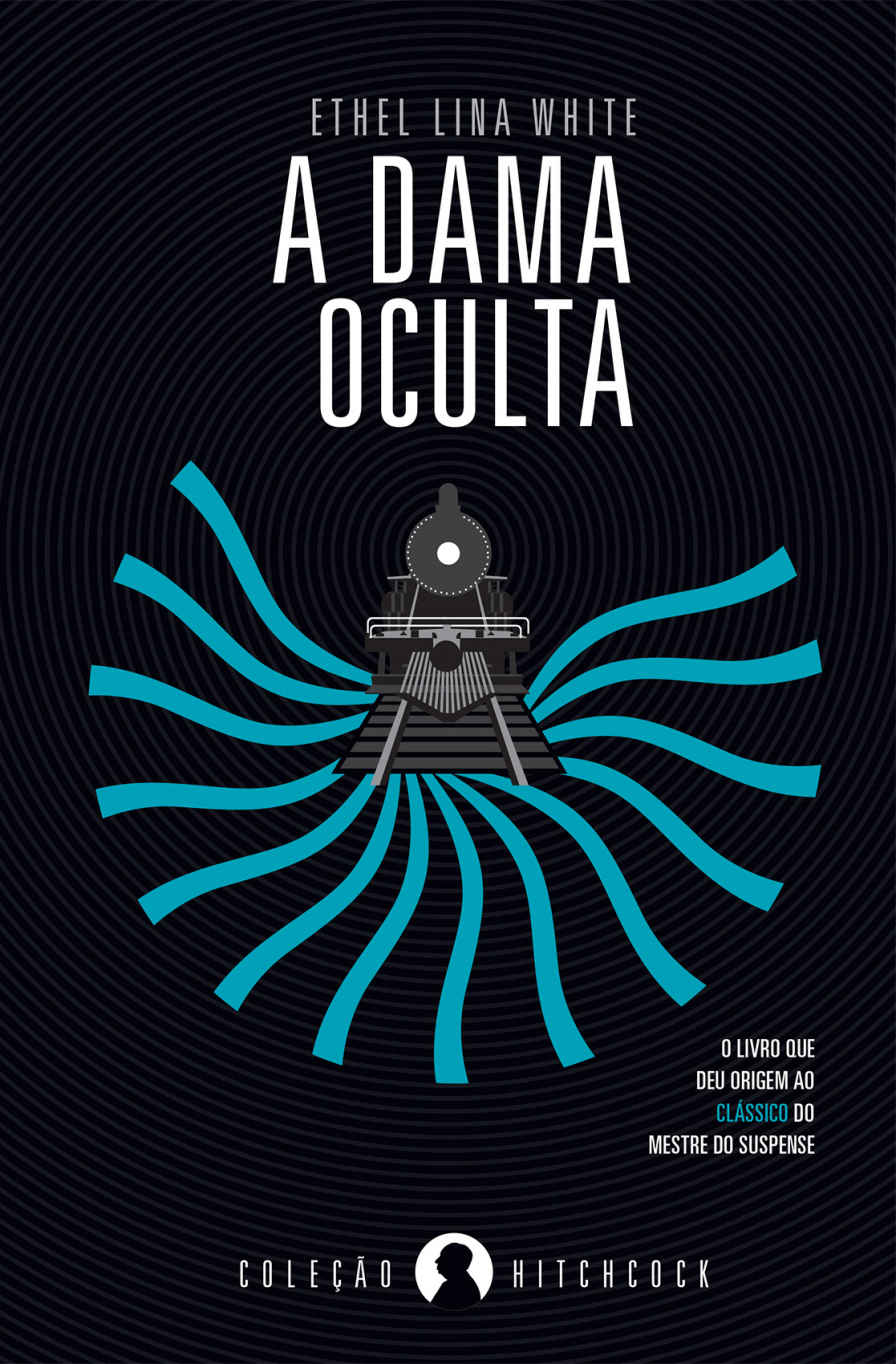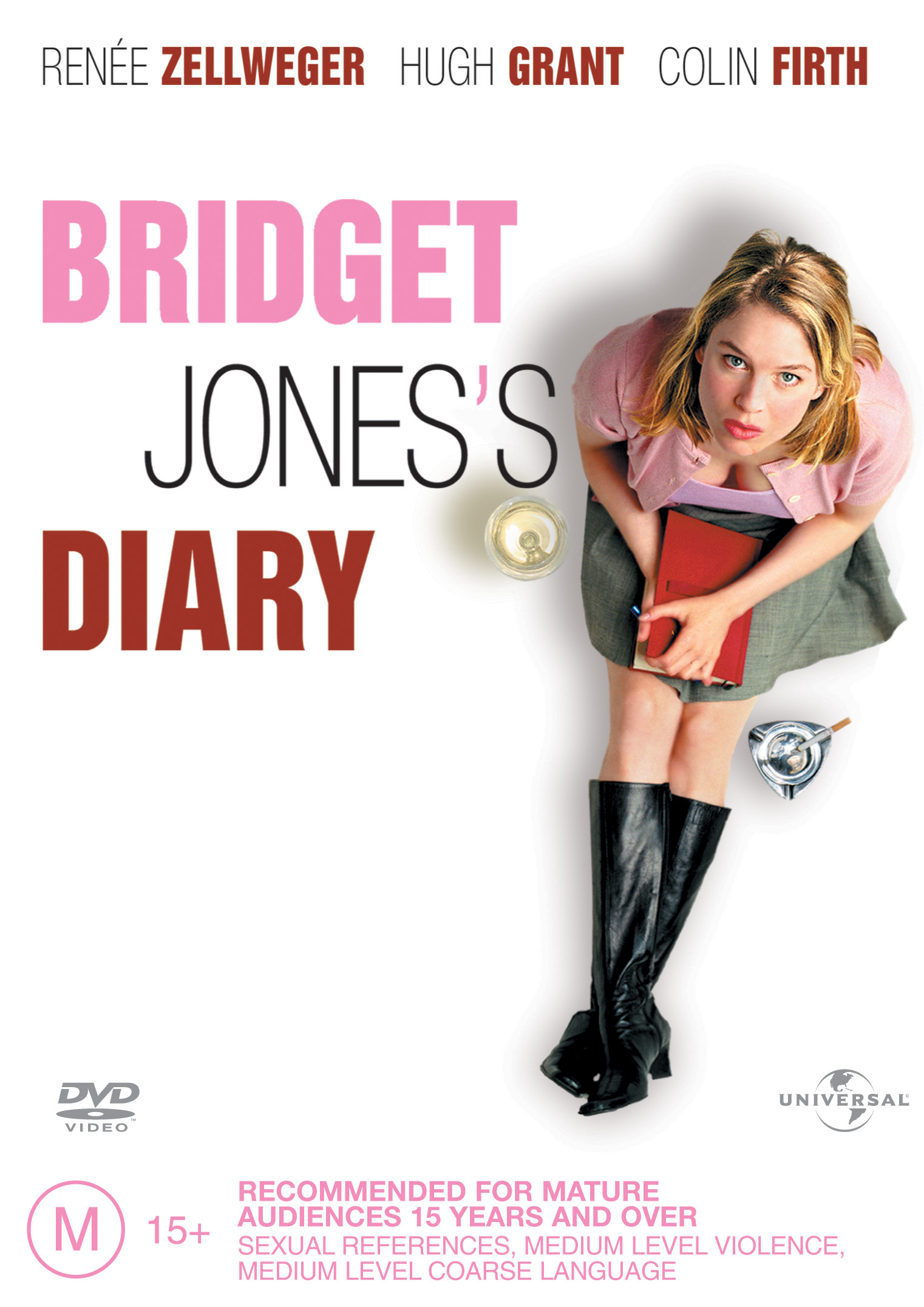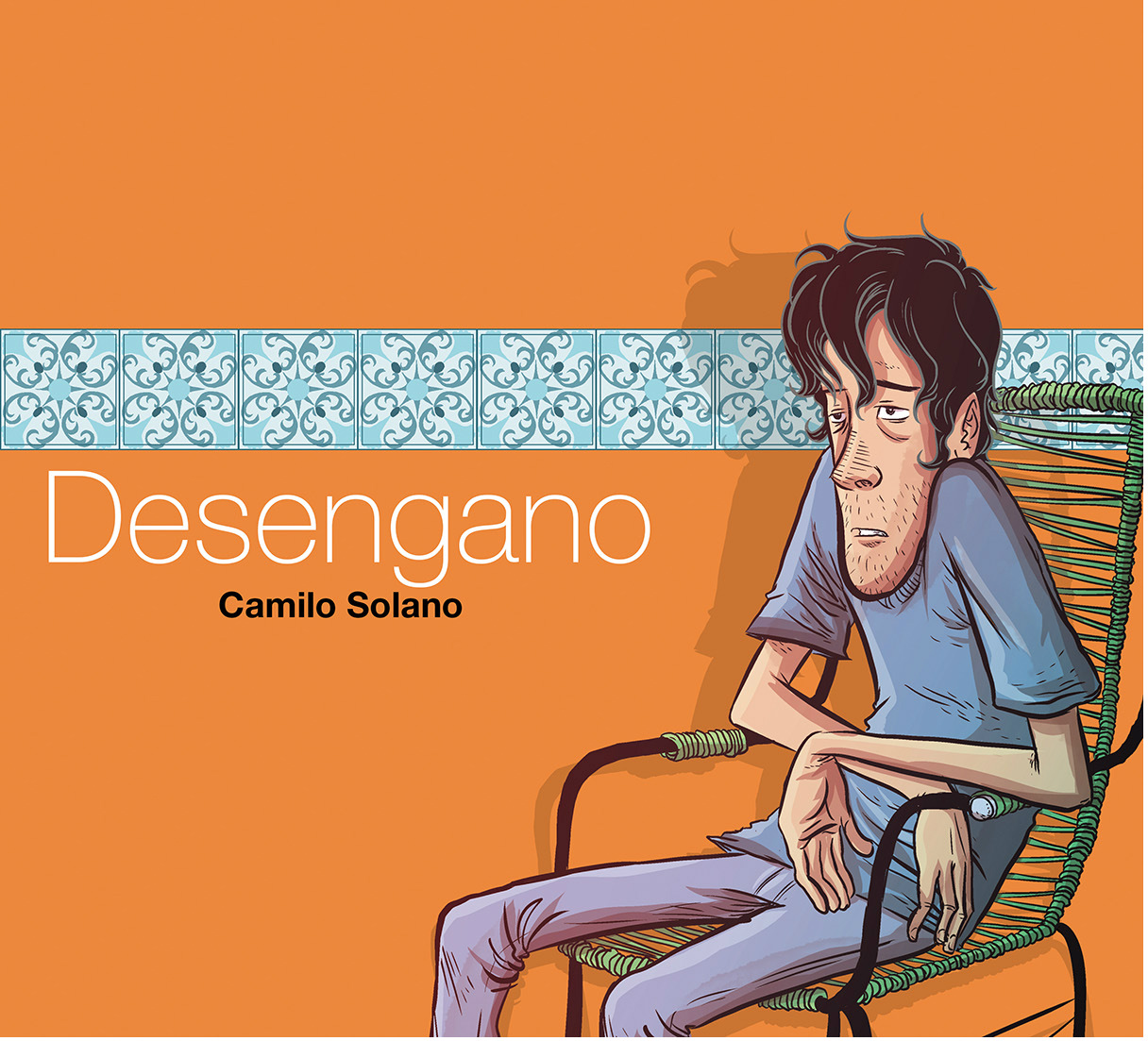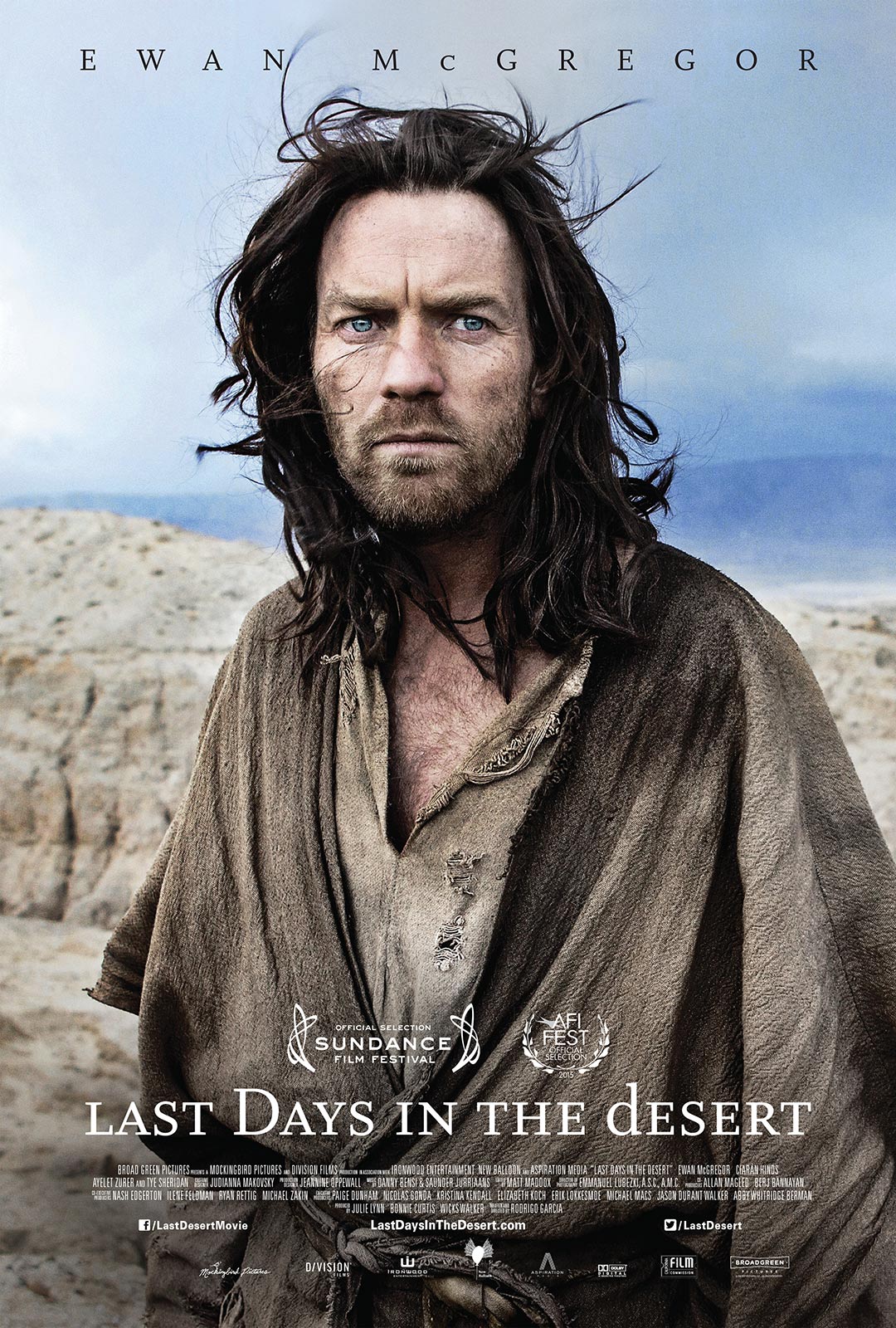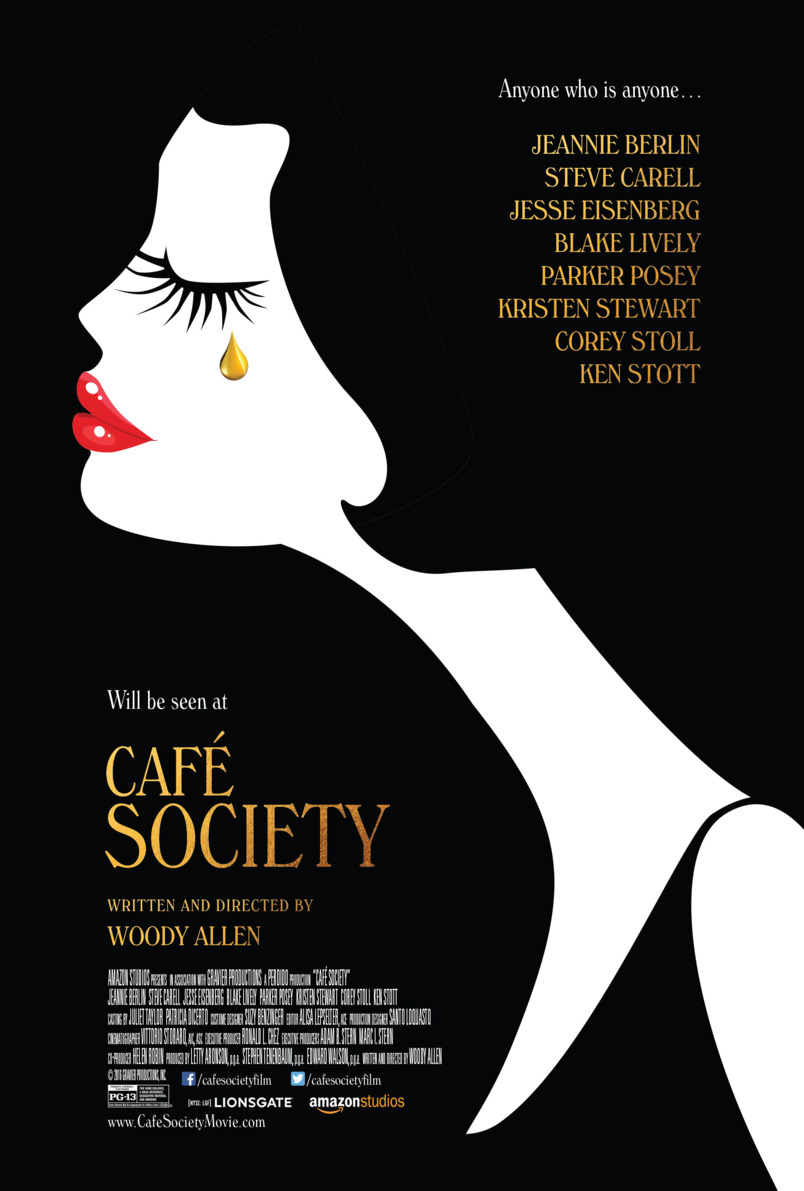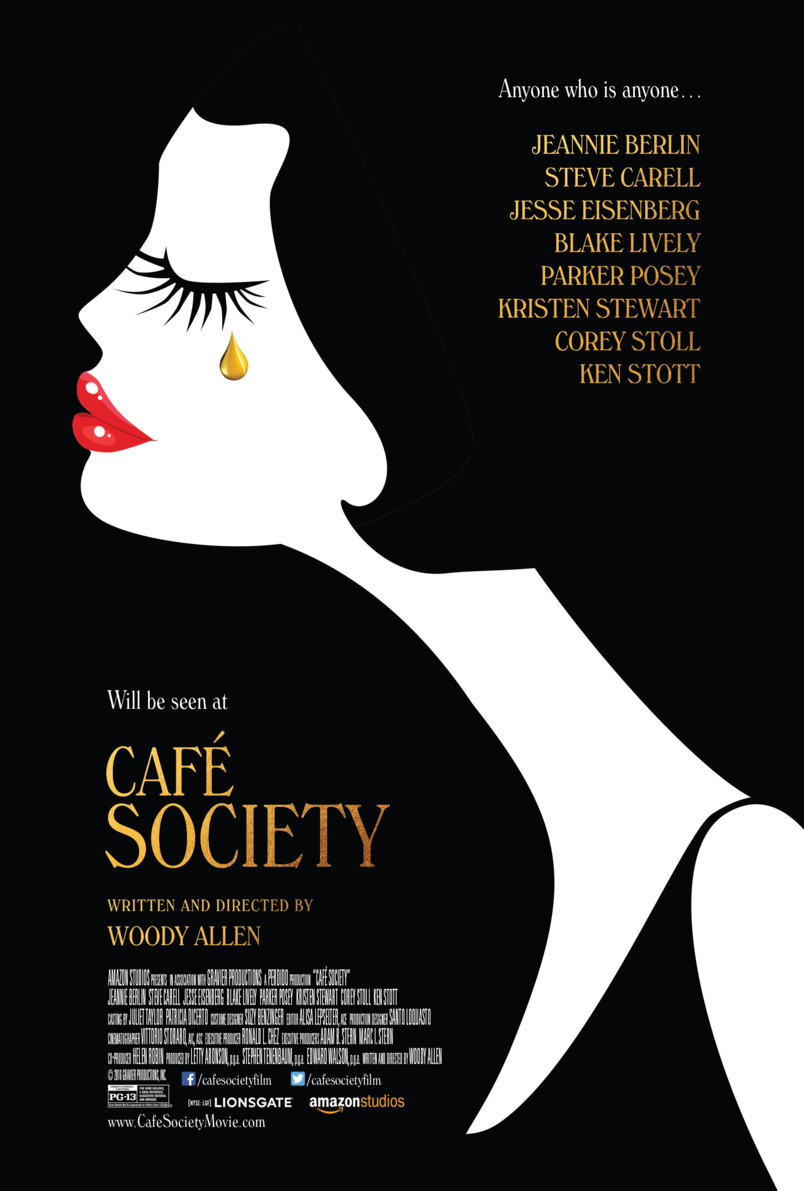Em tempos de jornalismo de listinha, aí vai uma lista das minhas séries que, além de grande qualidade estética e/ou narrativa, trouxeram grande contribuição para a qualidade na TV. Também coloquei menções honrosas, desonrosas e aquelas sem muita importância, sempre de séries que acompanhei. Para esta lista excluí algumas séries mais famosas e já debatidas em demasiado, que apesar de terem sido influentes, sofreram problemas graves de produção que afetaram sua qualidade, como Arquivo X ou Twin Peaks.
1. The Wire

A considerada “série das séries” realista da forma mais ficcional possível. Ou ficcional da forma mais realista possível. O tráfico de drogas. Tensões raciais. O crime. A polícia e todo o caldo cultural americano envolvido em uma narrativa simples, direta, crua e não perfeita, mas sempre honesta.
2. The Sopranos

A máfia ítalo-americana de Nova Jersey em sua forma mais crua. Com personagens densos e com dilemas sempre interessantes, mesmo os mais simples até os mais esdrúxulos, nunca menospreza o espectador. É O Poderoso Chefão sem glamour, mas com toda sua força narrativa, que também apesar de simples, não perde em nada por isso.
3. Six Feet Under (A Sete Palmos)

Uma família normal do subúrbio da Califórnia, a não ser pelo fato de serem extremamente disfuncionais e serem donos de uma agencia funerária. O humor negro, as alucinações narrativas e os personagens mais inconsequentes possíveis fazem qualquer pessoa se apaixonar pela série. Se você não gostou é porque não estava no momento certo. Veja de novo.
4. Seinfeld

A sitcom das sitcoms. Larry David e Jerry Seinfeld mudaram a TV quando trouxeram para ela esse formato repaginado da comédia sobre situações mundanas e da relação entre quatro amigos problemáticos e com personalidades diferentes, mas que se complementavam. A ajuda de roteiristas malucos também fez a diferença. Inimaginável a TV sem eles, pois daí surgiu a fórmula que deu origem a Friends e todas as outras sitcoms da atualidade.
5. Community

Um grupo de estudantes de uma universidade comunitária nos EUA seria algo super normal, não fosse o local mais estranho e que juntasse as pessoas mais desajustadas da sociedade no mesmo lugar. Utilizando de referências a cultura pop mas sem se apoiar exclusivamente nela, Community oferece uma comédia de alto nível raramente visto na TV. Por causa de problemas de produção algumas temporadas foram ruins, mas seu legado permanece.
6. The IT Crowd

O humor britânico em sua forma. Misturando situações esdrúxulas, tirando sarro de estereótipos de técnicos de TI e de todo o mundo corporativo, essa curta série britânica tem o maior índice de momentos memoráveis por episódios que já vi. São quatro temporadas de seis episódios. Curta demais para algo tão bom.
7. Mad Men

Uma das melhores produções da TV. Mad Men retrata o mundo corporativo da publicidade do auge do american way of life nos EUA, e retrata cruelmente não só o mundo dos negócios, mas também a sociedade da época sem fazer concessões.
8. Louie

Louis CK aqui deixa de lado seu humor mais escrachado e se volta a uma dramédia com toques surreais e situações inusitadas que divertem ao mesmo tempo que fazem o espectador se questionar porque está rindo daquilo. Também uma das melhores coisas em exibição hoje na TV.
9. American Dad

Ao estilo Family Guy, mas mais ácida, mais maluca e mais criativa, American Dad satiriza o estilo de vida americano de forma mais contundente e engraçada do que o principal produto de seu criador. Mesmo com vários problemas de produção, ainda se mantém como uma das melhores animações da TV.
10. Archer

Uma comédia adulta, só que nem tanto. Ao retratar como seria uma agencia de espionagem conduzida por pessoas com todos os distúrbios sociais e psicológicos possíveis, o resultado não poderia ser outro. É algo como uma mistura de Family Guy com 007, só que melhor que ambos.
11. Band of Brothers

Uma das primeiras séries que vi, e uma das primeiras produções fechadas da HBO, que ainda não sabia estar produzindo a chamada “Era de Ouro” da TV. Uma série sobre um destacamento de soldados americanos na 2ª guerra, ao melhor estilo O Resgate do Soldado Ryan.
12. Sherlock

O maior detetive de todos os tempos, mas modernizado. E feito por ingleses, garantindo uma atmosfera típica que só eles conseguem criar. Casos mirabolantes e cada vez mais inverossímeis não importam. A leveza com que os atores interpretam os excelentes roteiros e a química entre todos faz essa uma das melhores séries do gênero. FUJA da versão americana Elementary
13. Wallander

Livros policiais são moda na Suécia faz tempo, mas a série Wallander, também britânica, traz o veterano ator Kenneth Branagh como o também policial sueco Kurt Wallander, que além de resolver crimes com um faro policial aguçado, mas sem malabarismos, precisa cuidar dos problemas particulares com seus pais, filha e sempre na corda bamba para não ser vítima do próprio comportamento. Excelente para quem curte um bom drama policial.
14. Rectify

Daniel Holden fica preso numa solitária por 15 anos por um crime que não cometeu. É solto por evidencias de DNA e precisa reaprender a conviver em sociedade, mas em uma pequena cidade no interior dos EUA que ainda acha que ele cometeu o crime. Também um excelente drama.
15. Breaking Bad

Ok, essa todo mundo viu e nem precisaria falar, mas apesar de todos os problemas narrativos e atalhos preguiçosos, a jornada de Walter White se mostra muito interessante (menos por ele, uma cópia mal feita de Tony Soprano) especialmente por conta de outros personagens como Mike, Saul e outros. Porém, o ponto positivo ainda é a espetacular cinematografia, que ajudava a contar visualmente uma história.
Menções Honrosas
– Sons of Anarchy (história cafona, mas com personagens interessantes, vale a pena);
– Homeland (interessante história sobre terrorismo mas que as vezes se perde);
– Episodes (Muito boa série de comédia sobre bastidores de uma…série de comédia);
– Treme (do mesmo autor de The Wire, os mesmos elementos, mas dessa vez lidando com Nova Orleans pós-Katrina);
– The Knick (A NY do início do século XX é palco dessa série sobre médicos tentando expandir as fronteiras da cirurgia enquanto lidam com os mais diversos problemas e barreiras. Muito bem contextualizada social e culturalmente);
– True Detective 1ª temporada (Excelente série policial sobre um culto no sul dos EUA, com um grande destaque para a atmosfera e música americanas da região. Não veja a 2ª);
– Fargo (Baseada no filme dos irmãos Coen, adotando o formato de antologia, possui uma 1ª temporada Ok e uma 2ª excelente);
– Flight of the Conchords (como seria se os hipsters fossem engraçados ou interessantes como pensam que são);
– Séries da Marvel na Netflix (Demolidor e Jessica Jones são boas, mas não perfeitas. Problemas especialmente na narrativa. Mas Luke Cage eu nem vi e já gostei);
– House of Cards (apesar de cansativa, é um interessante debate sobre bastidores da política institucional);
– Mr. Robot (interessante história sobre hackers e cyber ativismo no século XXI, mas o lado pessoal da trama deixa a desejar);
– Black Mirror (Antologia britânica de minicontos de ficção científica com debates muito interessantes sob os mais variados temas);
– Friends (Praticamente a primeira sitcom que veio na esteira do sucesso de Seinfeld, trouxe um humor mais diluído e açucarado, mas a boa química entre os atores e algumas temporadas de nível acima de média – especialmente a 4ª e a 5ª – garante uma boa diversão, mesmo que no final a série perca muito o fôlego).
MENÇÕES “MEH”
– House M.D. (8 temporadas, OITO, da mesma coisa);
– Californication (7 temporadas, SETE, da mesma coisa);
– Game of Thrones (ok gente, 1ª temporada excelente, mas depois foi só ladeira abaixo, vamos agilizar esse novelão aí. Já, já encontra The Walking Dead na falta de coragem);
– Hannibal (Um clima muito bom, as vezes diálogos interessantes, mas derrapam demais na enrolação e condução da história);
– The Killing (Um clima muito bom, as vezes diálogos interessantes, mas derrapam demais na enrolação e condução da história);
– The Mentalist (Um protagonista interessante, mas só. Faltou desenvolver o lado crítico que começou forte contra os charlatães. A obsessão e consequente resolução desastrosa do vilão principal deixou muito a desejar);
– Boardwalk Empire (De uma 1ª temporada excelente a episódios cada vez mais comuns e uma trama mais diluída em conflitos menores e desinteressantes);
– Agents of Shield. (é tão ok que nem tem muito o que dizer. Não vale a pena nem para se manter por dentro do Marvel Cinematic Universe. Veja só caso não tenha absolutamente nada a ver. Ou caso goste do Phil Coulson e do ator que o interpreta);
– Narcos (era para todo mundo gostar, mas é um discurso sobre drogas tão raso, com vários elementos requentados de Tropa de Elite que… Veja The Wire. É melhor :P);
– Supernatural (Apesar de algumas temporadas muito boas no começo, a série definitivamente abandonou qualquer ambição em meados de sua 6ª temporada, onde os irmãos Winchester se viram morrendo, ressuscitando, visitando o céu, o inferno e no meio de um conflito celestial. Se mantém no ar pela grande audiência, mantida por um público cativo, especialmente de adolescentes).
Menções Desonrosas feat NÃO VEJA ou PARE DE VER
– The Big Bang Theory (Dez anos de atores repetindo falas, bordões e comportamentos são legais apenas porque fazem referencia a quadrinhos? Zorra Total é mais eficiente que isso);
– The Walking Dead (George Romero já disse que a série é ruim. E é. Drama arrastado, com personagens chatos, e que se baseia apenas em cliffhangers para manter a audiência. Desonesta e mal produzida até o osso);
– Lost (Um dos começos mais promissores com um dos piores finais que já foram exibidos na TV. Não perca seu tempo);
– Dexter (Um dos começos mais promissores com um dos piores finais que já foram exibidos na TV. Não perca seu tempo)²;
– Séries de heróis da DC. Não veja.
–
Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.
 Fica extremamente difícil escrever sobre o tema sem contar o que acontece, mas, de qualquer forma, o drama da jovem faz com que o espectador a acompanhe de perto, como se estivesse ao seu lado, sentindo, quase que literalmente, sua dor pelas próximas horas, sendo que tudo que Nancy tem para lhe auxiliar são seus objetos pessoais que lhe acompanhavam ao mar, como seu relógio, sua roupa de mergulho, seus brincos e um pingente, além de conhecimentos básicos sobre a movimentação das marés, o que adiciona ainda mais urgência à trama e sua resolução. Vale destacar que não é por acaso o fato dela ser praticamente uma médica, pois qualquer outro surfista sem conhecimentos da medicina chegaria a óbito logo na metade do filme. Uma solução suja, porém, necessária para manter a personagem por tempo suficiente em tela.
Fica extremamente difícil escrever sobre o tema sem contar o que acontece, mas, de qualquer forma, o drama da jovem faz com que o espectador a acompanhe de perto, como se estivesse ao seu lado, sentindo, quase que literalmente, sua dor pelas próximas horas, sendo que tudo que Nancy tem para lhe auxiliar são seus objetos pessoais que lhe acompanhavam ao mar, como seu relógio, sua roupa de mergulho, seus brincos e um pingente, além de conhecimentos básicos sobre a movimentação das marés, o que adiciona ainda mais urgência à trama e sua resolução. Vale destacar que não é por acaso o fato dela ser praticamente uma médica, pois qualquer outro surfista sem conhecimentos da medicina chegaria a óbito logo na metade do filme. Uma solução suja, porém, necessária para manter a personagem por tempo suficiente em tela.