Arquixo X foi um dos fenômenos televisivos da década de 90. A série criada por Chris Carter, em 1993, ainda é referência para muitos seriados da TV americana que encontram material suficiente para se inspirar. Durante mais de 200 episódios, a série fez de tudo. Abordou a maioria das lendas urbanas existentes no planeta, trouxe à tela serial killers, desde os que iam somente atrás de mulheres até aqueles que raptavam crianças. Revisou o místico e o fantástico, seitas, viajou pelo tempo, além de apresentar ao espectador diversos episódios especiais, seja em preto e branco, noir, recheados de humor, fazendo sátiras ou episódios escritos e dirigidos pelo elenco principal. Mas, além de tais episódios, a série trazia um conceito interessante, qual seja, uma história principal conhecida entre os fãs como mitologia e que fez a série se sustentar por 9 temporadas graças às ótimas histórias, às performances de David Duchovny e Gillian Anderson e do ótimo time de coadjuvantes que completava o time.
Fazendo um breve resumo da trama, o agente do FBI, Fox Mulder (Duchovny), quando criança, presenciou sua irmã sendo abduzida por alienígenas. Com a ideia de que um dia a encontraria, chegou ao bureau para trabalhar no Arquivos X, uma pequena e desacreditada divisão que investigava casos inexplicáveis. O trabalho de Mulder começou a chamar atenção e seus superiores recrutaram a novata agente e cientista Dana Scully (Anderson) para contestar o trabalho de Mulder, com a finalidade de por fim à divisão. Nesses quase 10 anos em que trabalharam juntos, a dupla se viu dentro de uma conspiração muito maior do que poderiam imaginar, envolvendo alienígenas, o próprio governo e uma possível colonização que consistia na alteração genética dos seres humanos. Mulder foi julgado militarmente por seus supostos crimes e terminou a série, em 2002, foragido ao lado de Scully.
Com a onda de reboots e remakes que o cinema vem enfrentando, não demoraria muito para que a referida onda chegasse à televisão, reabrindo, assim, os Arquivos X. Apostando num formato bastante diferente ao qual estava acostumada, a série retornou com apenas 6 episódios, dividindo opiniões. Hoje, sem dúvida, parece que sim, foi pouco. De qualquer forma, o formato em poucos episódios foi adequado de acordo com Duchovny e Anderson, que são bem conhecidos por Californication e The Fall, respectivamente.
Nessa temporada, a premissa da mitologia, além de envolver um Mulder enclausurado em sua casa e uma Scully que retornou ao seu ofício na medicina, apresenta Tad O’Malley (Joel McHale), um apresentador de TV que adora expor ao seu público as mais diversas conspirações. Aparentemente, O’Malley, descobriu aquela que seria a maior e mais letal das conspirações e que está em contato direto com a verdade que Mulder sempre buscou e que demonstra, na realidade, as reais intenções do governo ou de quem estaria por trás dela. Infelizmente, como dito, 6 episódios não foram suficientes para contar o que aconteceu, uma vez que essa premissa foi tratada em apenas 2 episódios, o primeiro, My Struggle, apresentando o ponto de vista de Mulder, e My Struggle II, o último episódio, mostrando o ponto de vista de Scully, que se encerra sem um ponto final (marca registrada dos finais de temporada da série), demonstrando que, de fato, a série poderá continuar.
Talvez essa 10ª temporada tenha se preocupado mais em mostrar aos fãs que a chama e o espírito da série ainda se mantêm, o que foi amplamente abordado nos outros quatro episódios. Por conta dos adventos do primeiro capítulo, não demorou para que o Diretor Assistente Skinner (novamente vivido por Mitch Pileggi) reabrisse os Arquivos X, colocando Mulder e Scully de volta à ativa. E o que vemos a partir disso é Arquivo X na sua pura essência. Embora os anos tenham se passado, Mulder tenha ganhado um pouco de peso (além de reconhecer que é um homem de meia-idade) e Scully, algumas rugas, a série parece que nunca deixou a televisão. A clássica abertura está presente, sem nenhuma alteração; os monstros da semana; as frases clássicas; as lanternas; os episódios confusos cujos desfechos não ficam muito claros; e a trilha sonora característica de Mark Snow. Tudo está lá. E, com isso, a urgência de Chris Carter em querer demonstrar nove temporadas em apenas seis episódios, tenha prejudicado um pouco o andamento dessa temporada, que aparentou ficar um pouco fora do compasso.
Contudo, o saldo foi muito promissor, uma vez que podemos adicionar dois episódios para o hall de episódios clássicos da série, sendo um deles o terceiro episódio, Mulder & Scully Meet the Were-Monster, que remete ao lado lúdico e descarado (com uma homenagem ao falecido diretor Kim Manners) e o quarto episódio, Home Again, que mostra Scully lidando de forma emocionante com uma dura situação em sua vida pessoal. A temporada destaca mais Dana do que Mulder, uma vez que, em praticamente em todos os episódios, a agente precisa lidar com a falta de seu filho William. O arco de William, embora suspenso, esteve presente, inclusive no primeiro e segundo episódio da nova temporada, respondendo de forma sutil a uma dúvida que, por muito tempo, foi chave para as abduções e experiências genéticas envolvendo mulheres e seus bebês na série.
Um outro ponto destacável é que a dupla não é mais um casal, fato que dividiu opiniões, deixando parte dos fãs felizes, uma vez que a base da série sempre foi os dois atuando como parceiros, demonstrando por diversas vezes um carinho e uma preocupação intensa um pelo outro, algo sabiamente mantido nessa temporada. Possivelmente, é o porquê dos dois estarem separados: assim, a carga de dramaticidade foi ligeiramente maior, acusando de forma clara que aquele sentimento que sempre tiveram um pelo outro, muito antes de ficarem juntos, ainda existe.
Arquivo X parece que voltou para ficar por mais algum tempo na TV e os fãs só têm a ganhar. A audiência tem dado essa chance à série, uma vez que os números nos EUA foram muito expressivos, sendo que, no Reino Unido, essa nova temporada foi a que mais deu audiência ao Channel 5 desde Celebrity Big Brother que foi ao ar em 2011. O primeiro passo foi dado, resta agora a série apresentar uma futura evolução.
–
Texto de autoria de David Matheus Nunes.







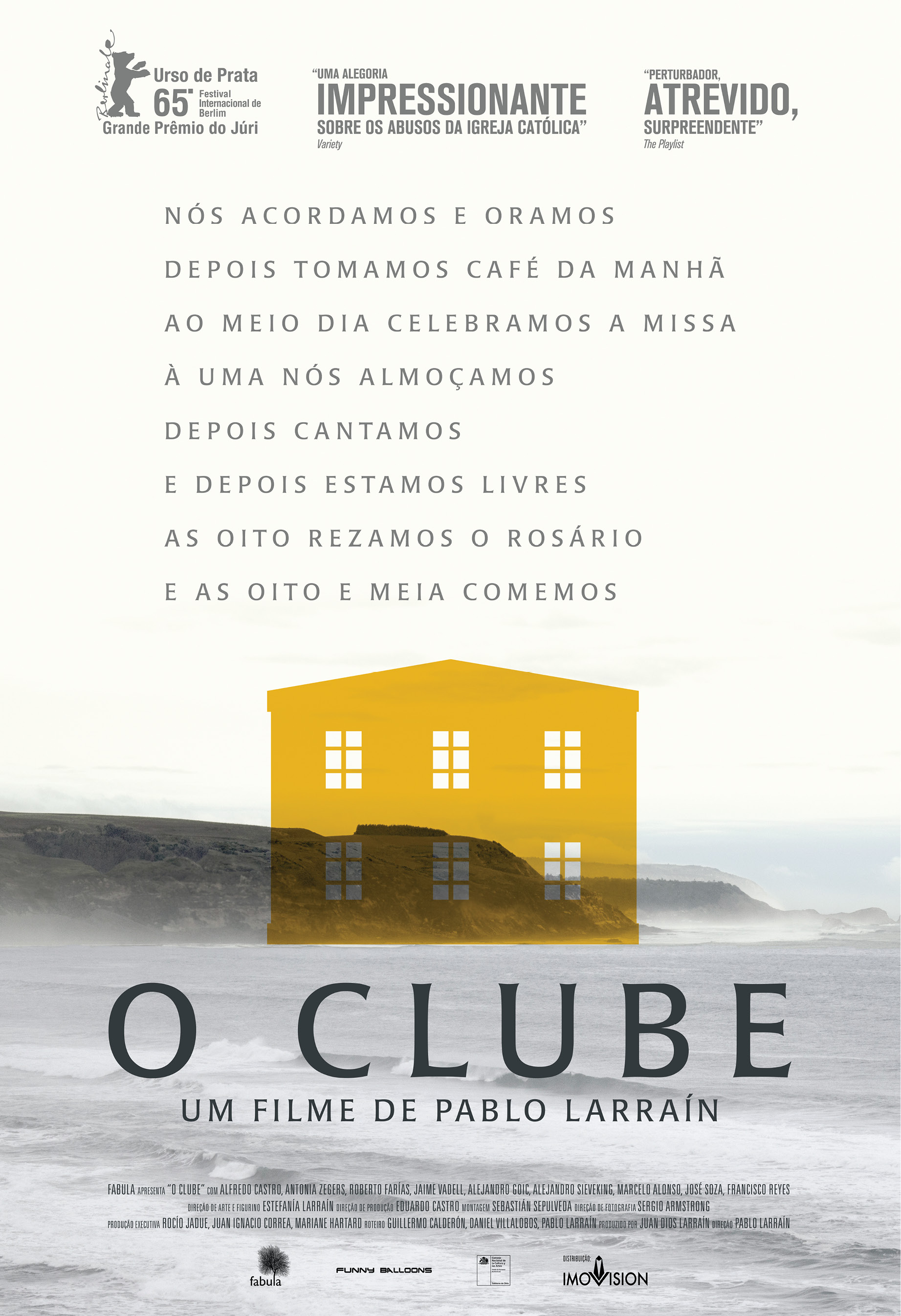
















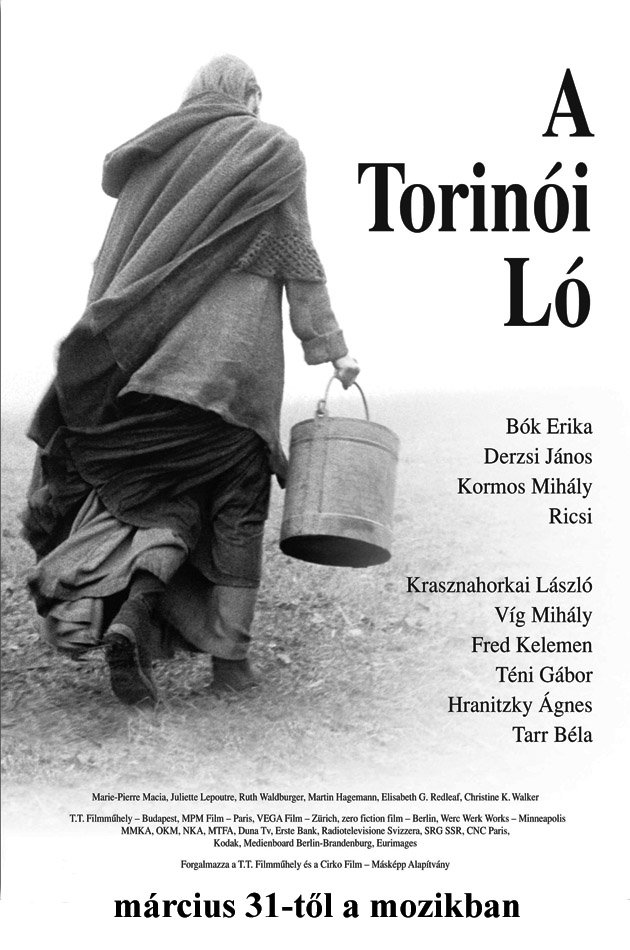

















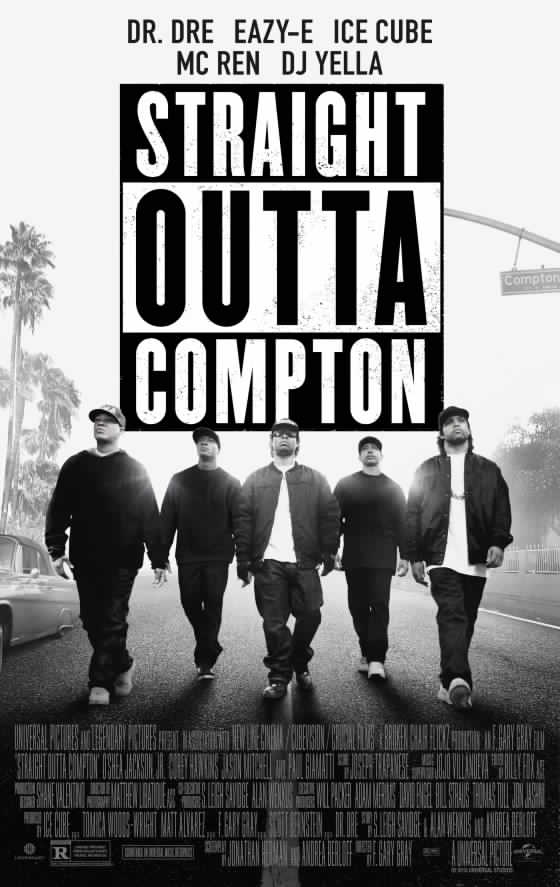
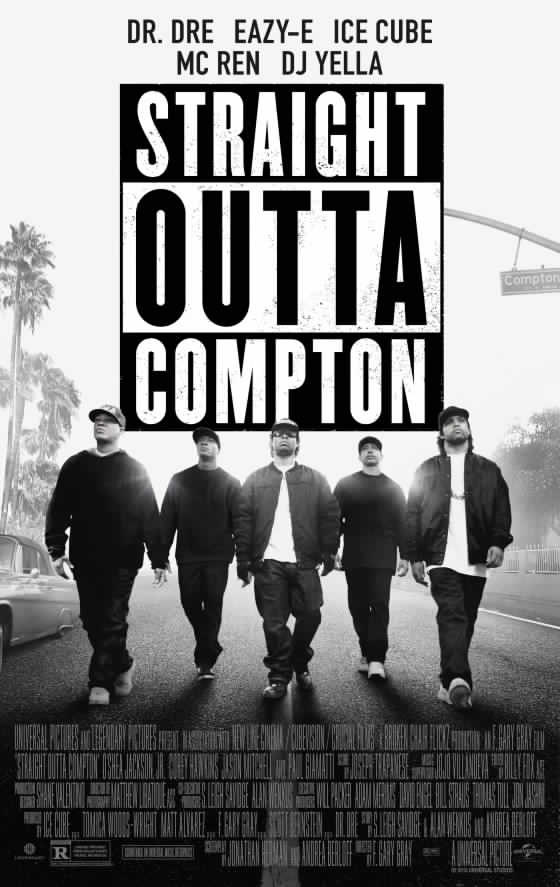





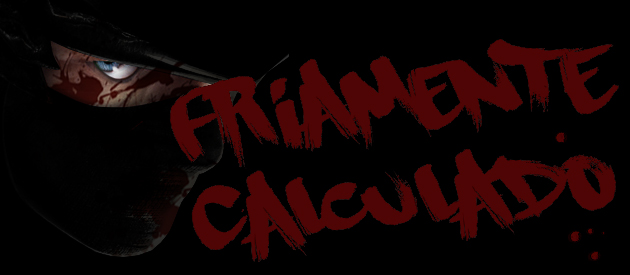
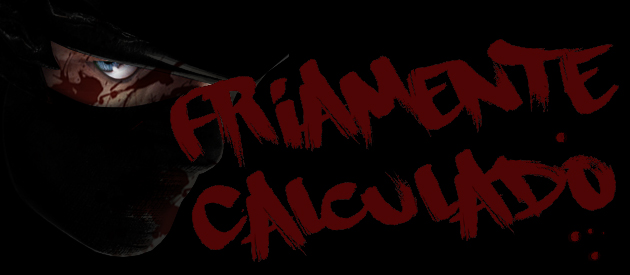
 Kim Jong-un: líder da Coréia do Norte e única pessoa gorda de todo o país.
Kim Jong-un: líder da Coréia do Norte e única pessoa gorda de todo o país.
