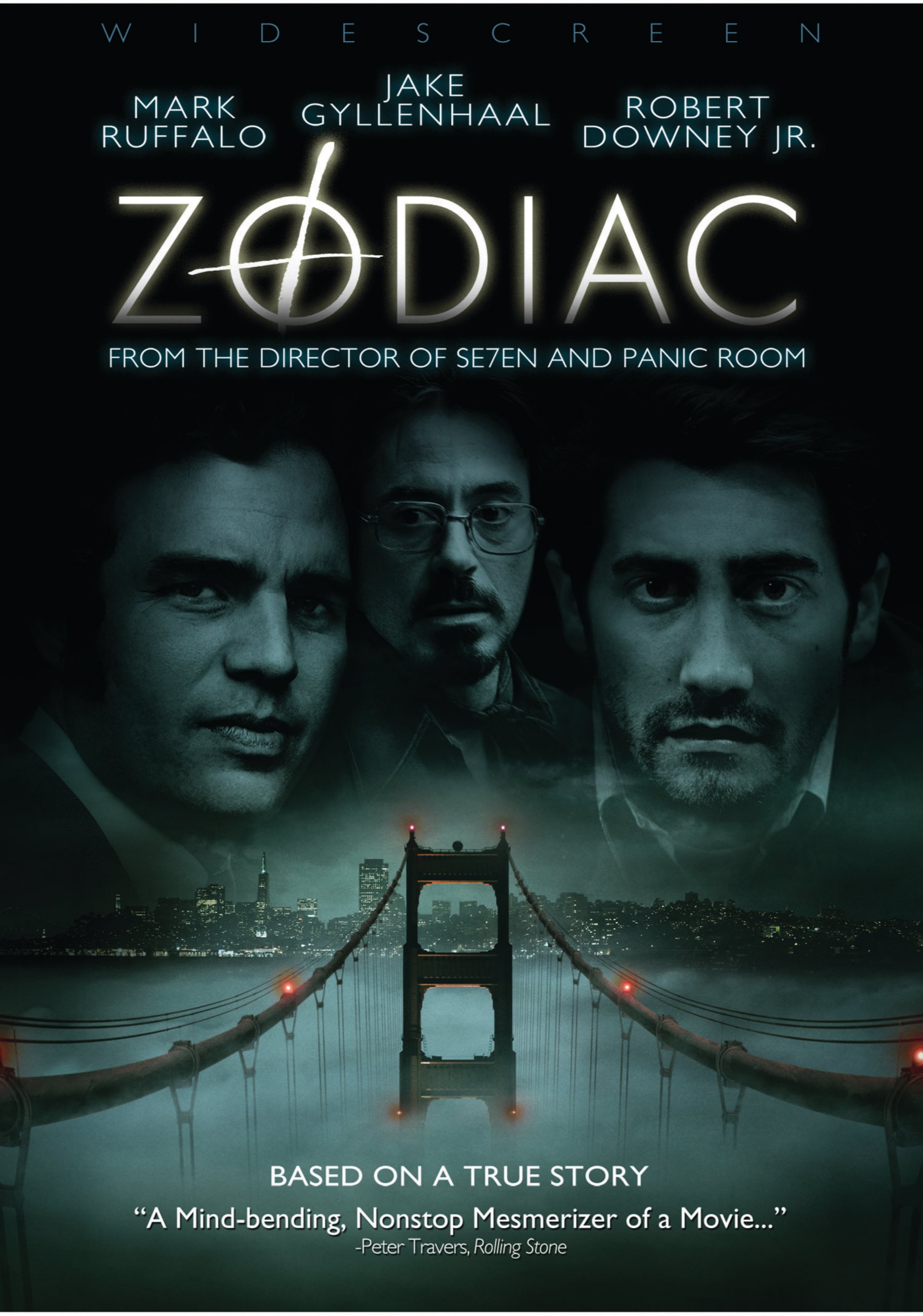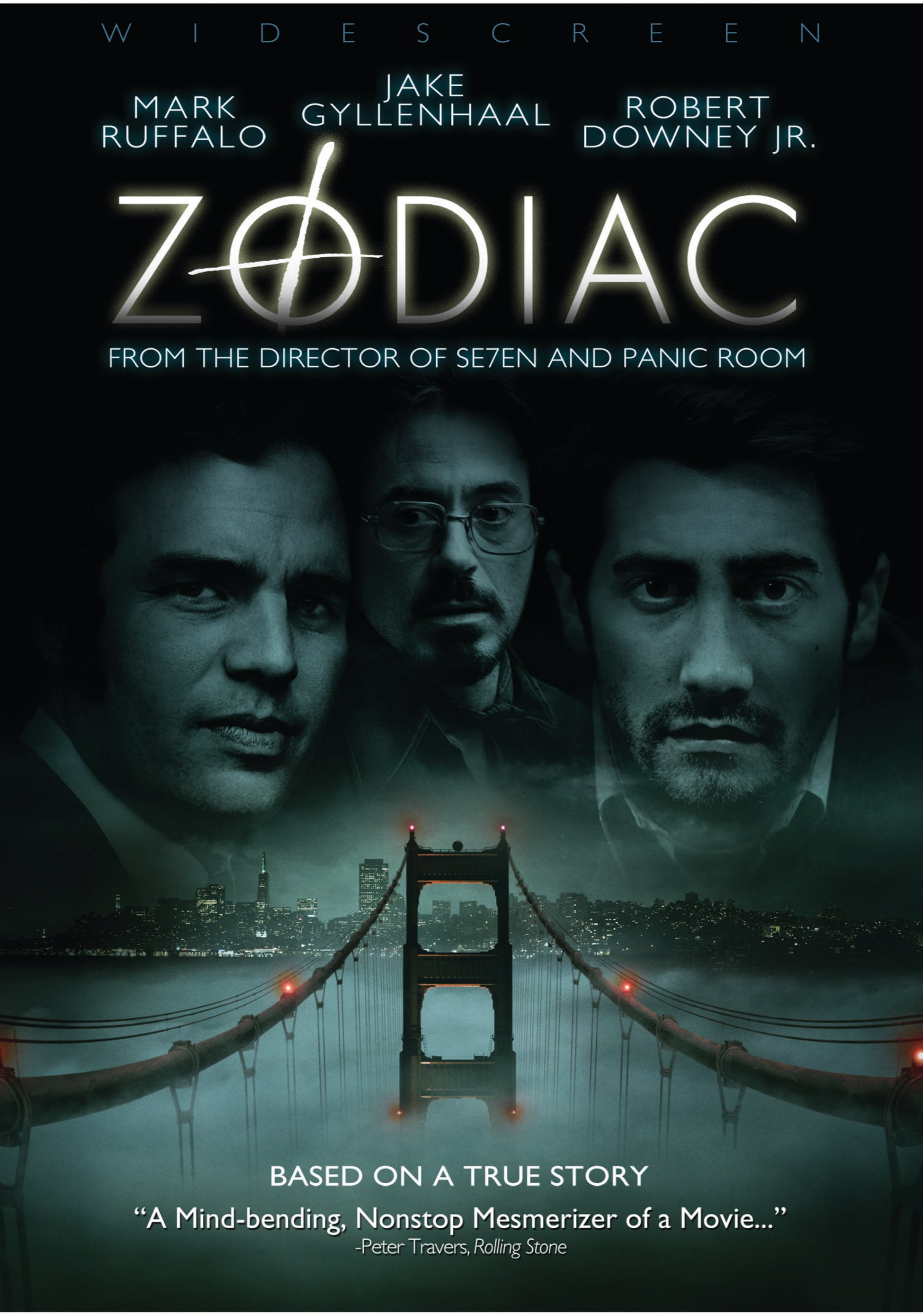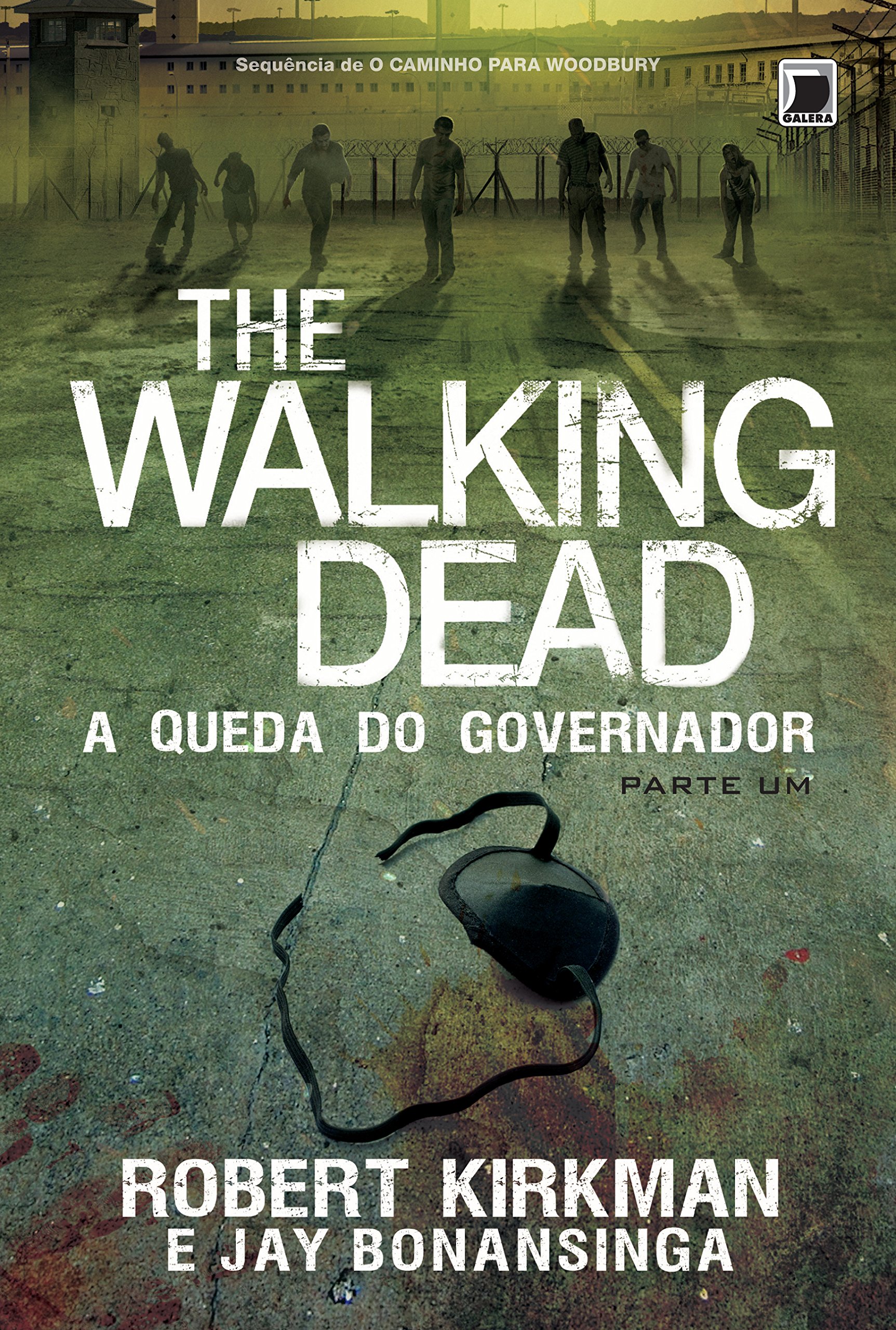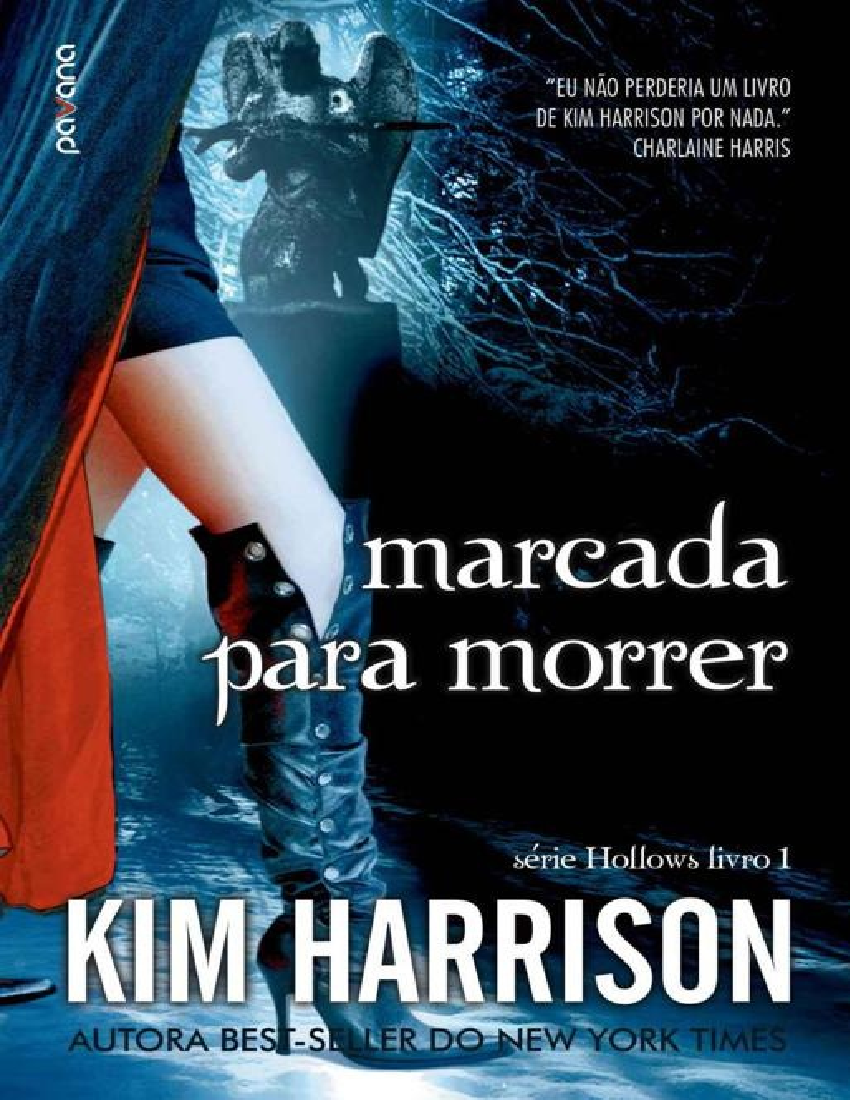Desde que o primeiro homem andou sobre esse planeta, o céu e as estrelas exercem uma fascinação na espécie como nenhum outro fenômeno da natureza. Não à toa, praticamente todos os povos terrestres tinham como deuses planetas e estrelas, dadas sua magnitude, distância e beleza. Portanto, nada mais natural que, na era moderna, as artes tentem reproduzir esse senso de admiração pelo desconhecido. Dentre todas, o cinema é a que chega mais próxima de construir e reproduzir essas sensações para o público dito “comum”, que em meio à correria do dia a dia, mal tem tempo de olhar para o lado, quanto mais para cima.
Desde Georges Méliès, passando pelo sempre cultuado 2001 – Uma Odisseia no Espaço, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Contato e, mais recentemente, por Gravidade, o Universo exerce um fascínio por sua exuberante beleza, ao mesmo tempo que assusta por suas escalas inimagináveis de grandeza e a sensação de que, ali, estamos perto de ser literalmente nada. Ciente de todas essas questões, o cultuado diretor britânico Christopher Nolan se lançou em uma empreitada arriscada, a de fazer uma história que se passa nesse cenário e que, ao mesmo tempo, possa emplacar um sucesso comercial.
Interestelar gira em torno do piloto Cooper (Matthew McConaughey), que cuida de sua fazenda no interior dos EUA junto a sua família. Em um futuro não muito distante, que flerta com uma distopia onde a humanidade não foi destruída, mas passa por dificuldades e tenta viver normalmente, a sociedade não precisa mais de engenheiros e pilotos, pois a exaustão natural do planeta, junto ao crescimento da população, provocou a escassez de comida, sendo essa a atual função de Cooper, que nunca superou o fato de não ter levado adiante sua vocação. Sua filha, Murph (Mackenzie Foy/Jessica Chastain/Ellen Burstyn), mostra uma grande inteligência e inclinação para a ciência, enquanto seu filho, Tom (Timothée Chalamet/Casey Affleck), se mostra contente em seguir seus passos de fazendeiro, tudo aos cuidados do pai de sua falecida esposa, Donald (John Lithgow).
Cooper tenta ao máximo se esforçar para cumprir suas tarefas como fazendeiro e pai, mas a frustração de não ser piloto sempre o impede de dar a tudo a atenção e importância que merecem. A passagem em que ele discute com os responsáveis da escola de seus filhos, onde os livros de história sobre a exploração espacial foram alterados, é excelente na medida em que mostra o descompasso entre aquele estágio da humanidade, que se contenta em apenas sobreviver, e a reminiscência de um passado sonhador, na figura de Cooper, que imaginava expandir as fronteiras da humanidade rumo ao espaço. A discussão a respeito do pioneirismo da exploração espacial – relembrando o Velho Oeste -, e o papel da ciência como salvadora da humanidade também poderia ser mais problematizada. O filme ignora condições sociais e ideologias das quais a ciência é fruto. Ela não existe sem seres humanos dotados de vontade produzindo-a, e da mesma forma que ela é tratada sozinha como a salvadora da humanidade, também poderia ter sido a causadora de sua extinção.
Dentro deste mundo, os fenômenos naturais com os quais estamos habituados não acontecem mais do mesmo jeito. Elementos como uma poeira constante (que às vezes se transforma em tempestades) e alterações na gravidade por vezes acontecem, mas a preocupação com o dia a dia é tão grande que poucos ligam. Menos Murph. A criança percebe em seu quarto que algo estranho, que ela chama de “fantasma”, acontece, já que os livros de suas estantes sempre caem sozinhos. Cooper diz a ela para compilar dados e analisá-los, para depois se chegar a uma conclusão, como manda a lógica científica. Prontamente, Murph realiza o pedido do pai e em pouco tempo descobre uma mensagem codificada, em código Morse, e que, para a surpresa e espanto de Cooper, os leva a uma instalação secreta da NASA.
Lá, Cooper reencontra um antigo amigo de seus tempos de piloto, o professor Brand (Michael Caine), e conhece a filha dele, Amelia Brand (Anne Hathaway). Então, a história dá uma guinada. Cooper é convidado para fazer parte de um projeto de tentativa de salvação da humanidade, que será extinta por uma “praga” que consome nitrogênio e altera o balanço da atmosfera. O projeto, que estava em andamento há anos, levou equipes diferentes de cientistas para outra galáxia através de um buraco de minhoca posicionado perto de Saturno por “alguém”, que ninguém sabe quem, mas que não estaria ali por acaso. E esse seria o caminho da viagem, o qual envolveria muitos riscos, provavelmente sem retorno.
Nesse momento, o desenvolvimento dos personagens e suas angústias é parado para dar vazão a uma velha mania de Nolan, que é explicar para o espectador tudo o que os especialistas do filme pretendem fazer. Nesse caso, o professor Brand explica todo o passo a passo para Cooper, e o fato de escolherem um ex-piloto e fazendeiro, que apareceu por acaso naquela base para pilotar a missão mais importante da humanidade, causa um certo estranhamento, em que a explicação dada, onde “algo” o enviou ali, convence o espectador mais crédulo, mas não aquele mais exigente. A explanação do professor Brand sobre os planos A (resolução de sua equação e retirada da população da Terra para outro planeta) e B (popular o novo planeta com material genético guardado) também é acometida por isso.
Chamado de volta a sua vocação, Cooper aceita a missão e precisa deixar a família, para o desespero de sua filha. A promessa do retorno do pai não resolve o conflito, que ecoará para sempre na vida de ambos. O relógio que Cooper dá a Murph como uma tentativa de criar um elo sentimental e temporal entre ambos também falha nesse sentido.
Ao abandonar a Terra e ir para o espaço, o filme toma outra proporção, e as discussões científicas entre os personagens, para decidirem o próximo passo da missão, são sempre explicativas dentro de um limite do aceitável, mas bem perto deste limite. Para um espectador sem nenhum tipo de conhecimento científico, talvez ajudem-no a entender alguns conceitos básicos e o que estaria acontecendo em determinados momentos. Porém, para este mesmo espectador, explicação alguma ajudaria a entender fenômenos mais complexos, como o que acontece dentro de um buraco negro, o que, na verdade, ninguém sabe. Se em A Origem o excesso de explicações sobre uma trama relativamente simples acaba entediando o público, em Interestelar isso não acontece, pois as informações estão inseridas em um contexto totalmente diferente do que estamos habituados, e os diálogos ajudam-nos a familiarizar tanto com o tema quanto com as motivações por trás de cada personagem. Obviamente, escorregões acontecem, quando Amelia Brand discorre sobre o amor, mas são poucas as vezes.
A sequência de aproximação, e quando entram no buraco de minhoca, é belíssima e lembra muito a viagem de Ellie, em Contato, ao transformar uma viagem espacial sob condições inéditas e extremas em uma aventura por si só. Ao mesmo tempo, a chegada ao local se transforma em uma paisagem visual para o vislumbre do espectador e dos protagonistas. Juntos na viagem estão os outros cientistas Doyle (Wes Bentley) e Romilly (David Gyasi), além dos computadores com inteligência artificial TARS (voz de Bill Irwin) e CASE (voz de Josh Stewart), que garantem bons alívios cômicos.
Ao transformar o desconhecido do espaço em potenciais riscos para os astronautas, Nolan consegue criar situações de tensão de forma eficiente, e utilizando-se de toda a complexidade de estar em uma realidade com tempo e espaço totalmente diferentes, o horror da situação aumenta ainda mais, como na excelente sequência dentro do planeta aquático onde estava uma das cientistas que buscavam mundos habitáveis. Lá, tudo o que poderia dar errado, deu, em referência a uma própria brincadeira do filme com a “Lei de Murphy”. O fato do planeta estar próximo do buraco negro Gargantua faz com que poucas horas ali se transformem em quase 30 anos perdidos na Terra, e o peso de tais erros, ainda mais brutal sobre os tripulantes. Ao retornar à nave, percebem que se passaram 23 anos na Terra, e muita coisa aconteceu. Os filhos de Coop cresceram, e Murph, que agora trabalha com o professor Brand na NASA, ainda não superou a partida do pai, enquanto Tom permanece cuidando da fazenda. A teoria da relatividade é citada, usada e explicada extensivamente no filme e serve de fundo para explicar a motivação de Coop para tentar retornar logo para a Terra.
Por perderem muito tempo e combustível nesse planeta, sobram mais dois para visitarem: um do Dr. Mann (Matt Damon), brilhante cientista, e outro do Dr. Edmmonds – que tinha um relacionamento amoroso com Amelia -, ambos com motivos para serem visitados. Porém, o lado racional de Cooper fala mais alto e eles seguem para o planeta de Mann, que, desesperado pela solidão e medo da morte, manda o sinal mesmo sem ter encontrado nada para tentar escapar, o que também garante boas sequências de ação e tensão, mesmo que previsíveis, com os velhos discursos do vilão e tudo mais. Aqui, ele poderia encarnar de forma mais enfática o papel crítico sobre a ciência, mas foi feita a escolha mais simples.
A transformação do homem racional e altruísta em um homem egoísta, contradizendo todos os argumentos racionais de Cooper para escolherem aquele planeta, é feita de forma rasa ao contrapor o velho “sentimento versus razão”. A fuga do Dr. Mann danifica o equipamento espacial que acopla as naves, e a sequência para tentar encaixar a nave pilotada por Cooper e Amelia lembra bastante Gravidade, ao colocar seres humanos em risco no espaço, realizando manobras praticamente impossíveis para tentarem se salvar, mas sempre sem abusar da expectativa e tensão, que poderia cansar caso fosse esticada demais.
Nesse momento, é também revelado para Murph e para Coop e Amelia que o plano original do professor Brand sempre foi o B, e a sua equação gravitacional não resolveria o problema de como salvar a humanidade, que sempre esteve condenada. Portanto, a viagem de volta de Coop seria impossível.
Com o gasto excessivo de combustível, agora não havia o suficiente nem para Cooper voltar para casa, nem para irem ao planeta de Edmmonds. A solução é usar os recursos para contornar Gargantua e usar sua força para impulsionar a nave, mas Cooper engana Amelia e solta sua nave, caindo no buraco negro. E dentro do buraco negro onde Nolan se rende a homenagear, à sua maneira, o clássico espacial de Kubrick. Se em 2001 – Uma Odisseia no Espaço estamos sozinhos com Dave, dando a cada imagem o nosso próprio significado, Cooper faz questão de perguntar ao computador TARS cada passo da etapa no qual se encontra, em uma conversa que não chega a incomodar, mas tira um pouco o poder do espectador de ter a mesma epifania visual e criativa que Kubrick corajosamente permitiu.
Assim como em 2001, a estrutura de dentro do buraco negro falou diretamente com Cooper, dando a ele elementos de sua natureza para conseguir se comunicar – no caso, a biblioteca do quarto de Murph quando criança. Lá, todas as condições são radicalmente diferentes de tudo o que conhecemos, e tanto o tempo quanto a gravidade são distorcidos. A estrutura consegue distorcê-los de forma padronizada, fazendo com que Cooper envie os dados da equação gravitacional que resolveria o problema de como salvar a população da Terra, ou seja, ele era o fantasma de Murph quando criança tentando se comunicar com ela. Todas essas cenas dentro do buraco negro, apesar de serem atrapalhadas por tanta explicação, brincam com conceitos da física, ao mesmo tempo que garantem uma gama enorme de emoções, em grande parte por causa da brilhante atuação de McConaughey.
Após enviar a mensagem para Murph usando o mesmo relógio que havia dado à menina, ela consegue decifrar os dados e salvar a humanidade, enquanto Coop é reenviado pela estrutura do buraco negro e encontrado pelos terráqueos do futuro em Saturno. Nessa conclusão, um pouco da magia inicial se perde, pois o objetivo principal do desenlace é explicar e resolver praticamente todas as pontas soltas do filme, não deixando margem para praticamente nada, a não ser o paradeiro e situação de Amelia Brand. O reencontro de Coop com Murph, já idosa e prestes a morrer, não garante muitas emoções, e o passeio turístico dentro da estação espacial em Saturno soa desnecessário.
Porém, em relação ao aspecto técnico, a produção funciona muito bem. As sequências no espaço, sempre em silêncio, garantem uma atmosfera de suspense que se mantém, até misturar com o som dos ambientes fechados dos atores. O jogo de luzes dentro das naves, remetendo sempre ao sol (o nosso, ou não), é sempre interessante de acompanhar. A também já criticada parceria com Hans Zimmer mostra sinais de cansaço, mas ainda funciona para compor canções que, por vezes, casam perfeitamente com os momentos vividos na tela, em especial nas cenas finais.
Muito se tem comparado Interestelar a outras produções do gênero, mas nenhuma comparação é justa. Nolan, como qualquer artista, retira influências de suas obras preferidas e as coloca ali, misturadas a seus próprios elementos dentro de uma narrativa própria, que tenta fazer uma homenagem não só à ficção científica, mas ao próprio sentimento humano de querer saber o que existe além. Quem condena a exploração espacial por ser gasto inútil de dinheiro não consegue ver mais adiante. Como o próprio filme cita, a tecnologia espacial gerou vários outros frutos para a humanidade, como as comunicações via satélite e a máquina de ressonância magnética, que poderia ter salvado a vida da esposa de Coop. Se a humanidade gasta dinheiro à toa, ali realmente não é o lugar. O Professor Brand também afirma que cada pedaço de metal sendo usado na construção daquelas naves poderia ser utilizado na fabricação de uma bala de uma arma, então, de certa forma, tudo aquilo foi positivo. É junto a esse conceito básico e humanitário que o filme se posiciona e se constrói, em como a ciência, ao desvendar o funcionamento por trás da natureza, nos ajuda a entender como ela é bela e, principalmente, nos torna mais humildes e capazes de admirar tudo o que está lá fora.
–
Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.