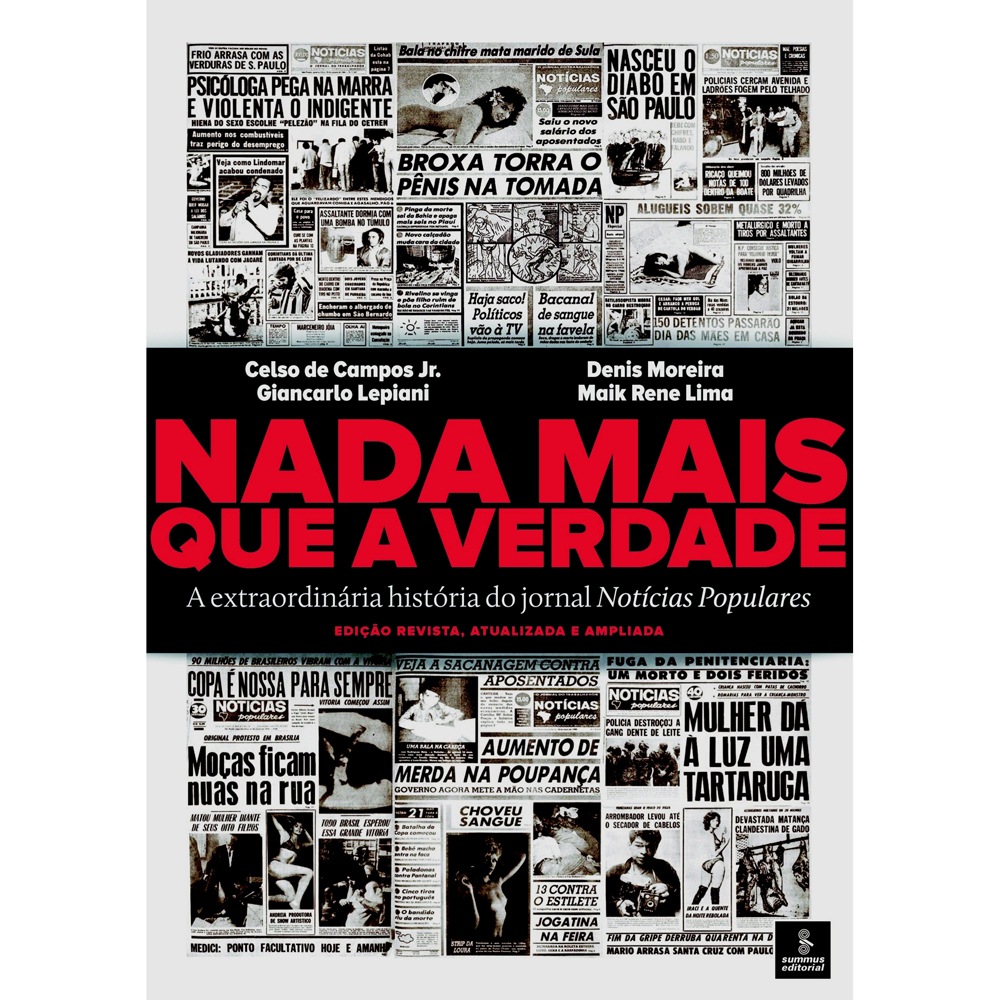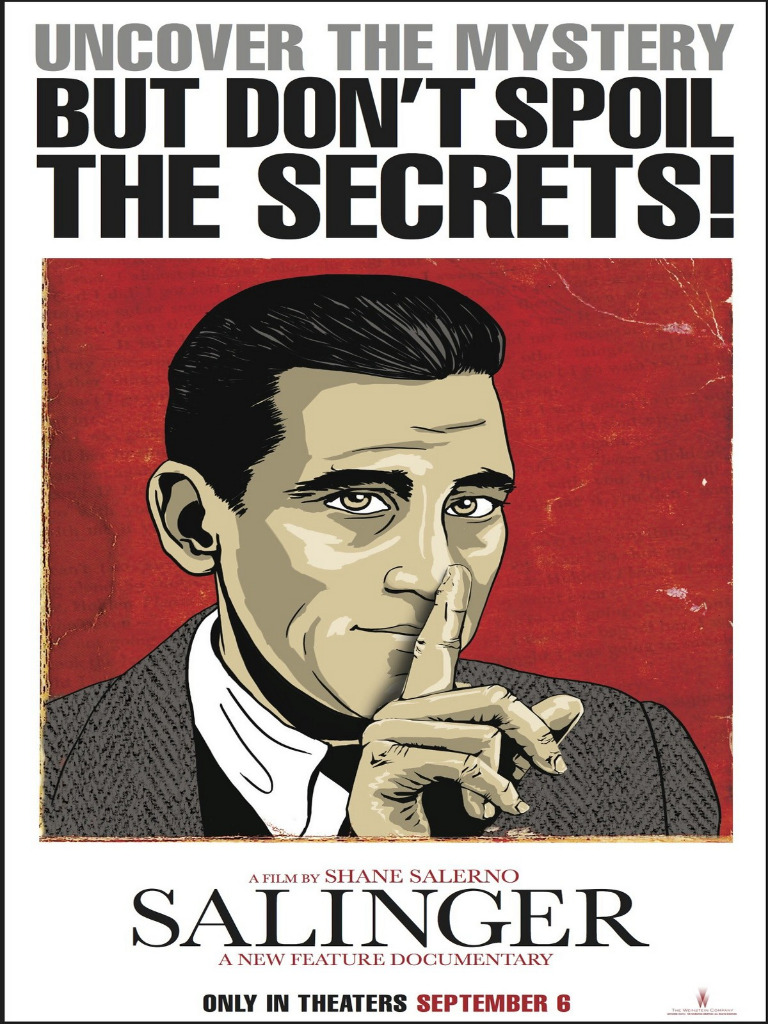A segunda temporada de Arrow mostra que o Arqueiro Verde veio para ficar (leia nossa resenha sobre a 1ª temporada de Arrow). Devido ao sucesso da primeira temporada, os produtores alteraram aquilo que não funcionou e entregaram aos fãs uma temporada emocionante, complexa, cheia de aventura e levemente violenta. A nova trama se iniciou algumas semanas após os eventos que culminaram com o fim da temporada anterior.
A segunda temporada de Arrow mostra que o Arqueiro Verde veio para ficar (leia nossa resenha sobre a 1ª temporada de Arrow). Devido ao sucesso da primeira temporada, os produtores alteraram aquilo que não funcionou e entregaram aos fãs uma temporada emocionante, complexa, cheia de aventura e levemente violenta. A nova trama se iniciou algumas semanas após os eventos que culminaram com o fim da temporada anterior.
Diggle e Felicity (David Ramsay e Emily Rickards) rodam o mundo até encontrar um Oliver Queen (Stephen Amell) exilado e desolado por não ter conseguido salvar Starling City. Além das 500 pessoas que vieram a falecer devido ao terremoto causado por Malcom Merlyn (John Barrowman), já estabelecido como Arqueiro Negro, Ollie também não conseguiu salvar seu melhor amigo, Tommy.
A mãe de Oliver, Moira (Susanna Thompson), está presa por ser cúmplice dos acontecimentos, assumindo ser parte da organização secreta liderada por Merlyn, sendo diretamente uma das responsáveis pela catástrofe. Com isso, as ações da empresa da família Queen, a Queen Consolidated, caíram consideravelmente, o que poderia levar a família à falência. Se aproveitando da situação, uma conhecida dos quadrinhos, Isabel Rochev (Summer Glau), tenta adquirir boa parte das ações, mas Oliver é “salvo” por Walter Steele (Colin Salmon), conseguindo se manter como CEO da Queen Consolidated.
Paralelo a estes eventos, o vereador de Starling, Sebastian Blood (Kevin Alejandro), que nos quadrinhos é o vilão Brother Blood (mas que guarda algumas semelhanças ao vilão do Batman, Espantalho), anuncia sua candidatura a prefeito e, a partir daqui, uma ótima segunda temporada se inicia. Com o sumiço do arqueiro, Roy Harper (Colton Haynes) tenta seguir os passos de seu ídolo, além de uma nova vigilante, a Canário (Caity Lotz) começar a atuar na cidade.
Ficou evidente que a principal mudança na série foi amarrar o passado de Oliver naufragado na ilha com os acontecimentos do presente. Assim, os flashbacks se tornaram muito mais interessantes e curiosos. Seguramente, o que aconteceu na ilha interferiu seriamente nos eventos da segunda temporada. O enredo é bem amarrado, com episódios memoráveis e as referências ao universo DC parecem ter duplicado, o que acrescenta ainda mais à série.
Além da introdução à Isabel Rochev e Sebastian Blood (cada um sendo uma mistura de dois vilões da DC), o arqueiro, ainda conhecido como “capuz” ou “vigilante” enfrenta o Tigre de Bronze (Michael Jay White), Dollmaker (Michael Eklund), num episódio assustador e tenso, que chega a lembrar O Silêncio dos Inocentes, e o vilão The Mayor (Cle Bennet), personagem totalmente modificado em relação aos quadrinhos.
O que merece um parágrafo a parte é a presença da Liga dos Assassinos em uma das sub tramas da temporada, inserindo o seriado num universo mais abrangente do que se imaginava. No episódio 5, a Canário é atacada por assassinos que usam uniformes idênticos ao do Arqueiro Negro. Oliver acaba descobrindo que ela é Sarah Lance, que havia voltado à Starling City para proteger sua família, uma vez ter abandonado a Liga dos Assassinos. E é nesse episódio que o nome de Ra’s Al Ghul é falado pela primeira vez. Ra’s enviou sua própria filha, Nyssa (Katrina Law) para buscar Sarah. Na primeira temporada, todos acreditavam que Sarah havia morrido no acidente em que Oliver foi o único sobrevivente, mas percebe-se que o próprio Ollie escondeu segredos até mesmo de seus aliados.
Outro momento memorável foi a participação de Barry Allen (Grant Gustin) na série, que serviu como episódio experimental para o seriado do Flash que estreia ainda em 2014. O Barry Allen de Gustin é jovem, possui um humor muito parecido com o de Felicity e não esconde sua admiração pelo arqueiro. Esse é o primeiro passo da Warner/DC em criar um universo cinemático único. Além do crossover de personagens, cientistas dos laboratórios S.T.A.R. também fazem sua primeira participação. Assim, Oliver começa a usar uma máscara, como nos quadrinhos, que é cortesia de Barry Allen e foi desenvolvida pelos cientistas dos laboratórios S.T.A.R..
Outro momento que merece destaque é a aparição da agência A.R.G.U.S. na trama, que recruta Diggle para liderar uma equipe para resgatar uma de suas agentes. Tal equipe é composta por vilões que foram derrotados pelo Arqueiro, como, por exemplo, Deadshot (personagem incrivelmente carismático), Tigre de Bronze, entre outros. É a primeira vez que o Esquadrão Suicida retratado nos quadrinhos aparece. Na cena em que o esquadrão está sendo formado, é possível ouvir a voz de uma mulher, vinda de uma das celas, querendo fazer parte da equipe, oferecendo ajuda psiquiátrica aos membros do grupo. Trata-se de um easter egg bacana. A mulher é a Arlequina, a vilã e amante do Coringa.
Em paralelo a estes acontecimentos, os flashbacks da ilha mostram que Oliver reencontra Sarah aprisionada em um cargueiro do cientista Anthony Ivo (Dylan Neal), também vindo dos quadrinhos. Ivo procura por um submarino japonês contendo um soro chamado mirakuru que pode ter sido usado na Segunda Guerra. O soro potencializa a habilidade do soldado tornando-o indestrutível, porém, com alguns efeitos colaterais.
Oliver e Sarah conseguem fugir do navio e reencontram Slade Wilson e Shado (Manu Benett e Celina Jade) e todos eles passam por muitos problemas e sofrimento. Shado está com Oliver, mas Slade gosta dela e quando Ivo percebe isso, obriga Oliver a fazer uma escolha que muda pra sempre o destino de todos, fazendo com que Slade Wilson (que tem o soro correndo por suas veias) prometa algo a Oliver: acabar com a vida de todos aqueles que Oliver ama.
Voltando ao presente, algumas pessoas de Starling começam a ser encontradas mortas, com os olhos sangrando. Elas aparentam ser vítimas de algum experimento que deu errado e Oliver acredita que o vereador Sebastian Blood está por trás destes experimentos, tentando recriar o soro injetado para salvar Slade. Com isso, os últimos 5 episódios da temporada pareceram ser um grande e único episódio.
Não demora muito para Oliver descobrir que Slade Wilson está vivo e por trás das mortes dos jovens e que Blood trabalha para ele. O problema é que Slade ainda continua dotado de uma força e habilidade únicas e está sempre um passo à frente de Oliver. A cena em que Slade, trajado de Deathstroke (idêntico aos quadrinhos) invade o QG do arqueiro e derrota a Canário, Diggle e Oliver, é impressionante.
Após conseguir estabilizar o soro, Deathstroke consegue libertar um ônibus de presos que estavam sendo transferidos. Os presos resolvem seguir seu libertador e todos eles passam a ter o soro correndo dentro deles. O passo para uma épica season finale havia sido dado.
Se há um ator que merece destaque nessa temporada, este é Manu Bennet. Ele conseguiu fazer com que seu personagem fosse muito cruel. Chega a dar asco de Slade Wilson. E por estar sempre à frente de Oliver, ele o coloca na mesma situação de anos atrás, quando Oliver precisou escolher entre Shado e Sarah, só que, desta vez, ele tem que escolher entre sua mãe Moira e sua irmã Thea (Willa Holland). Talvez a cena mais dramática e triste de toda a temporada.
O exército de Slade começa a invadir e a destruir Starling City, porém, Oliver consegue vantagem ao obter o antídoto em larga escala do soro desenvolvida pelos laboratórios S.T.A.R. e reúne um time para tentar lutar de igual pra igual. O “team Arrow” é composto pela Canário, Diggle, Felicity (que durante toda a temporada teve um papel semelhante ao da Oráculo, de Batman) e Roy Harper, que ganha de Ollie uma máscara vermelha. Com isso, a equipe ganha ajuda da A.R.G.U.S., do Esquadrão Suicida, da Polícia de Starling e da Liga dos Assassinos, liderada por Nyssa Al Ghul, que decide cooperar após Sarah concordar que se renderá a Ra’s Al Ghul. O episódio e épico e emocionante, com todo o elenco da série diretamente envolvido.
A segunda temporada de Arrow foi de grande excelência, com exceção da motivação de Slade Wilson em destruir Oliver e Starling ter sido pífia. O curioso é que, além das inúmeras referências ao universo DC Comics, esse Arqueiro Verde se aproximou (ainda mais) de Batman. Felicity praticamente faz o papel de Oráculo, o detetive Quentin Lance (Paul Blackthorne) se torna um aliado do Arqueiro, assim como o Comissário Gordon; Oliver Queen fica praticamente pobre, após Isabel Rochev conseguir a maioria das Ações da Queen Consolidated e se revelar como a Ravager, aqui no Brasil conhecida como Devastadora.
Além das sub tramas mencionadas, existiram muitas outras, como o drama vivido por Laurel Lance (Katie Cassidy) ao se tornar uma alcoólatra, assim como a dor sofrida por Thea Queen ao saber que Malcom Merlyn é seu pai. Malcom Merlyn, este que ressurgiu das cinzas, o que talvez possa ser uma referência ao Poço de Lázaro, de Ra’s Al Ghul, que ressuscita os mortos. Vale lembrar que Merlyn, na série, é o Arqueiro Negro e membro da Liga dos Assassinos.
Há um tempo, diziam que, devido ao sucesso do seriado, havia grandes chances do Oliver Queen de Stephen Amell ser aproveitado no cinema, ao lado de Henry Cavill, Ben Affleck e Gal Gadot, mas os rumores foram negados recentemente. O próprio Stephen, em sua página do Facebook (bastante legal, por sinal), posta alguns mistérios, mensagens subliminares e coisas do tipo, sugerindo, inclusive, uma participação do Asa Noturna na série. Ele também gosta de postar vídeos com seus treinamentos e sessões de perguntas e respostas, ao vivo, com os fãs. Amell está de férias, porém, cultiva um cavanhaque bastante simbólico pra quem conhece o Arqueiro Verde dos quadrinhos e dos desenhos. As expectativas para a terceira temporada são as melhores possíveis.
–
Texto de autoria de David Matheus Nunes.



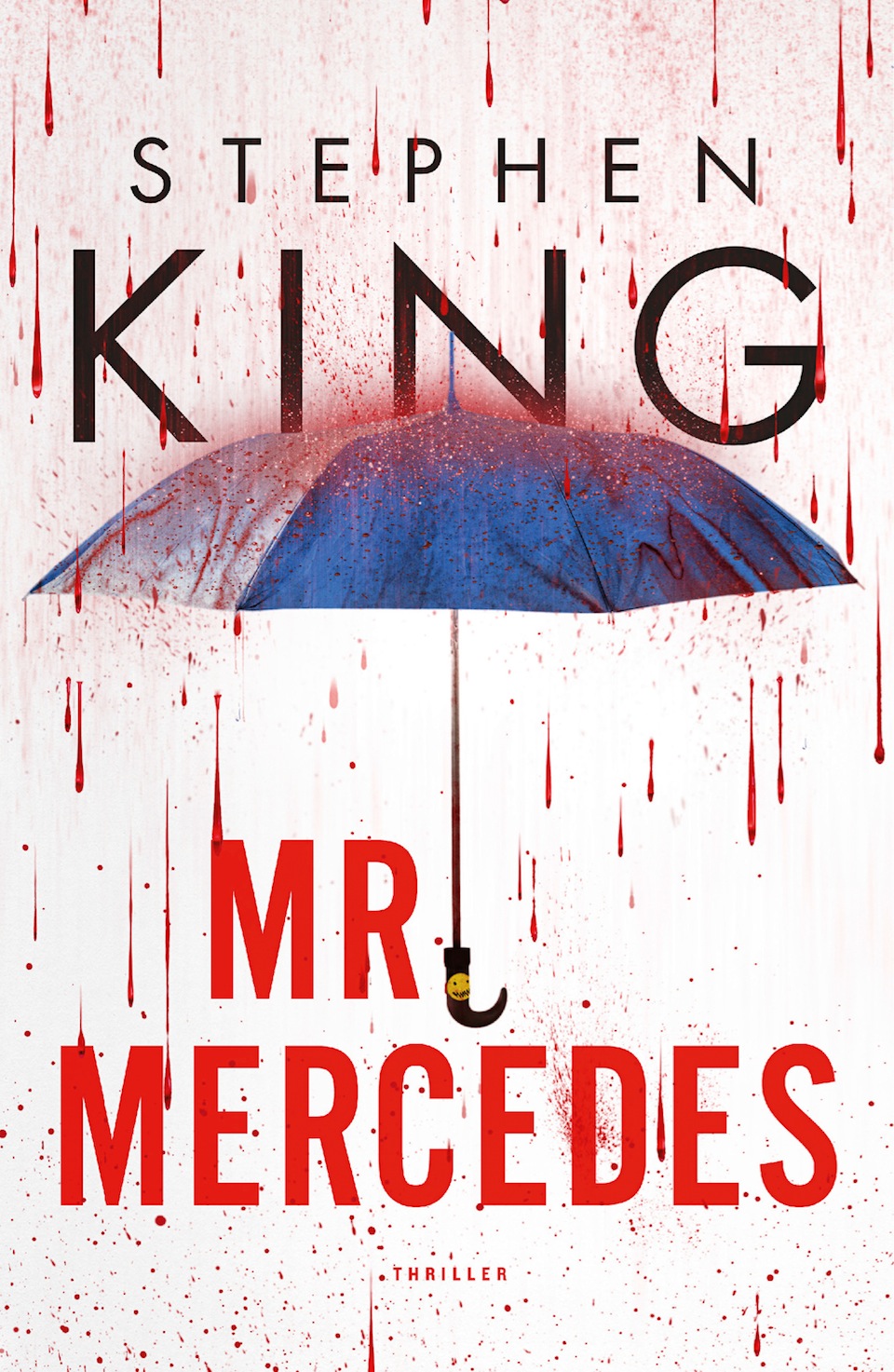
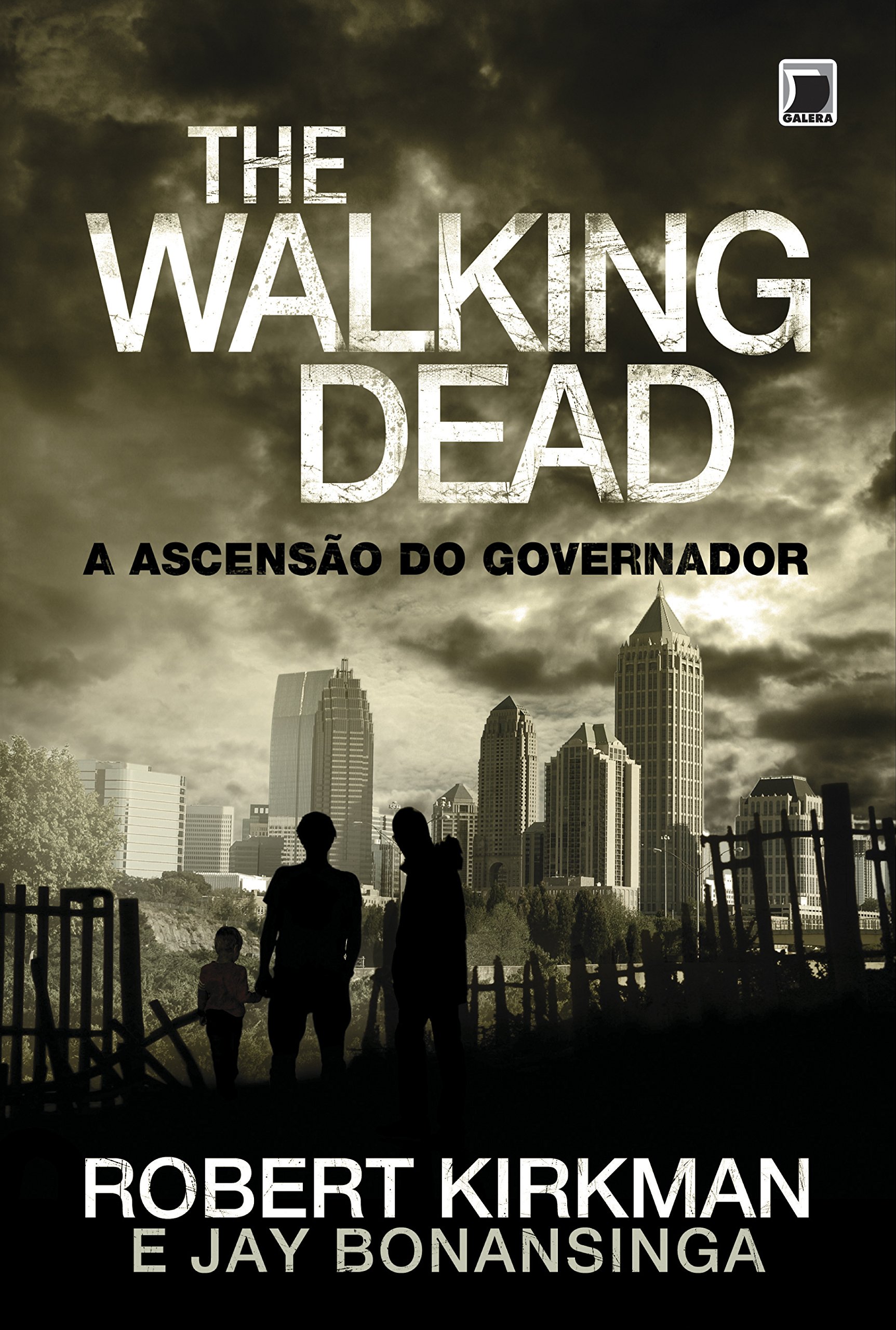




















![[Friamente Calculado] Aguardando Moderação](https://vortexcultural.com.br/images/2014/04/friamente-calculado.jpg)