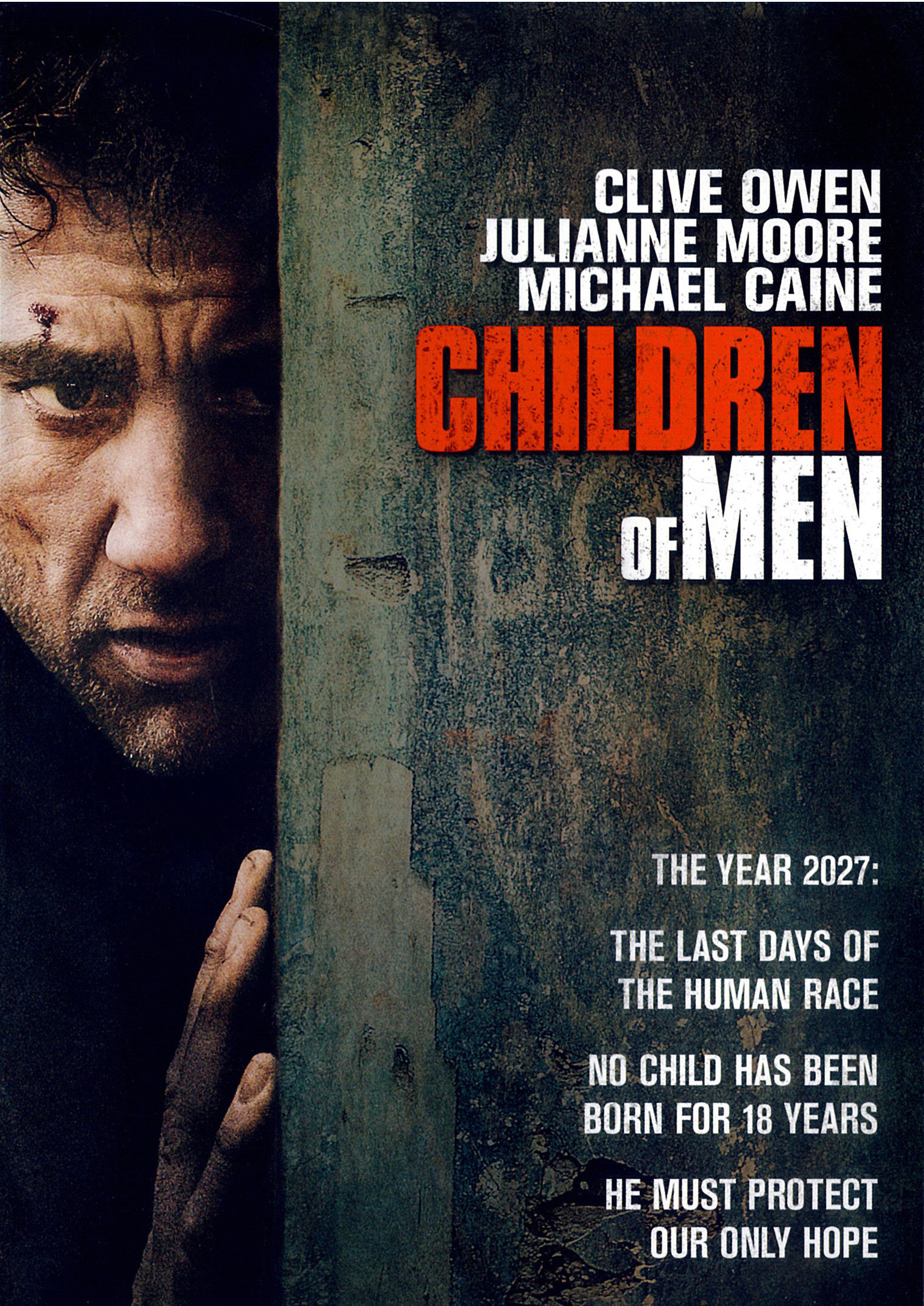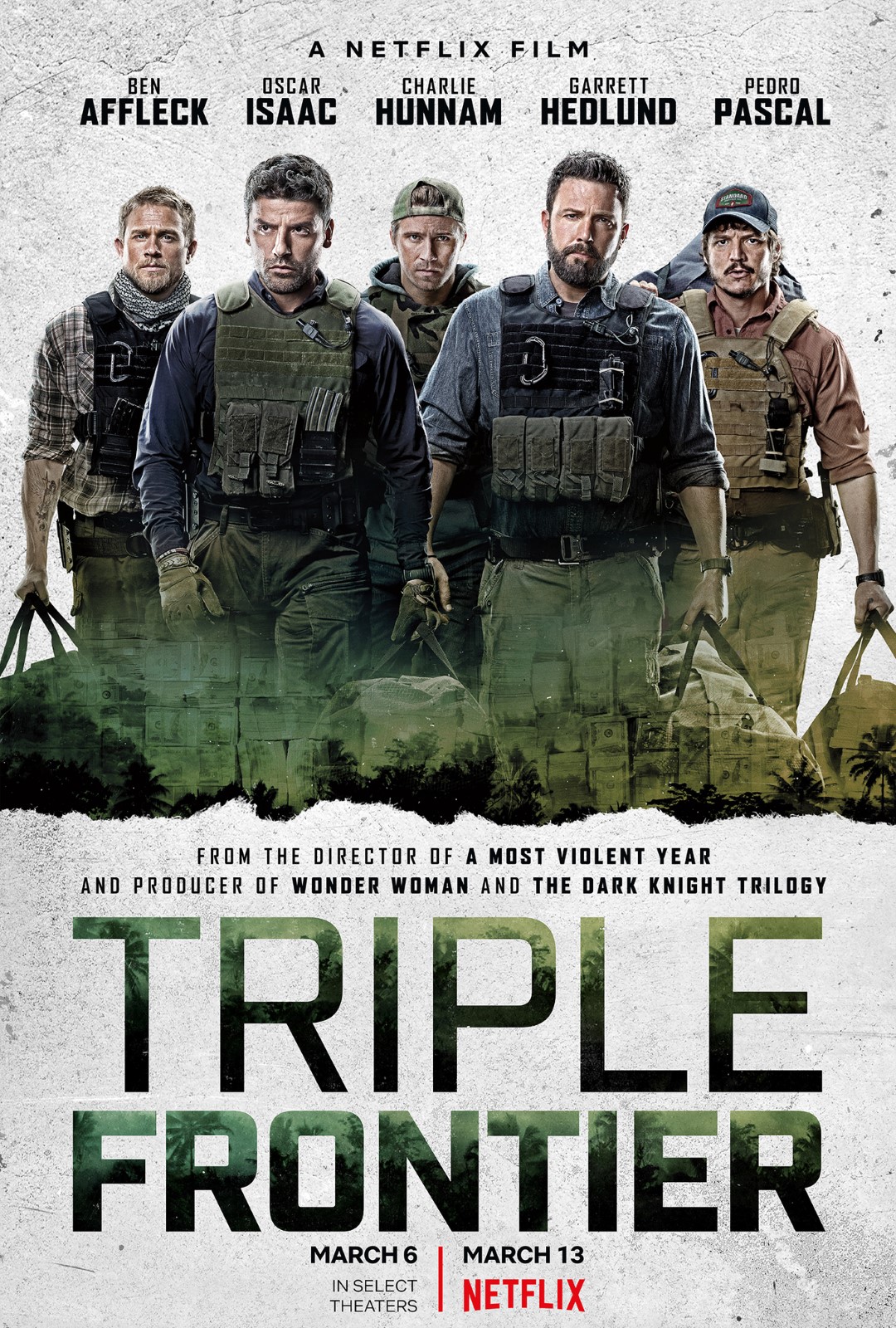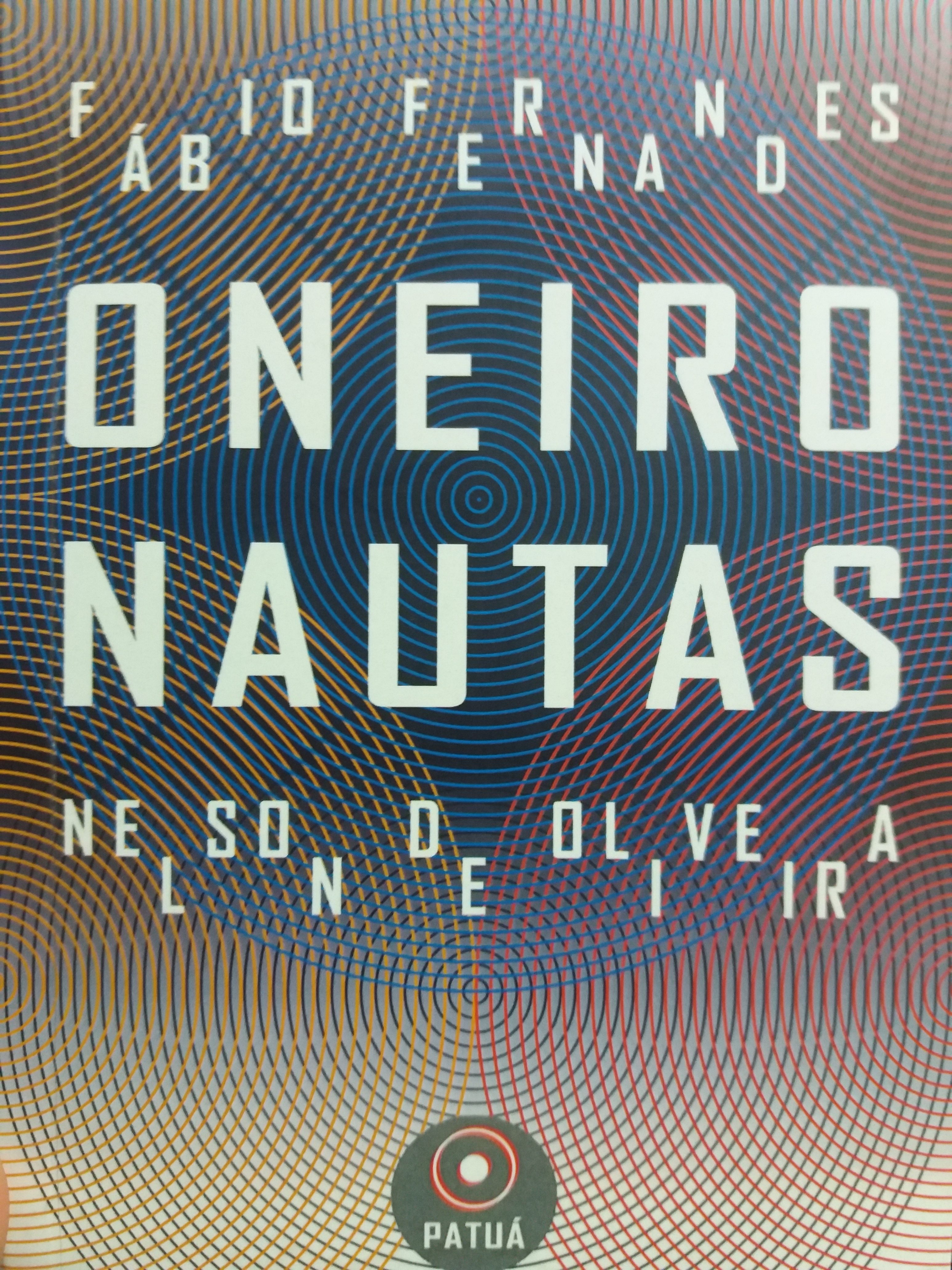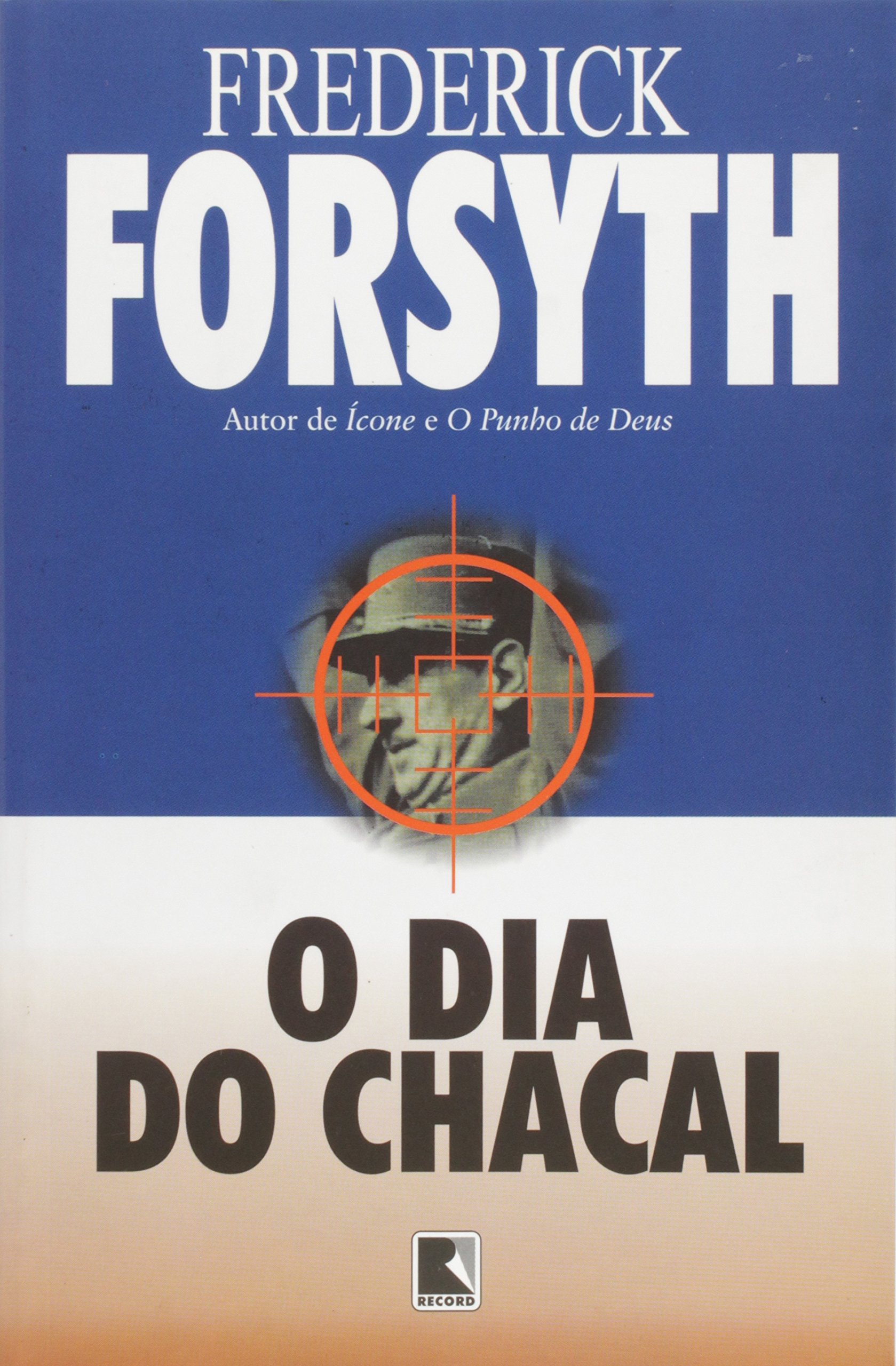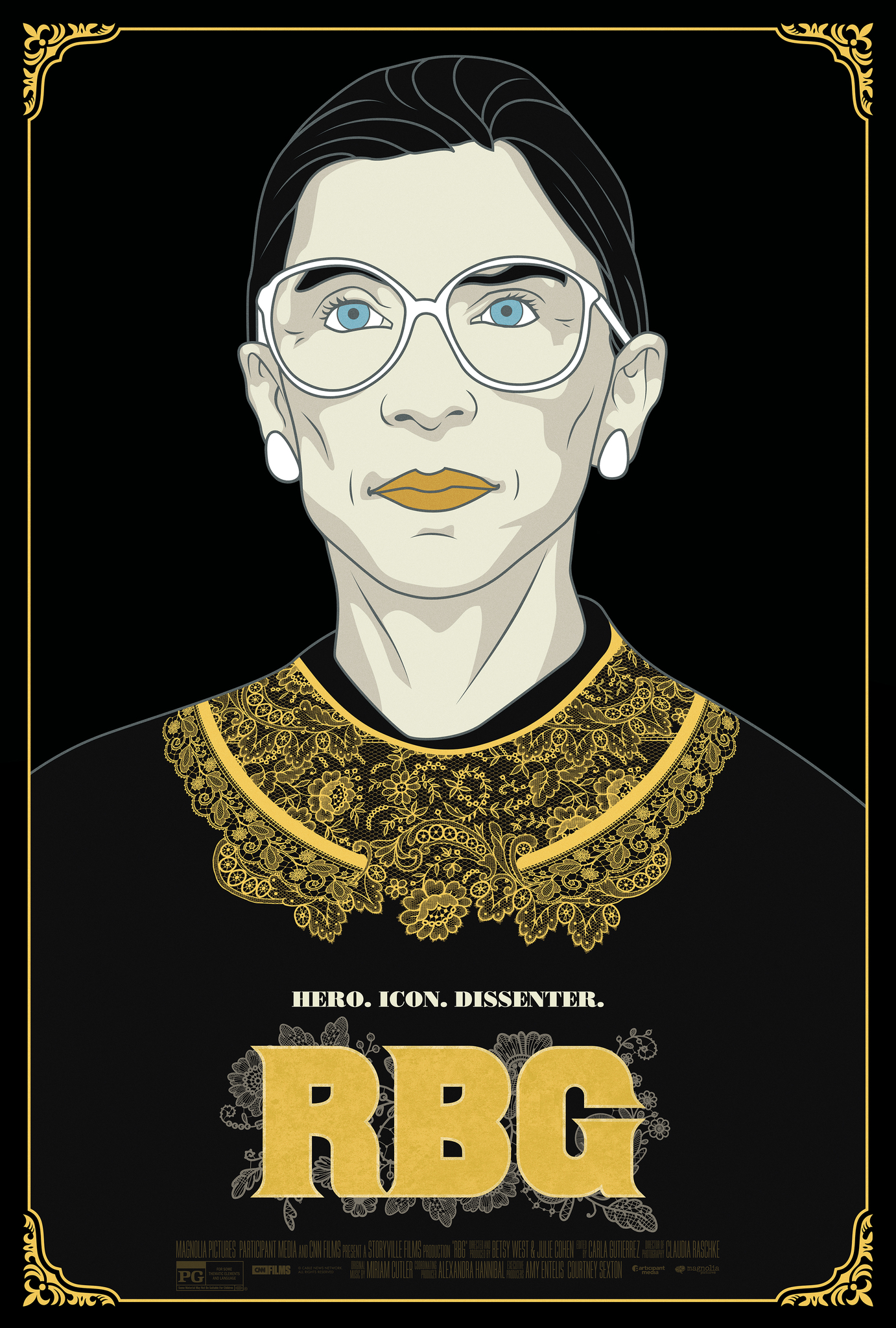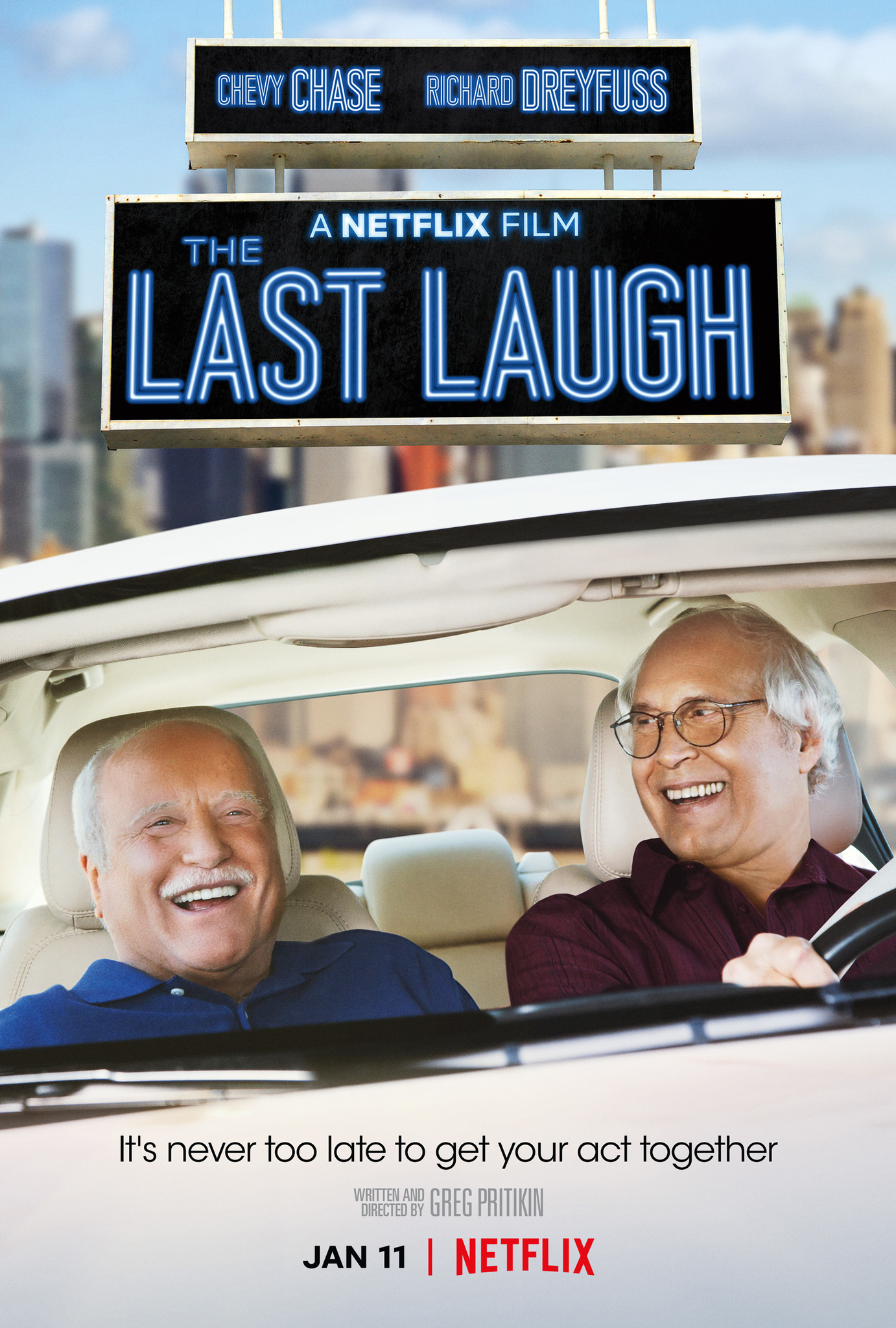Retornamos para mais uma lista coletiva dos melhores filmes do ano a partir da seleção pessoal de cada redator do site. Dessa forma, é natural que, numa equipe heterogênea formada por diversos profissionais e com visões diferenciadas sobre a crítica cinematográfica, uma lista como essa abarque diversos gêneros e estilos. Motivo mais do que necessário para não justificarmos as razões que esse ou aquele filme não integraram a lista final. Espero que gostem do resultado.
(confira também nossa lista de Piores Filmes de 2018).
–
10. Vingadores: Guerra Infinita (Anthony e Joe Russo, 2018) – Por Dan Cruz

O “filme nerd” mais celebrado do ano não poderia ter resultado em algo menor do que foi Vingadores: Guerra Infinita. Levemente baseado na saga homônima dos quadrinhos, o épico crossover levou às salas de cinema pessoas de todas as idades e consolidou o sucesso do sub-gênero “filme de super-herói” em Hollywood.
Unindo personagens de todos os filmes da Marvel/Disney e costurando os eventos posteriores, vemos uma trama em que o vilão Thanos – que já havia aparecido em alguns poucos momentos desde a cena pós crédito do primeiro filme dos Vingadores – coloca seu plano de extermínio universal em prática, reunindo as poderosas joias de sua Manopla do Infinito. Todos os personagens, de núcleos diferentes da Marvel, têm seus momentos. Embora não exista uma grande cena onde todos eles se encontram ao mesmo tempo (como se especulava antes do lançamento), o roteiro foi muito bem executado e a direção dos Irmãos Russo nos faz torcer, rir e chorar, e abre caminho para novas possibilidades do Universo Marvel nos cinemas. Com certeza um marco histórico pros “filmes de heróis” e uma pedra no sapato da então cambaleante “Distinta Concorrência” (que não conseguiu emplacar o filme da Liga da Justiça).
9. Missão: Impossível – Efeito Fallout (Christopher McQuarrie, 2018) – Por Bernardo Mazzei

Missão: Impossível – Efeito Fallout é uma aula de cinema. Digo isso sem exagero nenhum. Do roteiro rocambolesco que flui naturalmente sem se complicar demais ou perder o rumo às cenas de ação de tirar o fôlego feitas com predominância de efeitos especiais práticos (computação gráfica aqui é pouco usada e não serve como muleta pra roteiro ruim), o filme dirigido por Christopher McQuarrie é uma das melhores coisas a surgir no cinema de ação nos últimos anos. Não podemos esquecer do elenco afiado e carismático que faz com que a gente se importe com cada um dos personagens que desfilam pela tela, especialmente o pequeno gigante Tom Cruise. Cruise pode ser doido, mas é um ator (também produtor da franquia) foda que dá o sangue (e fratura o tornozelo) pra que tudo funcione perfeitamente. Melhor experiência cinematográfica que eu tive em tempos, essa sexta missão de Ethan Hunt prova que o cinema de ação pode sim ter bastante cérebro.
8. Você Nunca Esteve Realmente Aqui (Lynne Ramsay, 2017) – Por Marcos Paulo Oliveira

Já vimos esse filme em películas como Chamas da Vingança, com Denzel Washington, mas nós nunca realmente vimos esse filme. Um ex agente do FBI se dedica a encontrar crianças desaparecidas, mas em determinado momento todo deu errado e sua vida sais dos frágeis trilhos nos quais se encontrava. Então ele cai numa espiral de violência para encontrar sua humanidade representada naquela criança em perigo. Mas já dito, nós nunca realmente vimos este filme.
Lynne Ramsay, a diretora, se destacou logo em seu primeiro longa, mas adquiriu fama com Precisamos Falar Sobre Kevin ao mostrar as origens do mal e da violência em nossa sociedade e dentro da mente de figuras sociopatas, que se encontram naturalmente fora dessa sociedade. Em Você Nunca Esteve Realmente Aqui ela estuda o que vem depois da violência já cometida e como essa violência se anexa nas pessoas e começa a fazer parte da forma com a qual vêm e interagem com o mundo . A violência não importa e quase não é mostrada, mas sim as suas consequências. O protagonista de Joaquin Phoenix entrega uma performance transtornada e se entrega a violência como forma de se comunicar com o mundo. O porquê ter sido ignorado em tantas premiações é um mistério.
7. Pantera Negra (Ryan Coogler, 2018) – Por Thiago Augusto Corrêa

Apresentado ao público em Capitão América – Guerra Civil, Pantera Negra se tornou um dos grandes superlativos da franquia superlativa da Marvel. Aliada a uma crescente qualidade em suas produções, principalmente a partir da intitulada de Fase 2, Pantera Negra dá vazão ao robusto universo do herói e sua bela Wakanda – com tecnologia de ponta com grande guerreiros orgulhos de serem única nação não-colonizada na África – enquanto trazia a tona, em uma produção pipoca, o debate sobre a representatividade diante de um panteão formado por uma maioria branca de heróis.
Com um detalhado trabalho de pesquisa para fazer de Wakanda uma tradicional nação africana em costumes e cultura, um elenco dedicado aos personagens e bem afiados, belos cenários paradisíacos com um toque de futurismo neon e a tradicional trama de quadrinhos destacando o conflito entre o bem e o mal, ainda que com a pitada necessária de tragédia no conflito irmão versus irmão, a produção compõe um grandioso filme heroico, possível de ser assistido fora da cronologia do Universo Marvel, e ainda esgarçava um pouco mais a combalida contraposição entre “filmes de herói” e produções ditas sérias e dignas de premiações.
6. A Forma da Água (Guillermo del Toro, 2017) – Por David Matheus Nunes

A Forma da Água figura facilmente na lista dos 10 melhores filmes de 2018. O filme venceu 3 categorias no BAFTA Awards, faturou em duas no Globo de Ouro, além de vencer nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Trilha Sonora e Melhor Direção de Arte no Oscar daquele ano, depois de 13 indicações. Dirigindo em terreno mais que seguro, o mexicano Guillermo Del Toro, trouxe para as telas um belo filme que mistura fantasia, aventura e romance, onde, nos anos 60, uma zeladora de um prédio do governo se afeiçoa a uma criatura lá abrigada secretamente. A vida dos dois muda quando a personagem decide ajudar a criatura a fugir. A química da dupla é algo de encher os olhos e o destaque fica, sem dúvida, aos atores Sally Hawkins (que entrega uma ótima atuação) e Doug Jones, que é parceiro de longa data de Del Toro. Com uma história bem construída e bem desenvolvida, A Forma da Água foi aclamado tanto pelo público, quanto pela crítica, talvez pelo fato de você, alguma vez na vida, já ter se sentido na pele dos dois protagonistas.
5. Infiltrado na Klan (Spike Lee, 2018) – Por Douglas Olive

Lá em 1915, um fóssil chamado O Nascimento de Uma Nação estreava, sendo uma grandiosa propaganda da Ku Klux Klan ao promover a hegemonia branca, nos EUA do século XX. Mais do que uma antítese a obra-prima amaldiçoada dos primórdios do Cinema, Infiltrado na Klan foi um dos mais polêmicos e desafiadores projetos de 2018. Quando dois policiais, um negro e outro branco, penetram na KKK por duas vias diferentes de atuação, buscando exterminar a organização de dentro, pra fora, o DNA de uma intolerância racial, extremamente enraizada entre uma comunidade branca, explode numa trama de conflitos e contornos chocantes a qualquer espectador desavisado.
Responsável por resgatar a carreira de Spike Lee do quase anonimato, visto que há muito o cineasta deixou de ser lembrado pelo público, e as grandes premiações americanas, o filme tem orgulho do incômodo que provoca, nos expondo sem dó (junto das personagens) a um dos lados mais sujos da imoralidade humana: o racismo extremo. Os ‘cidadãos de bem’ higienistas, nas mãos de Lee, são ironizados e mesmo assim asquerosos, num retrato livre de qualquer vaidade do autor para confundir as verdadeiras mensagens, aqui. Forte, ainda que relativamente contido, mas impiedosamente atual. Uma furadeira moral em forma de filme, ou melhor, filmaço.
4. Arábia (João Dumans e Affonso Uchoa, 2017) – Por Flávio Vieira

Os mineiros João Dumans e Affonso Uchôa talvez só se deem conta do filme que fizeram com o afastamento do tempo, porque Arábia não é qualquer filme. Arábia é um retrato cru, mas delicado, da classe trabalhadora, do povo, e acima de tudo, do Brasil. Um longa que trata como poucos a a realidade absurda e repleta de nuances de uma parcela considerável do povo brasileiro que luta diariamente por migalhas para sobreviver, e frequentemente, são explorados, adoentados e excluídos.
A história de Cristiano, protagonista de Arábia, é tocante. Pouco a pouco somos apresentados às suas lembranças, passando desde sua saída da penitenciária a diversos trabalhos em situações precárias, análogas à escravidão ou insalubres. O longa ainda desenvolve suas angústias, sonhos e paixões, sejam por imagens em tela ou pelo belíssimo texto narrado em off pelo personagem durante o longa – algo que teria tudo para dar errado, mas é poético, mas ao mesmo tempo duro, bruto, repleto de entrelinhas. A sutileza está em cada respiração, diálogo, enquadramento ou mesmo na linda trilha sonora que acompanha a jornada de Cristiano.
Arábia é uma triste construção da tragédia da desigualdade brasileira, que sujeitos humildes vivenciam diariamente no Brasil. Um filme mais do que necessário e que certamente será lembrado como um dos grandes exemplares do cinema nacional.
3. Em Chamas (Chang-dong Lee, 2018) – Por Felipe Freitas

Cheio de metáforas e símbolos, assistir a Em Chamas é acompanhar de perto, quase como um amigo íntimo, um mistério nada previsível. O filme de Chang-dong Lee fez uma invejável trajetória no mundo todo, mas acabou não entrando nos selecionados finais do Oscar de Filme Estrangeiro, algo interpretado como uma grande injustiça por muitos, o que não é difícil de concordar. Mas apesar dos pesares, Em Chamas já é maior do que tudo isso ao entregar uma das maiores experiências cinematográficas de 2018. E uso a palavra “experiência” sem ressalvas, pois é uma trajetória que caminha a passos modestos e mesmo assim permanece extremamente imersiva de um primeiro ato quase inocente, até um final brutal.
Chang-dong Lee cria – entre relações humanas nebulosas – uma atmosfera de suspense que demora a se justificar, mas está sempre estranhamente presente, mérito também do elenco que nunca deixa suas personagens estacionarem no raso. Brincando com as expectativas e o imaginário do espectador, Em Chamas é um ótimo exemplo de estudo de personagem, e uma aula de como manipular o público e de fazer da dúvida uma grande amiga.
2. Roma (Alfonso Cuarón, 2018) – Por Tiago Lopes

Após o estrondoso sucesso de “Gravidade” perante público e crítica o então diretor Alfonso Cuarón estava com a indústria cinematográfica norte-americana aos seus pés, podendo optar por filmar com total liberdade dos estúdios o que melhor lhe apetecesse independente do orçamento do projeto, no entanto o cineasta mexicano fez um caminho inverso do esperado e se aventurou em uma jornada mais complicada, não menos satisfatória. Alfonso optou por verter-se sobre seu percurso, suas memórias, ampliando sensações, dilatando situações, refletindo e condensando seu cinema, tudo isso de uma maneira bastante intimista. Sem perder um olhar globalizado, em “Roma”, o artista externou situações quando conseguiu elevar relações “aparentemente cotidianas” para uma outra esfera de exposição e debate.
Alfonso apoiado em uma fotografia praticamente monocromática que dedilha beleza e sutileza quadro a quadro, reconstruiu cenários e espaços para construir de maneira vívida o tempo de um México por muitos desconhecido, quiçá esquecido em algum lugar do passado. O resultado de todo esse esforço obviamente desembocou em uma arrebatadora obra que angariou mundo afora prêmios e aclamação.
Seja pela estética deslumbrante, pelas reflexões e emoções que imprime ao público ou mesmo pelas lacunas que não tenciona responder, Roma é um filme que veio pra ficar e que com certeza ainda ecoará por bastante tempo no imaginário de muitos. Instantaneamente, uma preciosa obra de arte na mais pura concepção da palavra.
1. Projeto Flórida (Sean Baker, 2017) – Por Filipe Pereira

Sean Baker brinca muito bem com o American Dream, mostrando neste filme uma atmosfera que se divide entre o lúdico fantástico do núcleo infantil e a dura realidade dos adultos fracassados de Projeto Florida. É impossível não se emocionar com a dupla de mãe e filha Moone e Halley, de Brooklyn Prince e Bria Vinaite. As duas atrizes, mesmo sem experiência desempenham lindamente seus papeis. É incrível como as condições financeiras paupérrimas das famílias que vivem nos hotéis próximos dos parques, com o mundo temático dos espaços de conglomerados com os da Universal, Disney etcetera, com uma colisão dessas duas realidades no final, onde Baker retorna as suas origens, filmando com um iPhone como fez em seus longa anterior, Tangerines, em um momento mágico e poético.
–
Participaram dessa votação: Bernardo Mazzei, Dan Cruz, Douglas Olive, David Matheus Nunes, Felipe Freitas, Filipe Pereira, Flávio Vieira, Marcos Paulo Oliveira e Tiago Lopes.