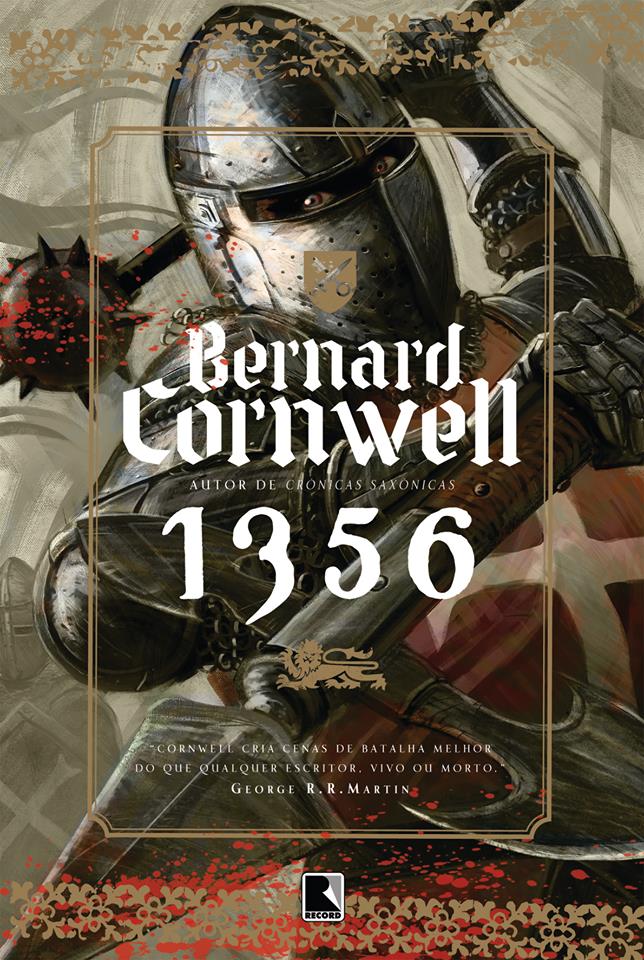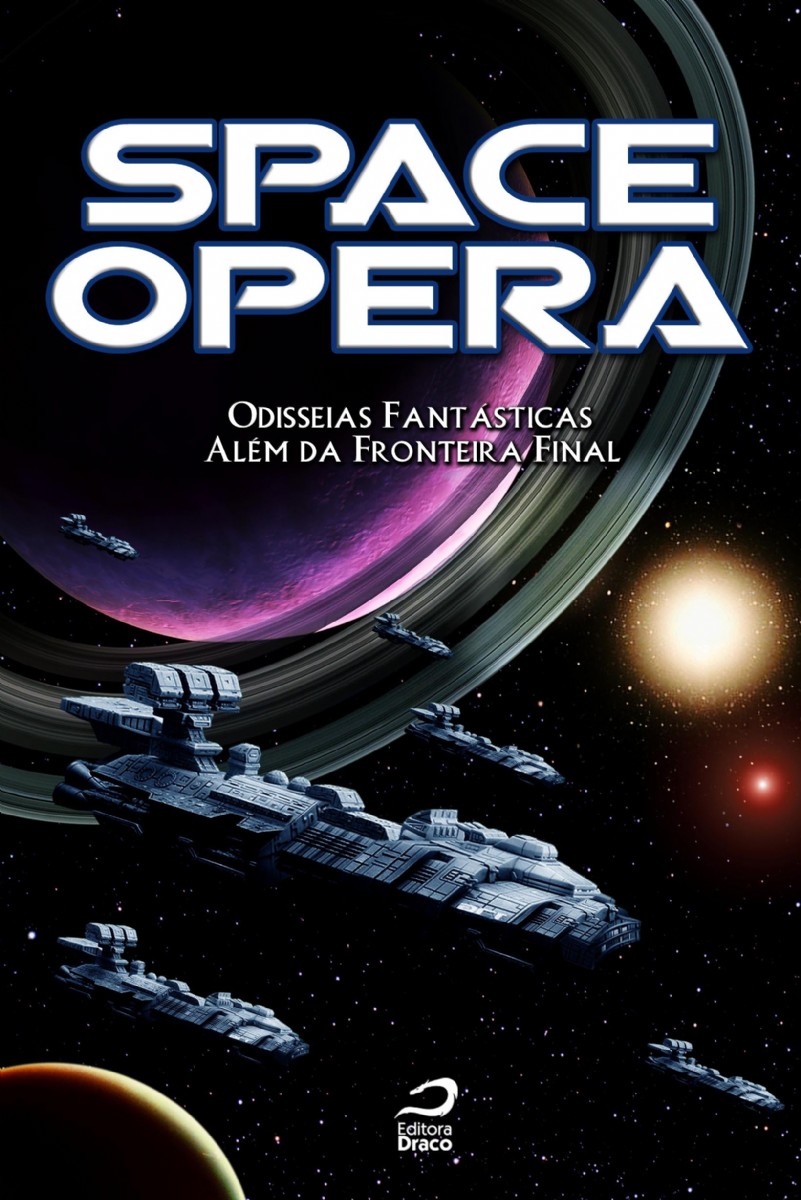Don Winslow é um conhecido escritor americano de romances policiais. Em 2010, com seu livro Selvagens, ele apresentou o público a Chon, Ben e O., dois garotos traficantes da melhor maconha de The OC e sua amiga, assistente e eventual “namorada”. Agora, em Kings of Cool, Winslow nos conta como o trio chegou onde estava no início do livro anterior.
Kings of Cool conta as origens do negócio de Ben e Chon e também a origem dos personagens, traçando uma linha que volta até a década de 60, muito antes de Laguna Beach, a cidade onde se passa a história, tornar-se o reduto de milionários que é hoje. O livro alterna entre 2005, tempo presente do romance, onde vivem os protagonistas, e saltos para a década de 60, 70, 80 e 90, onde acompanhamos Doc e John, os precursores do tráfico de drogas na região.
Se Don Winslow fizesse filmes, ele seria, acima de tudo, um excelente montador. Os saltos de tempo vem nos momentos perfeitos para aumentar a tensão da história e é com exímia habilidade que ele constrói a teia de relações que selará, quarenta anos depois, o destino dos três personagens principais. Mesmo nas partes “lineares” de seu romance, o escritor corta as cenas no momento preciso e imprime um ritmo fluído, rápido e envolvente.
É essa manipulação do ritmo, aliada ao tom pop e realista da prosa que tornam Don Winslow um grande escritor. Ele transforma partes de seu livro em “roteiro” para que a história ande melhor, quebra linhas para emular a fala de um personagem, mas em momento nenhum deixa que seu experimentalismo se torne pretensioso. Seu objetivo não é refletir metafisicamente sobre o absurdo da existência, mas contar uma boa história, contudo, essa história não é idiota.
Por mais pop que o livro seja, Kings of Cool não é entretenimento vazio. Há um cinismo nos personagens e um pessimismo profundo no universo apresentado, a guerra, o consumo, as drogas e sim, o vazio da existência, dão substância à narrativa de ação. Ben, Chon e O. são conscientes, tão terrivelmente conscientes que precisam fingir que não são. A mesma coisa acontece com seu autor: Winslow poderia escrever um romance de 700 páginas sobre a sociedade americana pós-11 de setembro, mas ele não o faz, ele ambienta um romance policial nesse universo, mas nunca deixa seu leitor esquecer a profundidade de seu conhecimento e o poder da sua reflexão.
O realismo e a crueza da escrita, aliados a reflexão política que aparece como pano de fundo permite que personagens quase clichês pareçam reais. Os três protagonistas, especialmente O., são clichês, crescem para ser exatamente aquilo que se espera de crianças que tiveram a infância que eles tiveram, mas a habilidade do autor, e a ironia para com a própria obra, permite que eles passem de clichês para tipos, de estereótipos para estudos de caso da juventude contemporânea.
Em vez de contar uma história para apresentar reflexões filosóficas, Winslow usa reflexões filosóficas como estofo para uma boa história. O resultado é uma narrativa divertida, ágil e bem feita, que não chega a ser uma obra-prima da literatura porque nunca almeja a tanto, mas é um livro que não se consegue largar.
–
Texto de autoria de Isadora Sinay.
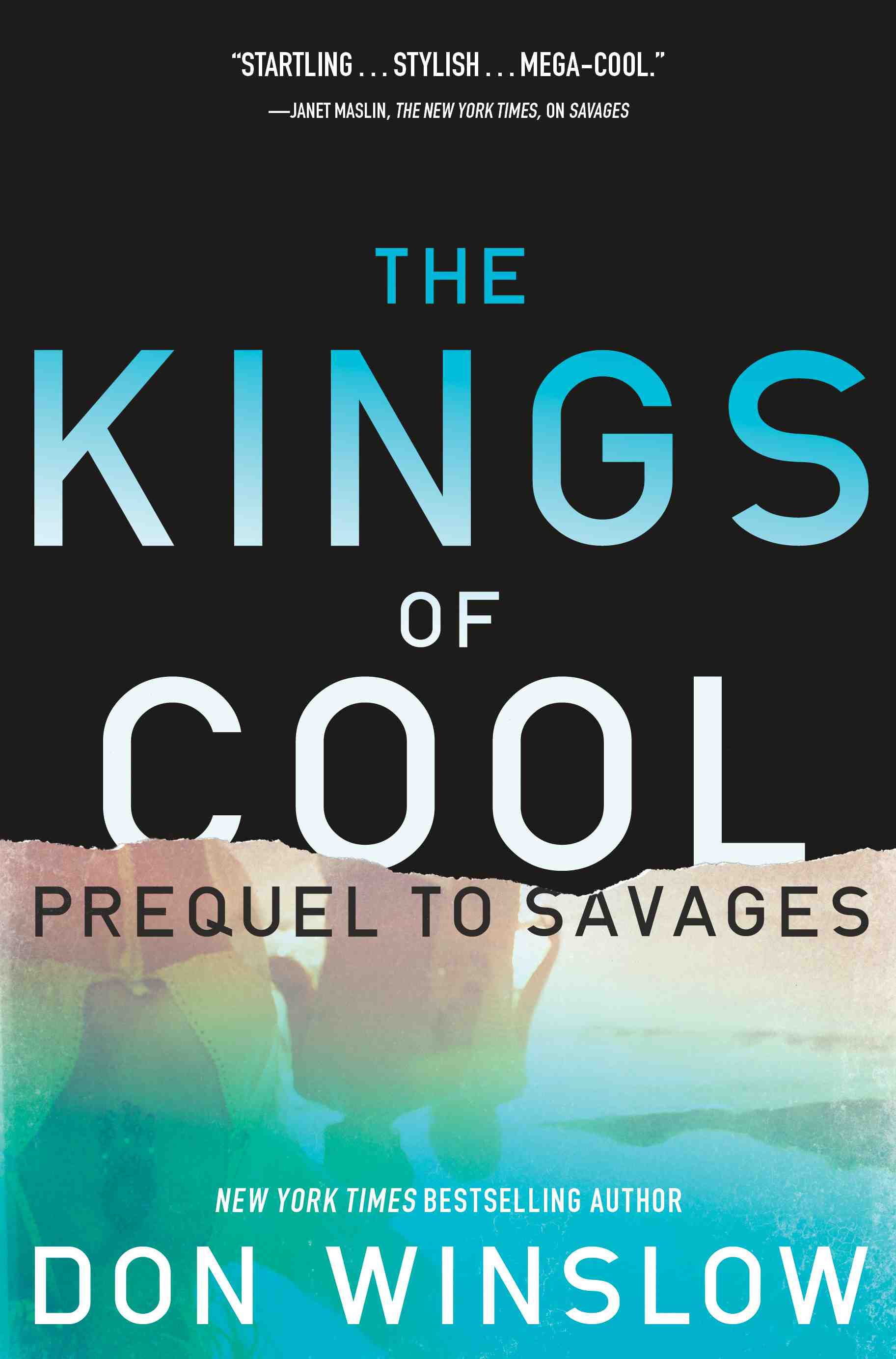



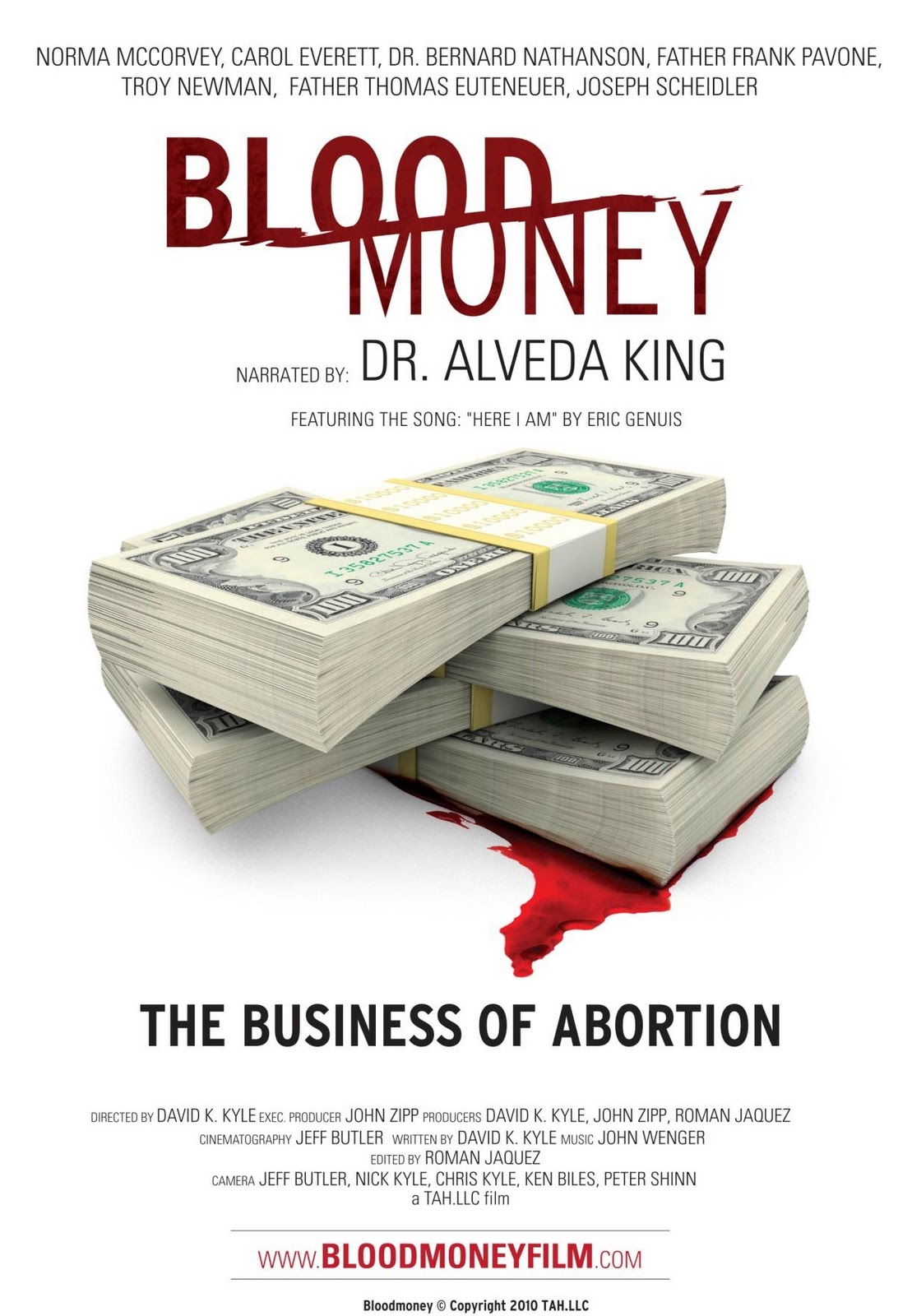



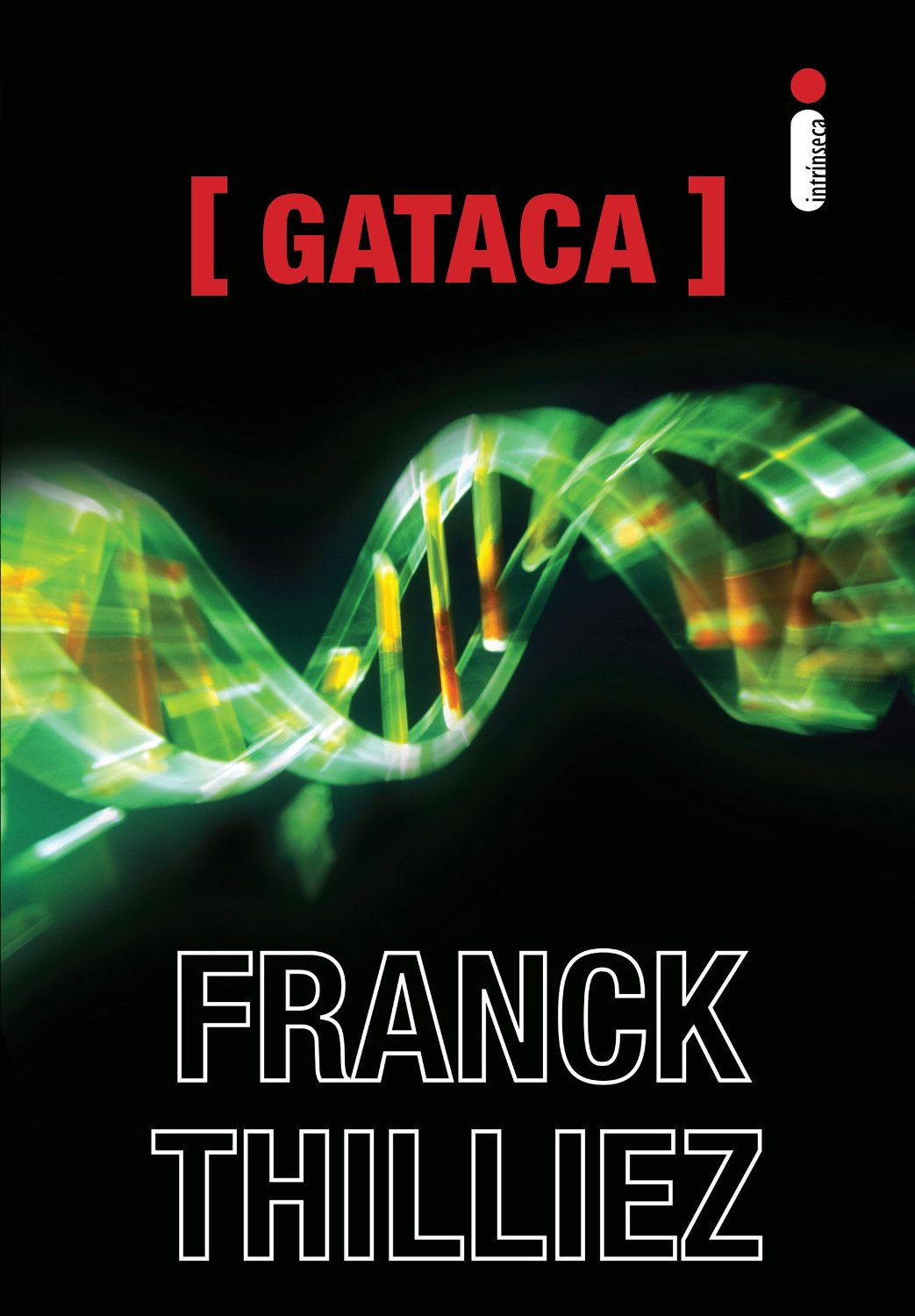







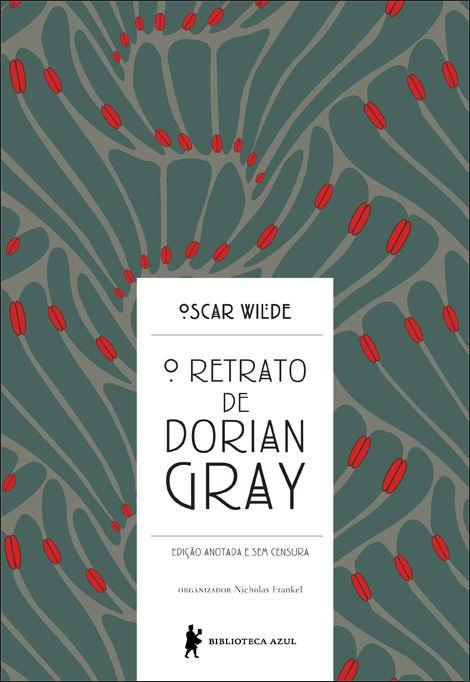
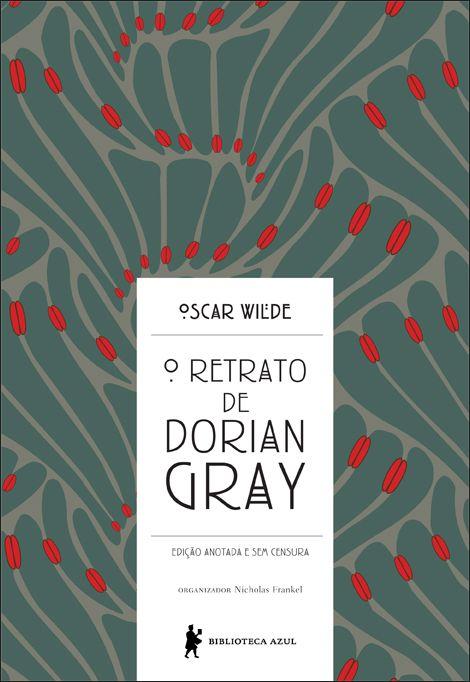








![man-of-tai-chi[1]](http://www.vortexcultural.com.br/images/2013/10/man-of-tai-chi1.jpg)