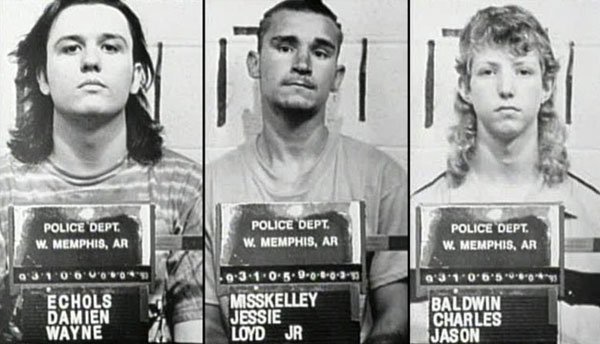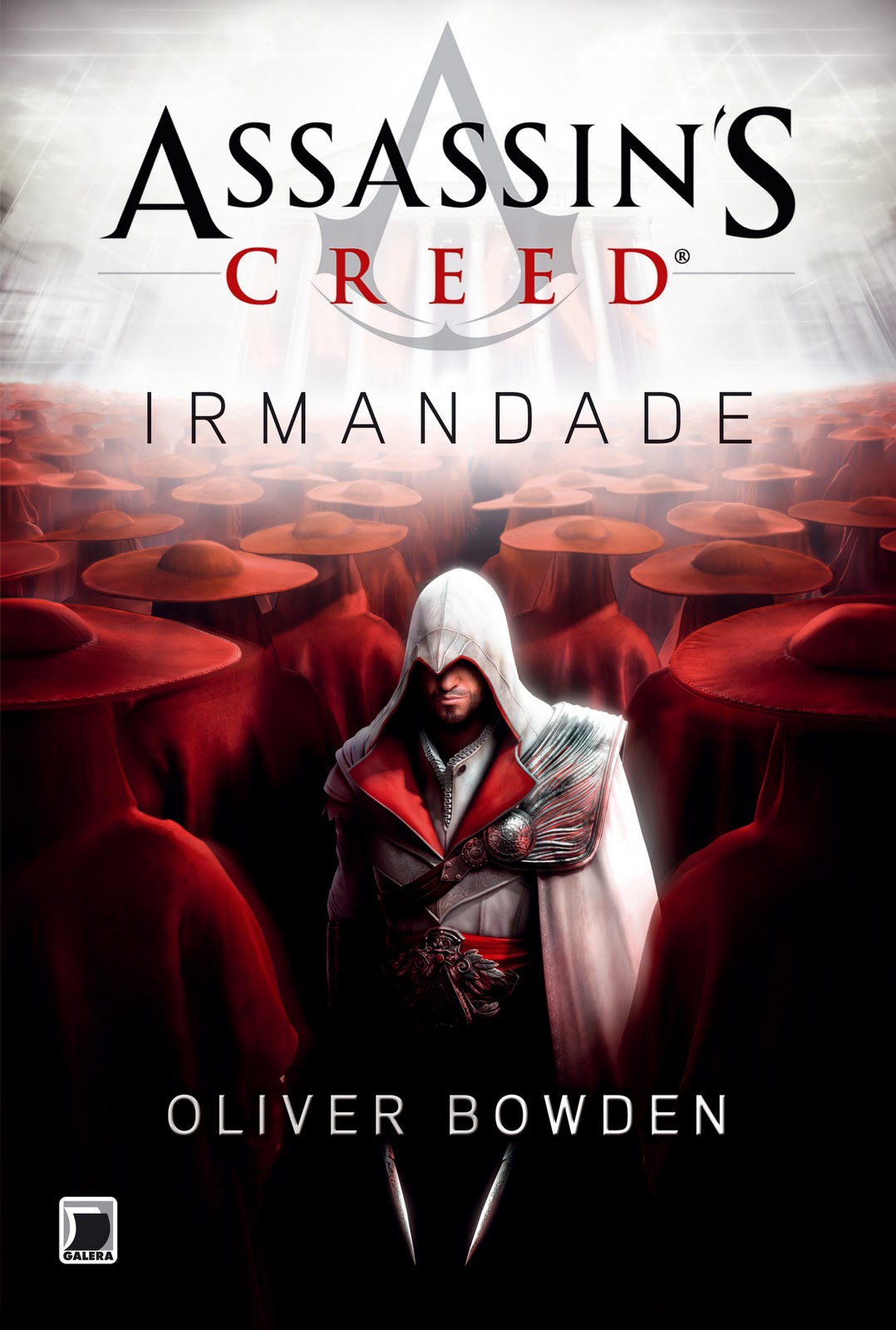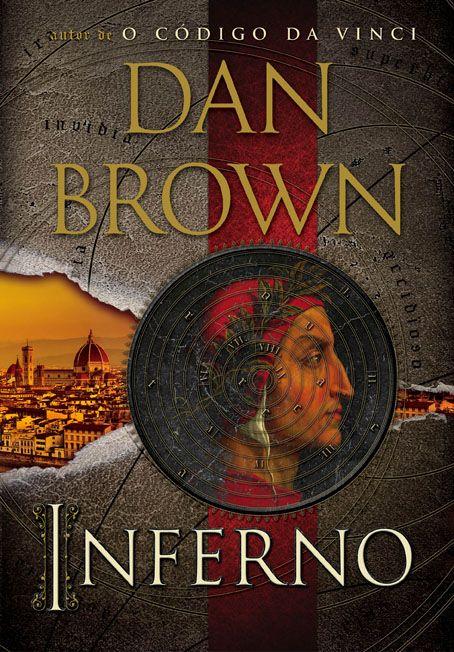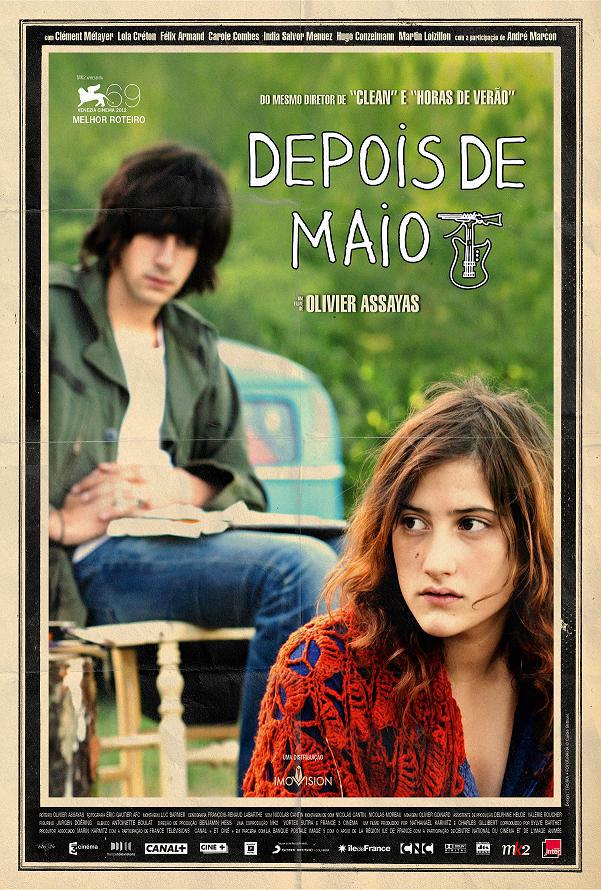O mundo se tornou um lugar chato. Realismo e verossimilhança viraram palavras de ordem no cinema, e até os filmes de ação e aventura hoje estão acuados. Isso tanto por críticos que querem ver profundidade artística em tudo, quanto por grande parte dos fãs, que passaram a ter um alto grau de exigência com cada mínimo detalhe. A solução muitas vezes é cair na auto-paródia, como se o gênero tivesse vergonha de si mesmo e precisasse pedir desculpas por oferecer apenas entretenimento. Isto posto, OBRIGADO, GUILLERMO DEL TORO. Mais do que gratificante ver um diretor gabaritado entregar um produto tão sensacional quanto Círculo de Fogo. Um blockbuster no mais puro sentido da palavra, que diverte se levando a sério dentro de seu maluco universo particular – e não há absolutamente nada de errado com isso.
O filme situa rapidamente o cenário: num futuro próximo, a humanidade está em guerra contra seres denominados kaiju (monstro gigante em japonês), que invadem nosso mundo através de uma fenda interdimensional localizada no fundo do Oceano Pacífico. De tempos em tempos, um dos bichos emerge e vai tocar o terror nas cidades costeiras. Quando armas convencionais se mostram ineficazes, uma nova solução se faz necessária. E já aqui, com poucos minutos de projeção, o longa rompe totalmente com conceitos tão mundanos e limitados como realismo ou lógica. Tentar desenvolver um novo tipo de bomba, ou até mesmo uma arma biológica (já que os inimigos são seres vivos)? Pra quê, se é infinitamente mais legal construir robôs gigantes pra dar porrada nos monstros?
Só que nem tudo são flores. Após alguns anos de vitórias, os jaegers (caçadores, em alemão) e seus pilotos não estão mais dando conta do recado. Monstros maiores, mais fortes, inteligentes e adaptáveis passam a aparecer com mais frequência, e os governos mundiais decidem desativar a iniciativa e investir na construção de gigantescas muralhas litorâneas – ideia “genial” e pouco tranquilizadora. Porém, o comandante do projeto jaeger, marechal Stacker Pentcost (Idris Elba), decide tentar uma última ação desesperada pra salvar o mundo. Pra isso, ele vai depender de um talentoso ex-piloto, há anos afastado por conta de uma tragédia pessoal (Charlie Hunnam), e de uma novata promissora, mas com zero de experiência (Rinko Kikuchi).
Tudo no filme é familiar, pra não dizer clichê, mas perfeitamente executado. O grande charme da produção é combinar a estrutura narrativa/dramática e de personagens tipicamente hollywoodiana com premissa e ambientação gritantemente japonesas. E ao contrário do que a galera mais leite com pera esperneou, não é uma simples cópia de Evangelion (como se este mangá/anime tivesse inventado robôs e monstros gigantes). As similaridades são grandes, mas Círculo de Fogo referencia toda uma tradição nipônica que remete a inúmeras animações, tokusatsus oitentistas e até os ancestrais filmes do Godzilla e afins. Desnecessário dizer o quanto isso dialoga com o coração de quem viveu a infância a partir dos anos 80 – e ainda não esqueceu dela.
O roteiro, assinado por Del Toro em parceira com Travis Beacham, é muito preciso ao trabalhar tudo em função da própria trama. Como são necessários dois pilotos em perfeita sincronia mental para controlar um jaeger (um único cérebro humano não suporta a carga), o desenvolvimento dos personagens acontece na iminência de, e durante, os combates. Que por sinal, são vários e nem um pouco maçantes. O ritmo construído cria a tensão necessária, e a alivia sem exagerar, não perdendo assim o impacto das cenas de ação (exatamente, ao contrário de Transformers). As lutas são naturalmente o ponto alto do filme. O alto orçamento aliado ao apurado senso estético do diretor resultou em monstros e robôs com características distintas e marcantes. Os ambientes também variam, os quebra-paus acontecem em alto-mar, no meio das cidades, nas profundezas do oceano… e é um mais épico que o outro. Os kaijus impressionam por sua ferocidade, enquanto os jaegers, pesadões como seria de se esperar de centenas toneladas de metal, apresentam variadas armas que emocionam a criança interior de cada um. Como não amar um “soco foguete” ou um botão “ativar espada”?
Dentre os atores, Charlie Hunnam (mais conhecido por estrelar a série Sons of Anarchy) faz um feijão com arroz como um protagonista padrão, que supera rapidamente suas inseguranças quando é chamado à ação. Kikuchi se sai até melhor, conseguindo retratar o turbilhão de emoções de sua personagem de maneira contida, também um padrão, só que oriental. Mas no caso dela, incomoda mais a superação relâmpago do trauma pessoal. Pra contra-balancear, a química entre os dois convence logo de cara, fazendo com ambos cresçam como dupla muito mais do que poderiam fazer individualmente. Dessa forma, nos importamos com os personagens, e as cenas de ação ganham em peso dramático.
O bom ator Idris Elba mostra que Samuel L Jackson poderia se aposentar hoje, que o cargo de “boss negão mothafucka” estaria muito bem preenchido. Cabem a ele os inevitáveis discursos motivacionais com frases de efeito – “Hoje vamos cancelar o apocalipse”, impossível não seguir um cara desses. Charles Day e Burn Gorman servem como um bom alívio cômico com sua divertida dupla de cientistas que implicam um com o outro. Max Martini e Robert Kazinsky, como os pilotos australianos que são pai e filho, trazem uma dinâmica muito interessante no limitado espaço que têm. Por fim, Ron Perlman não consegue NÃO ser estiloso, mas seu personagem é um tanto quanto inútil. Hannibal Chau, o negociante de partes de kaiju mortos (um conceito curioso, mas nem um pouco explorado), na prática não serve pra nada. Provavelmente, o Hellboy estava lá só pra constar, na base da camaradagem com o diretor.
Conforme o filme vai se aproximando do final, os problemas vão aparecendo. Não propriamente erros, mas situações um tanto forçadas e exageradas até mesmo dentro do contexto. Por exemplo, os robôs são arregaçados e rapidamente estão prontos pra outra. Isso, somado à já citada resolução muito repentina dos conflitos individuais dos protagonistas, até poderia tirar alguns pontos do filme. Só que o jogo, amigo, já está ganho há muito tempo. O espetáculo é tão magistralmente orquestrado e conduzido, que Círculo de Fogo se torna maior que suas próprias míseras falhas. A exemplo de Os Vingadores, é o ápice do massavéio bem executado. Mais uma vez, obrigado, Del Toro. O Gigante Guerreiro Daileon está orgulhoso.
–
Texto de autoria de Jackson Good.








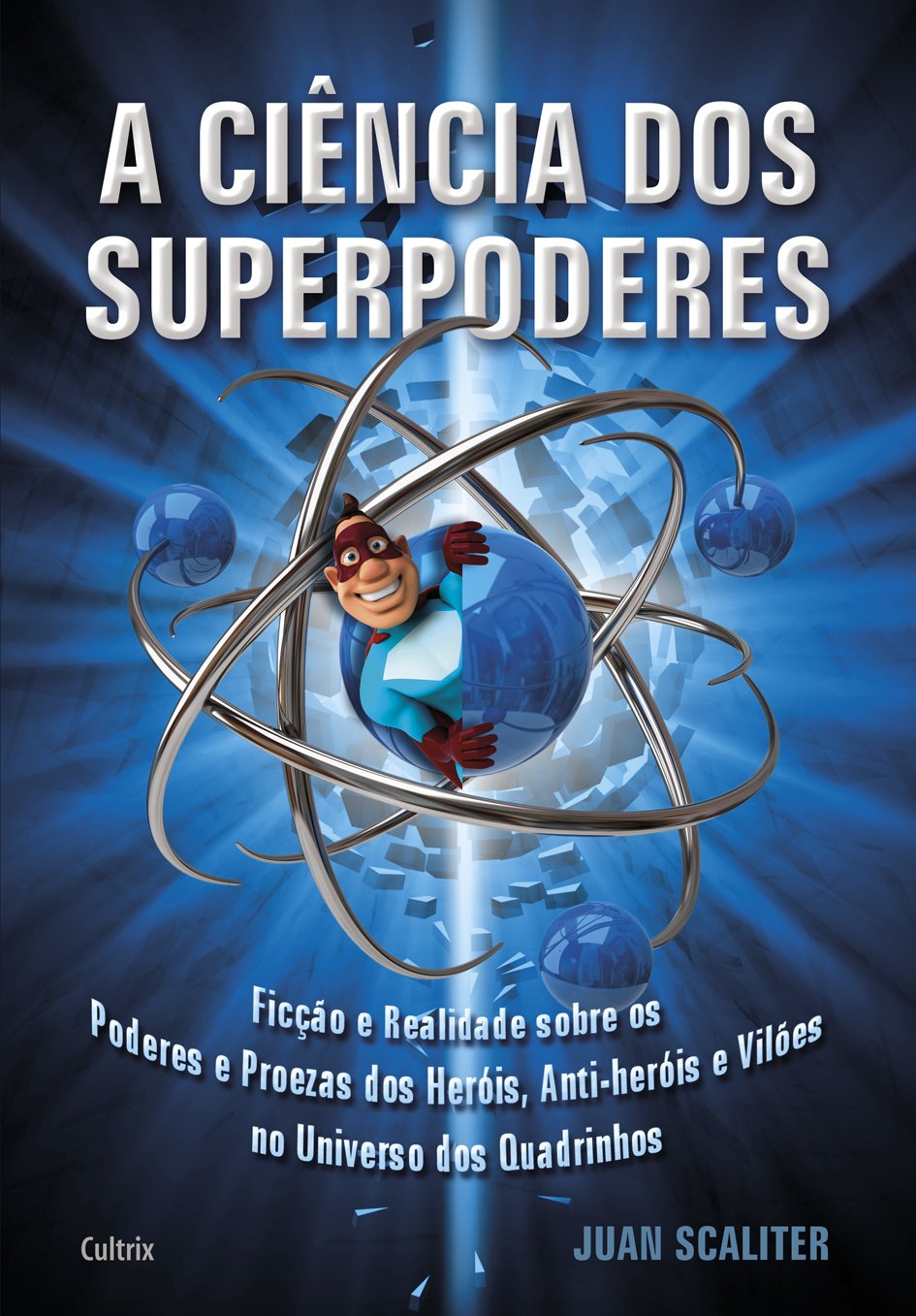




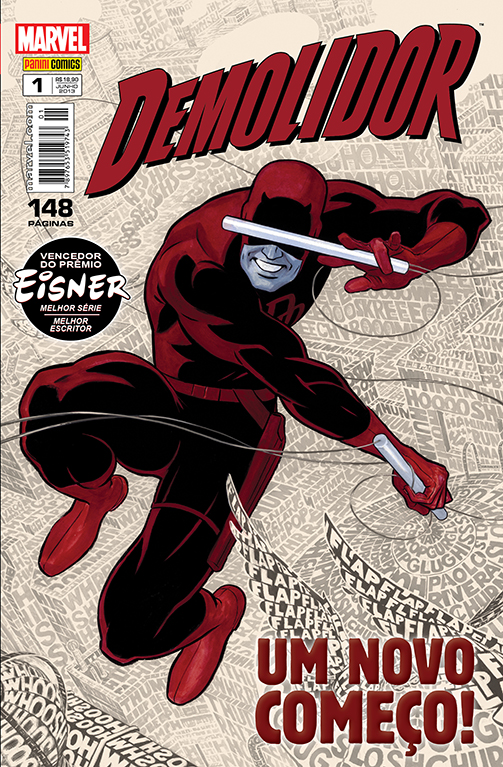


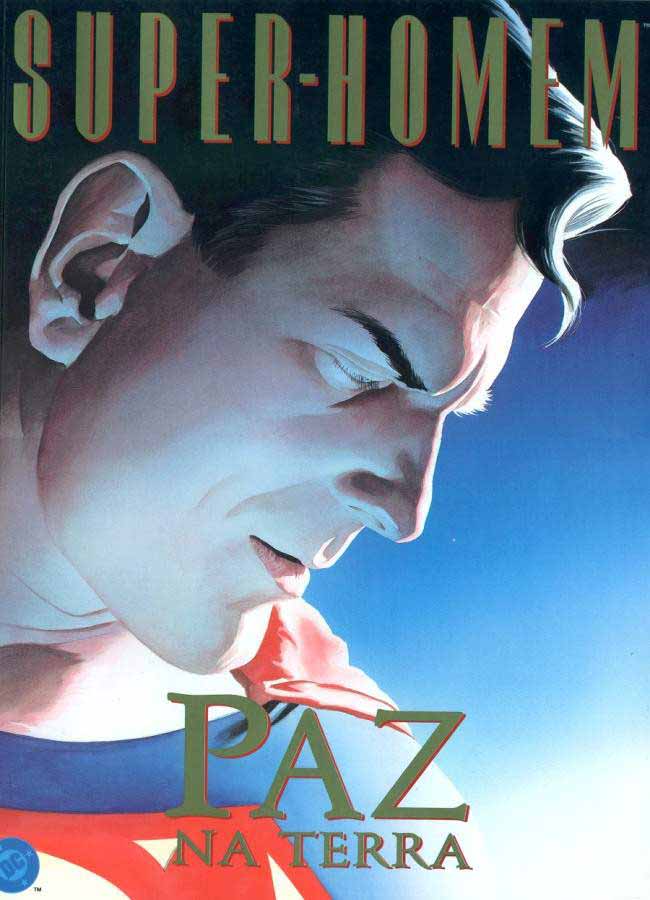
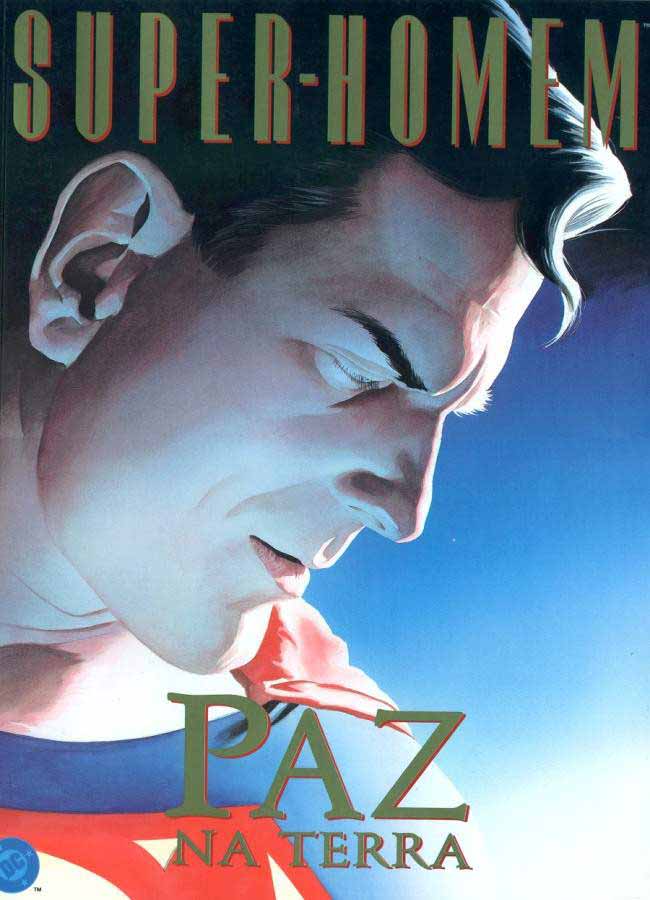







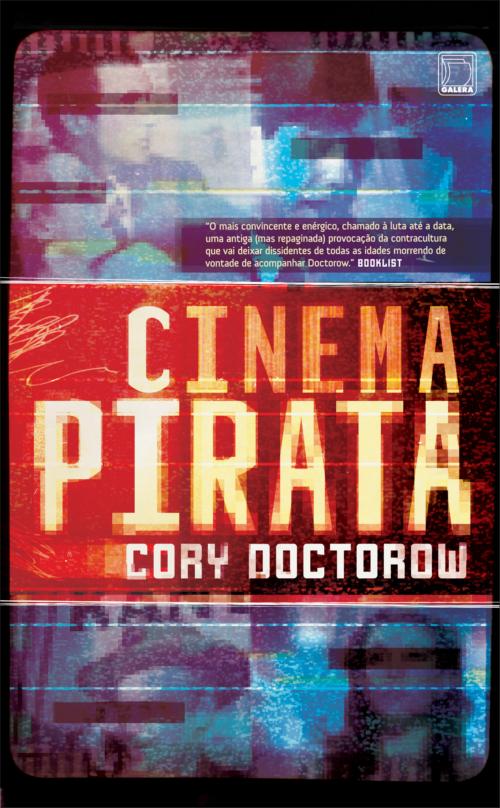

![bling-ring[1]](http://www.vortexcultural.com.br/images/2013/07/bling-ring1.jpg)