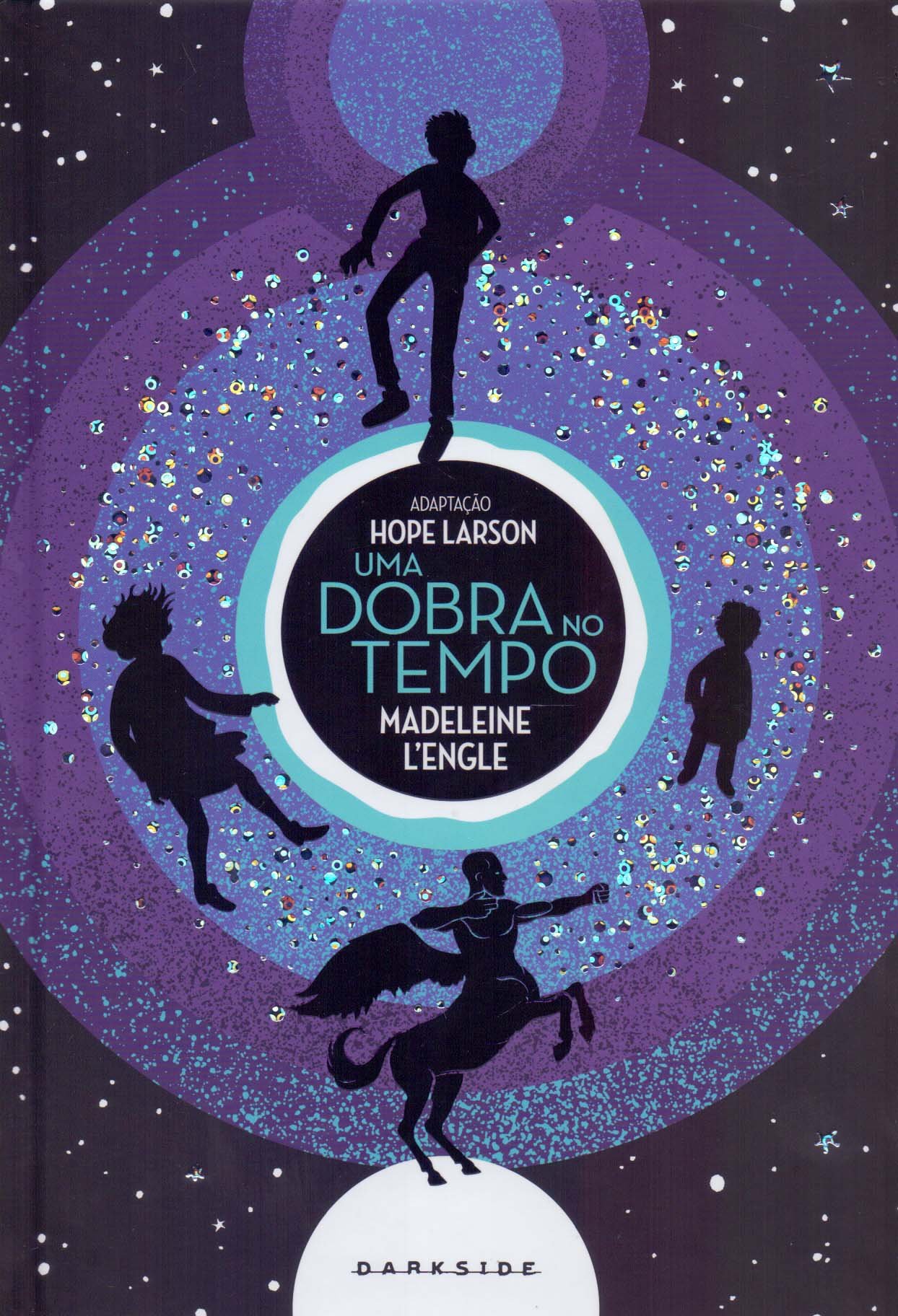2018 chegou ao fim e com ele uma série de filmes que adoraríamos não ter visto. Mas como não é o caso, decidimos fazer aquele resgate heroico de tudo o que tem de mais descartável nos cinemas no ano que passou.
(confira também nossa lista de Melhores Filmes de 2018).
–
10. O Paradoxo Cloverfield (Julius Onah, 2018) – Por David Matheus Nunes

O Paradoxo Cloverfield era um filme que tinha tudo para dar certo. Após o bom Cloverfield: Monstro e o ótimo Rua Cloverfield, 10, que deixou as expectativas lá no alto, o novo capítulo da franquia decepciona. Se em “Monstro” temos uma inexplicável criatura destruindo Nova Iorque, em “Rua n. 10”, temos uma jovem encarcerada num bunker no meio de uma invasão alienígena. “Paradoxo” vemos uma competente equipe de astronautas numa importante missão de acionar um acelerador de partículas. A missão fracassa e o planeta Terra desaparece, deixando os astronautas à deriva, ao mesmo tempo em que coisas estranhas começam a acontecer. Apesar de situações bastante interessantes que flertam entre o suspense e o terror, o filme se perde em diversos momentos, fazendo com que o espectador se interesse e perca o interesse diversas vezes, o suficiente para colocá-lo na lista dos piores do ano. O pior é que O Paradoxo Cloverfield é até agora o principal e mais importante filme da franquia. Se colocado na linha do tempo dos 3 longas lançados até agora, o filme é o ponto de partida, ou seja, explica o porquê da existência do monstro de Nova Iorque e o porquê da invasão alienígena. Então, o “peso” que esse filme tem e seu saldo insatisfatório, abaixa ainda mais sua nota, o que é uma pena.
9. Nada a Perder: Contra Tudo. Por Todos (Alexandre Avancini, 2018) – Por Filipe Pereira

Depois do “fenômeno” de bilheteria que foi Os Dez Mandamentos: O Filme, a Record atacou novamente com outra bilheteria gigantesca cujas salas apesar de esgotadas estavam na maior parte das vezes vazias. Nada a Perder é uma historia inédita mas a originalidade não é o suficiente para considerar o longa de Alexandre Avancini nem ao menos passável. As passagens de tempo são confusas, todas as pessoas reais do filme são mostradas de maneira caricata e Petrônio Gontijo faz um Edir Macedo que varia entre o psicopata indócil e o obstinado que acredita ter uma missão e que se vale de toda sorte de mentiras e argumentos fracos e lugar comum para fazer isso. Apesar de não ser uma novela condensada no tamanho de um filme o roteiro é tão mal construído que deixa lacunas tão ruins quanto as do outro filme, sem falar que seu conteúdo é ofensivo para quem não é crédulo no evangelho que faz com que todo cristão pareça uma pessoa má e falaciosa, sendo ainda mais vergonhoso para quem é religioso por conta dessa construção de arquétipo e clichê.
8. Uma Dobra no Tempo (Ava DuVernay, 2018) – Por Filipe Pereira

Após Mogli, de Jon Favreau, a Disney percebeu que seus longa live action tinha uma tendência, quando era um filme que reproduzia fielmente uma obra animada como Bela e a Fera, a chance de ser sucesso era maior, e uma historia nova e inédita tinha tendência de fracassar. Foi assim com Christopher Robin, O Quebra Nozes e A Dobra no Tempo, filme de Ava DuVernay (responsável pelo ótimo Selma e o razoável A 13ª Emenda). No entanto, a adaptação do livro de Madeleine L’Engle é horrenda em muitos sentidos, o visual é espalhafatoso, a maquiagem terrível, Oprah Winfrey parece ter saído do mesmo baile de carnaval que George Clooney participou em Batman & Robin, os personagens infantis não tem carisma, a historia é confusa… DuVernay pesou demais a mão e certamente não é mais tratada como uma diretora incapaz de errar, ainda mais após um equívoco tão indiscutível quanto este.
7. O Predador (Shane Black, 2018) – Por Bernardo Mazzei

Estou surpreso que essa tranqueira não está no topo da nossa lista. Venom é uma desgraça muito menor que O Predador, o que não significa dizer que o filme do vilão do Homem-Aranha seja algo mais do que um cocô rolando no vento. Mas enfim, falemos rapidamente dessa belezura que foi O Predador. Quando os planos de uma retomada da franquia do alien caçador foram anunciados com Shane Black capitaneando a empreitada foram anunciados, havia uma esperança de que a mística dos dois primeiros filmes fosse recuperada, afinal, Predadores e os dois Alien versus Predador não fizeram muito bem para o nosso extraterrestre de dreadlocks preferido. No entanto, o que aconteceu tornou essas três películas mais dignas, porque meus queridos, o novo longa é uma tragédia.
Black se uniu ao seu parceiro Fred Dekker, roteirista com uma certa experiência em arruinar franquias e personagens icônicos (assistam RoboCop 2 e Robocop 3 pra entenderem o que ele e Frank Miller fizeram), para conceber essa película. Porém, a realização é deprimente (para dizer o mínimo). O filme não funciona em absolutamente nada. Como ficção científica é péssimo, como comédia involuntária perde a graça em dois tempos e como filme de ação é confuso. Alguém me disse para ver o filme como uma sátira, mas só consigo entender como deboche. O filme é confuso, com situações mal amarradas pelo roteiro, propostas absurdas e o terço final, além de ser uma zona narrativa completa, tem um epílogo que cospe na cara do espectador e do fã mais antigo da franquia. Ah, o filme teve toda a parte final refilmada porque nas exibições-teste, os espectadores não gostaram e o estúdio também não. Aí as refilmagens foram exigidas. Se com as refilmagens o filme é essa maravilha, prefiro nem imaginar como ele era antes.
6. Batman Ninja (Junpei Mizusaki, 2018) – Por Dan Cruz

“Batman Ninja é tão ruim que parece que foi o Dan quem escreveu o roteiro!”, disse o meu irmão em um grupo de amigos. E eu concordei com ele veemente! Explico: no meu grupo de amigos, sou o único que nunca fui um grande fã de animes e mangás. Como jogamos RPG juntos há bem mais de uma década, certa vez tentei “mestrar” uma aventura oriental e… Bem, por não curtir o gênero, foi desastroso!
O mesmo que aconteceu com minha sessão de RPG pode ser visto em Batman Ninja: clichês e mais clichês de desenhos e séries japonesas são derramados em cima do espectador sem critério algum. A premissa da história parece até interessante: um experimento do Gorila Grodd no Asilo Arkham causa um acidente que manda Batman, seus aliados e vilões para o passado, mais precisamente no Japão feudal. A estética e estilo de animação do anime não deixa muito a desejar, mas o roteiro é tão fraco que, antes mesmo da metade do filme já vemos um castelo se transformar num robô gigante! E daí pra frente, só piora, com cada vez mais estereótipos que misturam elementos de anime e tokusatsu, desenfreadamente, sem qualquer compromisso em contar uma história coesa ou, no mínimo, que respeite tanto os fãs quanto a cultura oriental.
Se fosse algo claramente feito para ser uma sátira, como a franquia Lego, talvez até teria algum mérito. Mas o filme se leva a sério, e isso faz com que fique simplesmente intragável. Parece até que fui eu que escrevi o roteiro!
5. A Freira (Corin Hardy, 2018) – Por Felipe Freitas

James Wan, a mente responsável pelo universo iniciado no primeiro Invocação do Mal, já admitiu que é nos filmes derivados que eles se divertem. Porém, essa brincadeira toda não rendeu nenhum spin-off digno dos filmes principais, e o mais recente A Freira consegue ser o pior de todos. A personagem, vilã de Invocação do Mal 2, assim como Annabelle ganha seu filme solo em uma história de origem, mas sai pela culatra e a maior prejudicada é a própria freira. Sua imagem acaba sendo desgastada e quase vulgarizada, toda a atmosfera acerca dela perde a força em uma narrativa simplória, com tentativas falhas de reverter clichês e sequências de horror e suspense nada eficientes.
O universo segue ganhando fortunas em bilheteria, mas A Freira prova que falta coração nesses capítulos da franquia, pois não apresenta carisma em suas personagens principais e nem sabe aproveitar a figura de sua vilã. E além de estruturalmente problemático, é um tédio. Que venha Invocação do Mal 3 e a revelação de qual monstro vai ganhar seu próprio filme ruim.
4. Megatubarão (Jon Turteltaub, 2018) – Por Douglas Olive

Hollywood tinha algo a nos comunicar aqui, com um tubarão pré-histórico zanzando livre e faceiro nos oceanos, em pleno século XXI. É o retorno dos que não foram, e a caça ao antigo que precisa morrer, mas nunca de verdade; ele é rentável, mina de ouro. Remakes atrás de remakes, grandes histórias são esvaziadas em função do espetáculo e de um entretenimento oco. Megatubarão foi um dos piores filmes de 2018, e não é preciso ir muito longe (salve o trocadilho “se aprofundar”) para descobrir o porquê.
Digno de dó, o filme da Warner Bros, um misto exemplar de ação com uma pobre ficção científica bitolada, narra aos trancos e barrancos o resgate de um grande número de pessoas presas num submergível ameaçado pela presença de uma máquina colossal de matar, dona das águas e do que ousar ameaçar o seu trono marítimo. O bicho só não é mais falso e não tem um destino mais previsível do que o próprio filme em si, contando com personagens que existem apenas para ser ou a comida da fera, ou seus algozes imbecilizados, tentando enfiar um arpão no peixe a qualquer custo. Acredite: Megatubarão é mais um aviso desses bastardos inglórios que só se multiplicam, infectando os multiplex ao redor do mundo. Que Steven Spielberg, ou melhor, que um novo Spielberg tenha pena de nós.
3. Círculo de Fogo: A Revolta (Steven S. DeKnight, 2018) – Por Bernardo Mazzei

Quando o primeiro trailer desse filme surgiu online, parecia uma pequena crônica de uma tragédia anunciada. Toda a estética idealizada por Guillermo Del Toro havia sido abandonada em favor de algo que variava parecia a fusão de Power Rangers com Transformers. Pode até parecer exagero, mas a pasteurização visual é nítida, basta uma forçadinha na memória para recordar o primeiro e uma breve observada no que esse segundo filme é. Se fosse só isso, acredito que Círculo de Fogo 2: A Revolta seria um pouquinho mais tolerável. Mas não é. Além dessa pasteurização visual, toda a mitologia (se podemos chamar assim) criada por Del Toro para o primeiro filme foi jogada pela janela em favor de uma diversão escapista que não diverte em nada.
Ainda que seja um filme para o público jovem, Círculo de Fogo 2 é extremamente infantil e eu não digo isso por causa da presença dos robôs e dos monstros. Todo o conceito estabelecido pelo primeiro é simplificado ao extremo, a fim de que o mínimo de dramaticidade pretendido seja praticamente arrancado a fórceps. Entretanto, isso não funciona. Os personagens são extremamente genéricos e alguns são mal concebidos, parecendo simples decalques de arquétipos já estabelecidos no cinema. Fora que as lutas entre os robôs e os kaiju, que deveriam ser a melhor parte de tudo, não tem a menor graça. Caso fossem boas, todo o roteiro boboca com o plot twist ofensivo à nossa inteligência seriam perdoados. Há quem reclame que o primeiro filme rouba elementos de vários outros filmes, de animes e mangás. Porém, aquele ao menos usa tudo muito bem. Já esse aqui no máximo é a cópia mal feita de seu predecessor, emulando de forma ruim tudo aquilo que o outro usou como inspiração e também não compreendendo a sua fonte.
2. Cinquenta Tons de Liberdade (James Foley, 2018) – Por Flávio Vieira

Se um dia você acreditou que existia fundo do poço isso se deu pelo desconhecimento cinematográfico a respeito da trilogia Cinquenta Tons, baseado no romance de E. L. James. Sim, depois de dois filmes insossos, que buscam uma ousadia e erotização inexistente, o terceiro filme da franquia conclui a série e faz os filmes anteriores parecerem obras de Bernardo Bertolucci, dado o fracasso do longa, inclusive entre os fãs.
O desfecho da série, que buscava uma conclusão digna para o casal de protagonista falha miseravelmente em todos os fronts que ataca. A erotização é inexistente, a suposta “liberdade” envolta das questões sexuais de Grey e Steele não convencem, ainda que a personagem feminina se mostre mais bem resolvida, sexual e profissionalmente falando, deixando de lado a frigidez e a dependência do primeiro filme, enquanto os problemas de Grey em relação ao seu suposto abuso são apenas mencionados, deixando de lado qualquer desenvolvimento plausível em relação aos seus traumas e sua “libertação”. Se no trailer o longa tentava convencer o espectador de que entregaria um thriller, no longa isso tampouco funciona, as perseguições de carro beiram o marasmo, o antagonista é novamente reaproveitado em um plano bobo dotado de uma motivação ridícula. A estrutura narrativa funciona por blocos: viagens, cenas “eróticas”, discussões bobas entre o casal e cenas de sexo. O terceiro ato tenta quebrar esta fórmula por meio de uma tentativa frustrada de thriller, mas falha miseravelmente. Cinquenta Tons de Liberdade é um filme vazio, sobre o nada. Não existe evolução narrativa. Não existe desenvolvimento de personagem. Não existe roteiro. Difícil entender como existiu uma trilogia.
1. Venom (Ruben Fleischer, 2018) – Por Dan Cruz

Personagem de absoluto sucesso nos quadrinhos e desenhos animados nos anos 90, o vilão Venom era uma antítese do Homem-Aranha, que não só o odiava como também o conhecia intimamente, pois já tinha sido um simbionte do próprio Peter Parker. O Venom do cinema, não tem nada disso. Nenhuma relação com qualquer filme ou série do Cabeça-de-teia, nem mesmo com sua versão anterior em Homem-Aranha 3. Apenas o nome de seu hospedeiro é mantido, e Tom Hardy se esforça no papel de Eddie Brock dando a ele um tom de comédia pastelão que não combina em nada com o restante do filme.
Roteiro fraco e cenas de ação coreografadas de forma absurda, utilizando-se de coincidências para fazer andar a história, o filme é um desastre narrativo do começo ao fim. A única coisa que se salva é o CGI – disfarçado em tomadas noturnas para não ressaltar a péssima qualidade da produção. Personagens são desperdiçados, diálogos forçados e piadas simplesmente não funcionam nesse filme caça-níquel. Fica evidente que a Sony apenas se aproveitou da popularidade do personagem enquanto estava impossibilitada de usar o Homem-Aranha devido a um acordo com a Marvel/Disney. Só não é o pior spin-off de filme de herói porque Mulher-Gato, de 2004, ganha esse título. Mas está bem perto!
–
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.