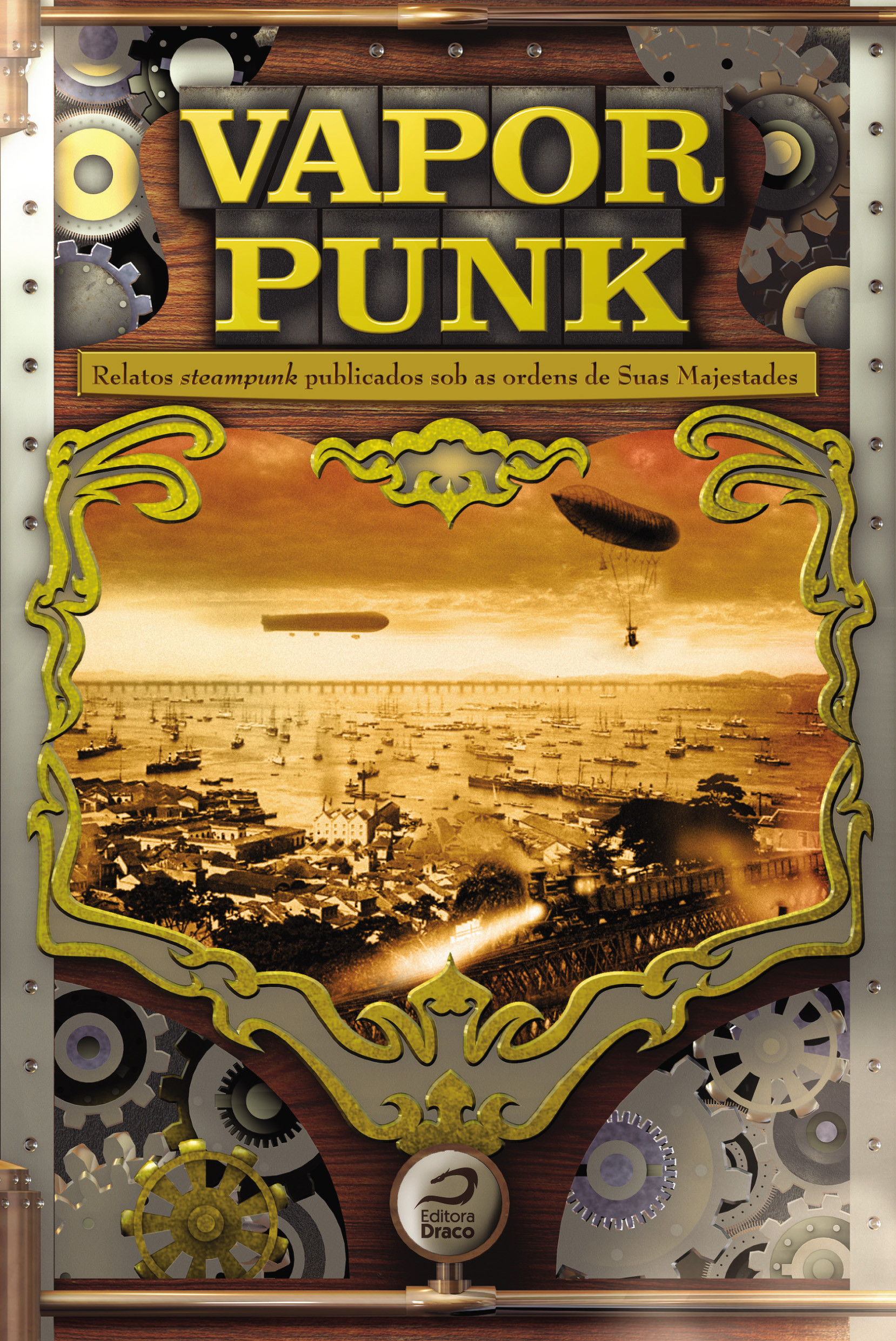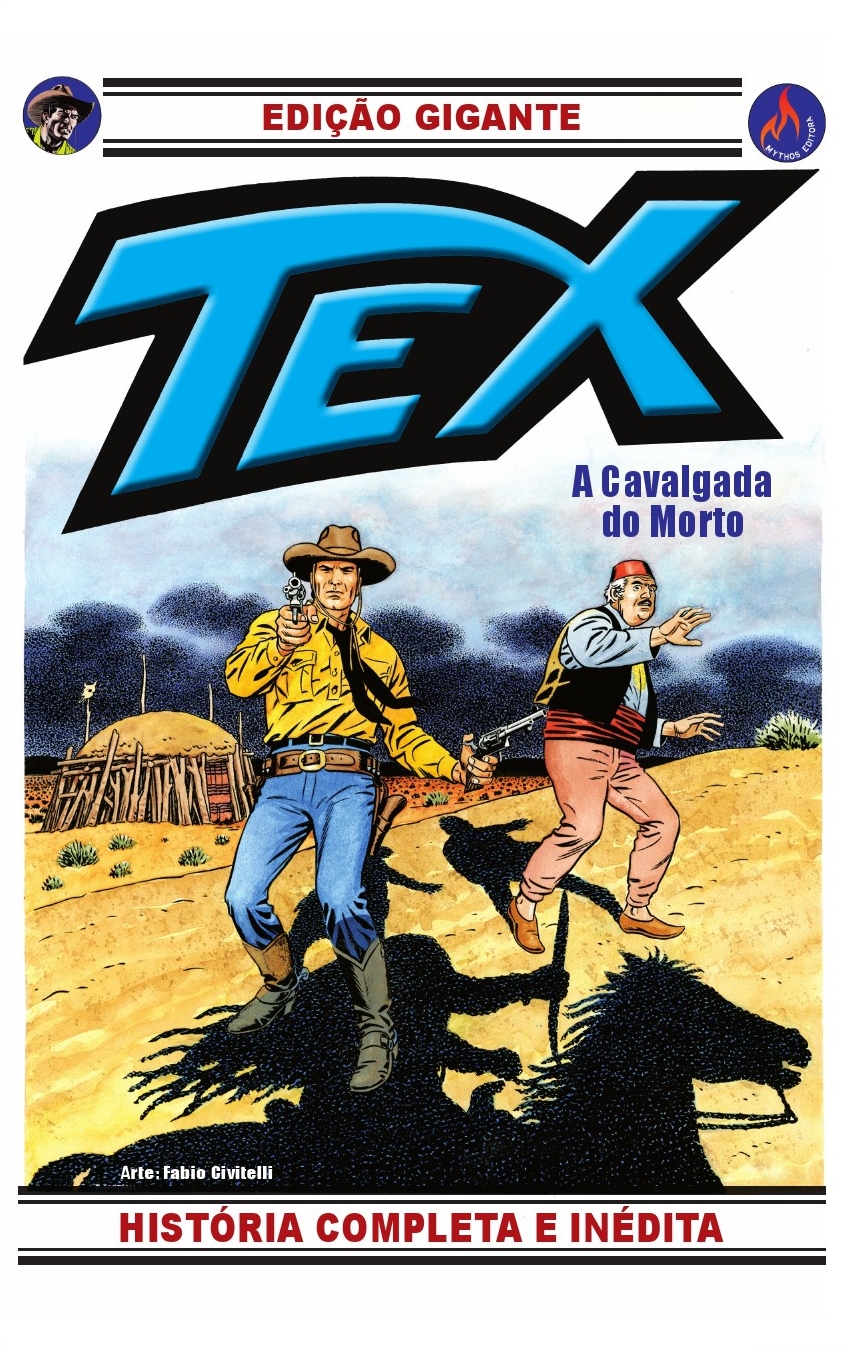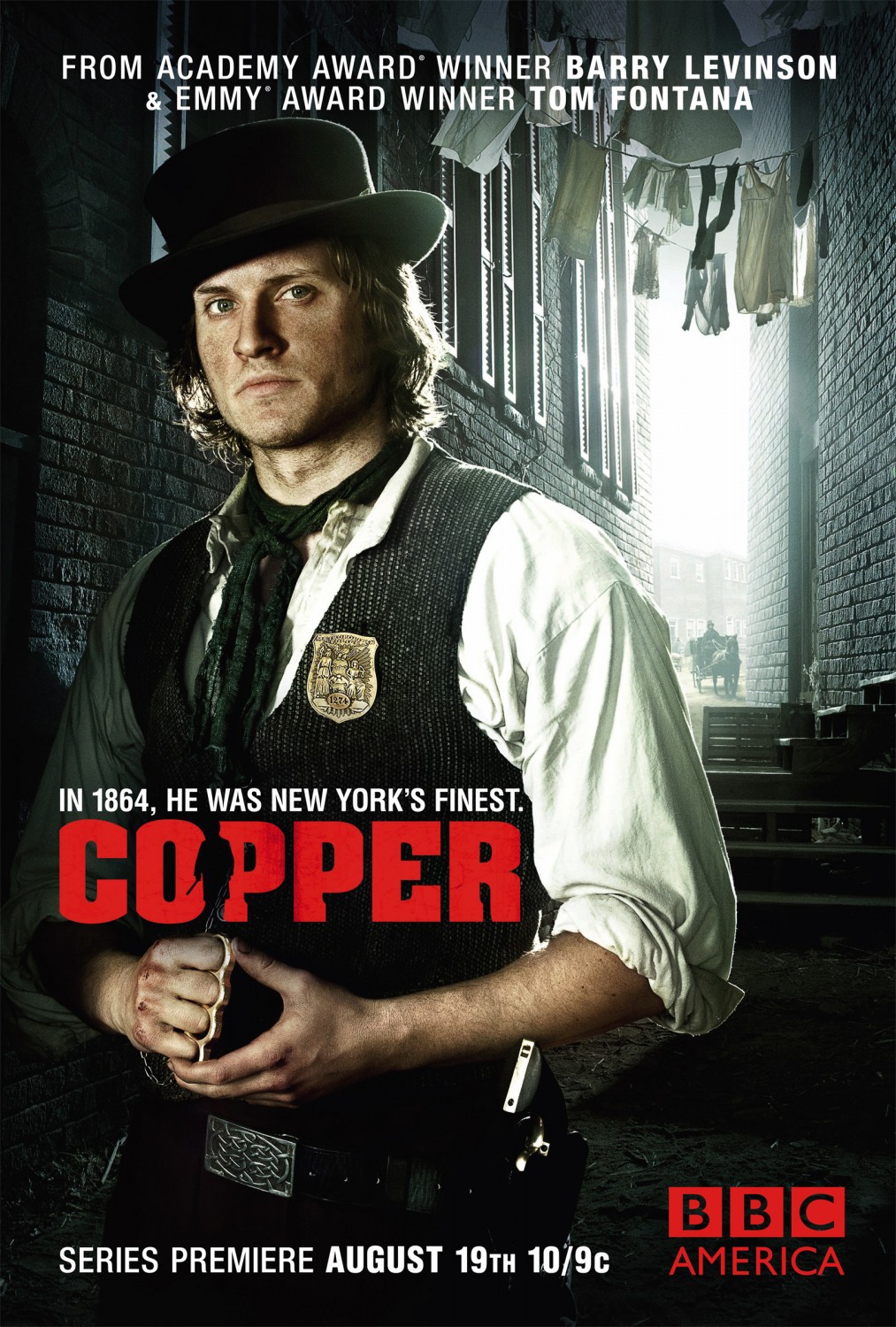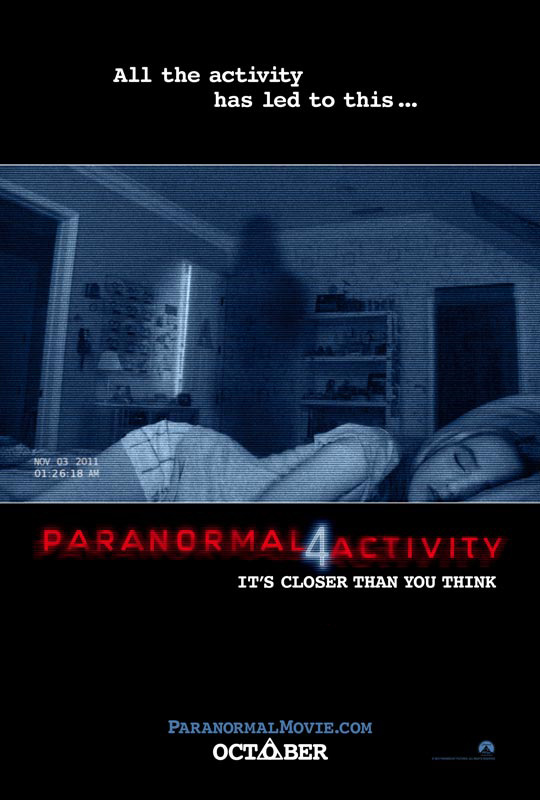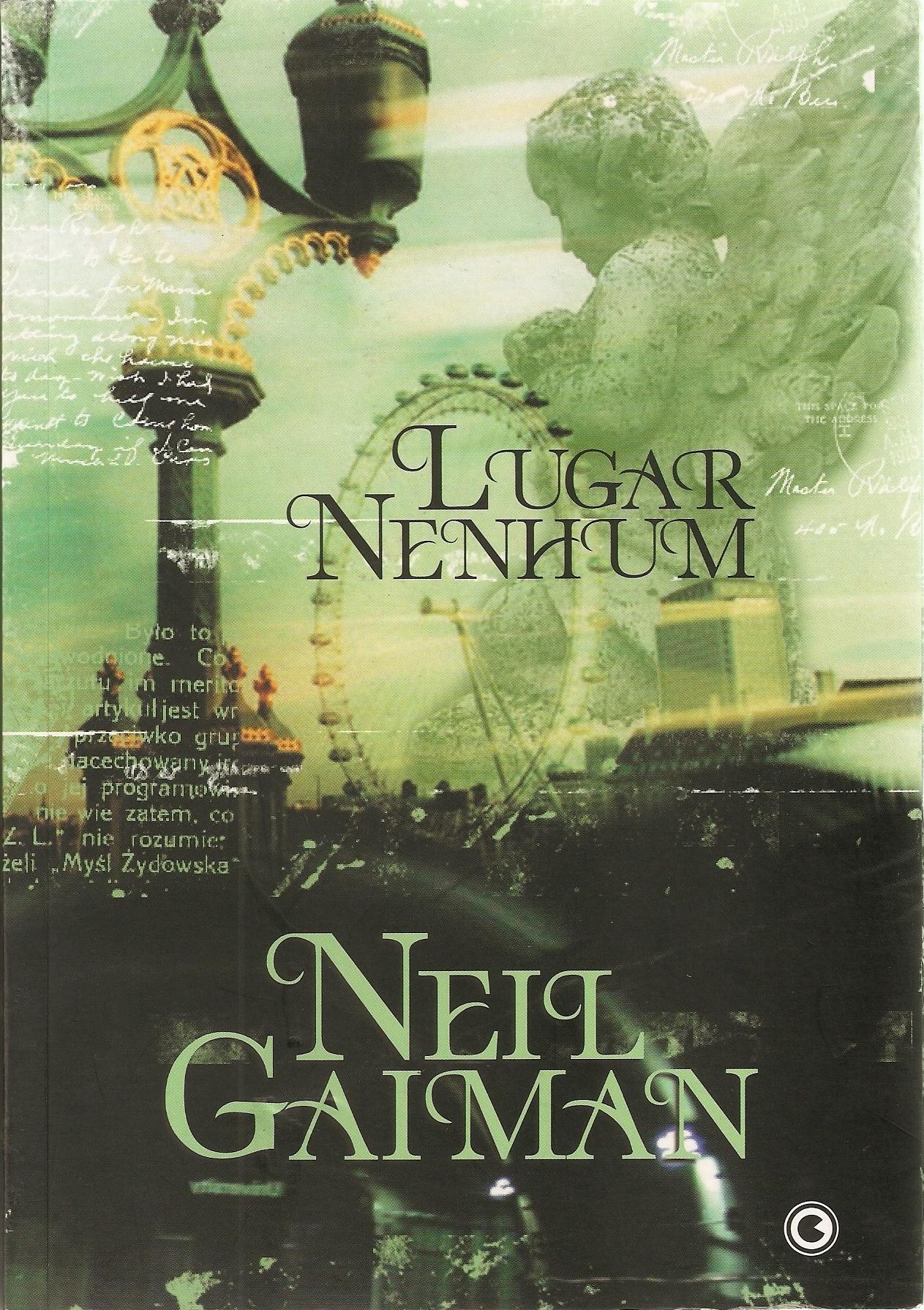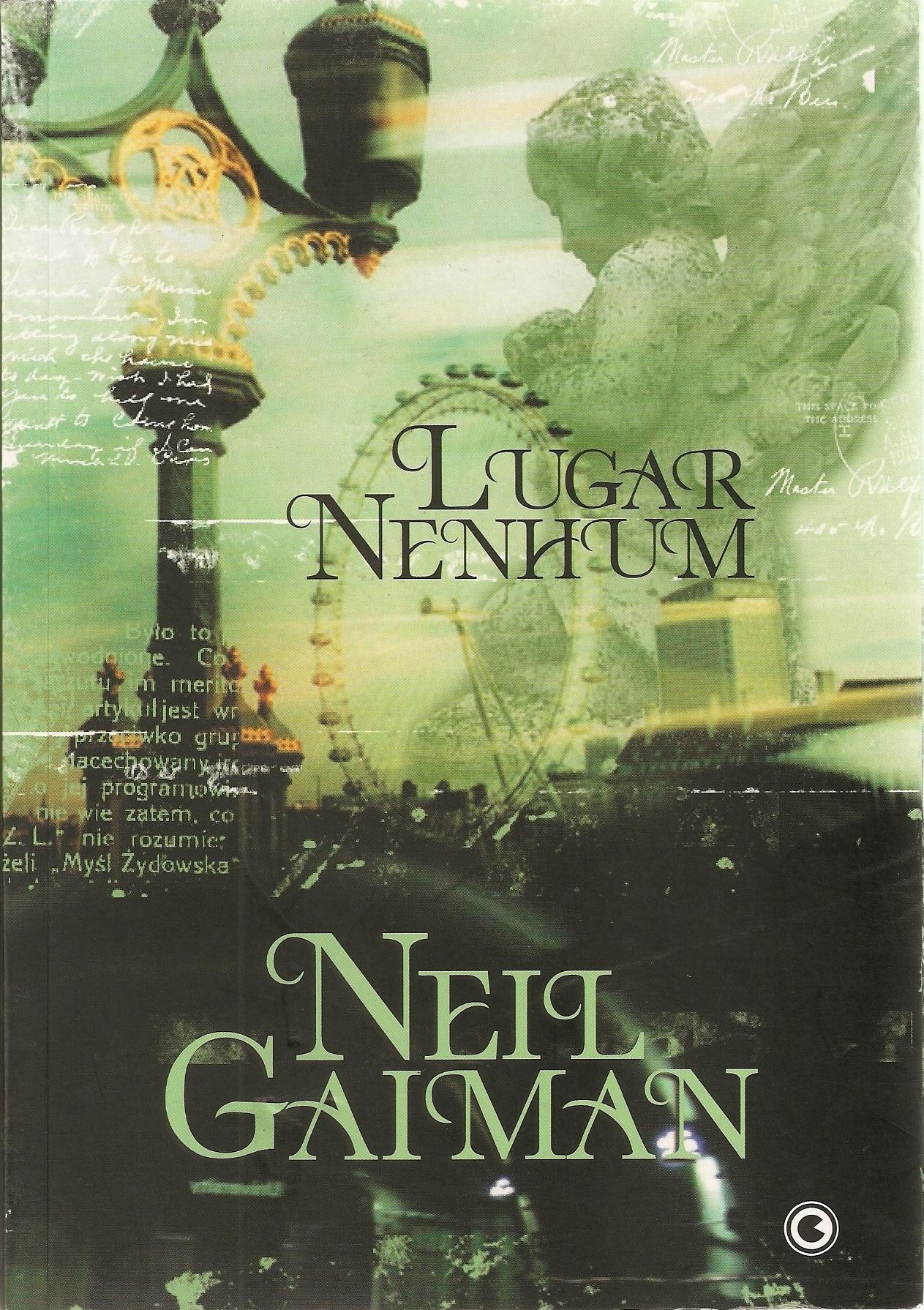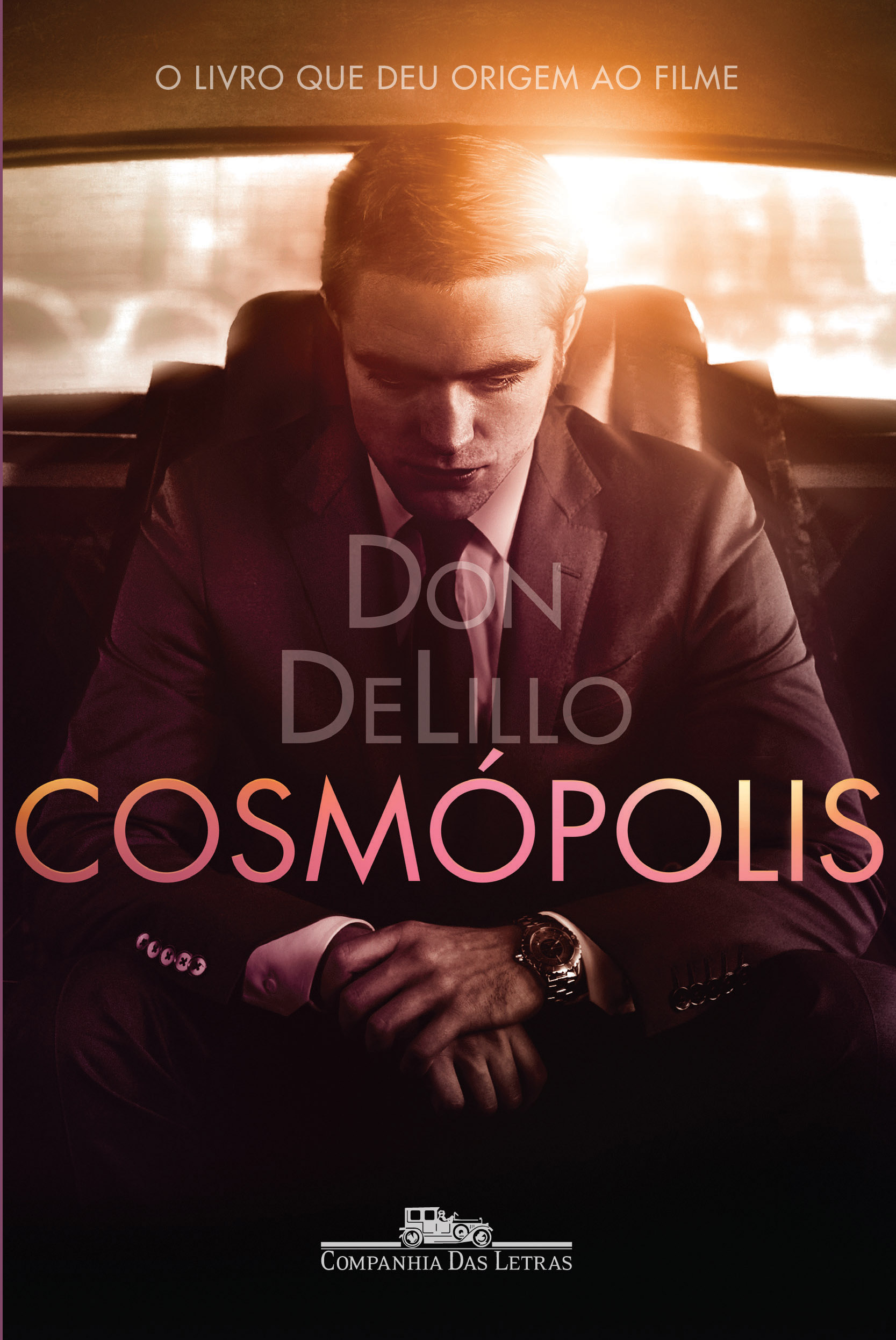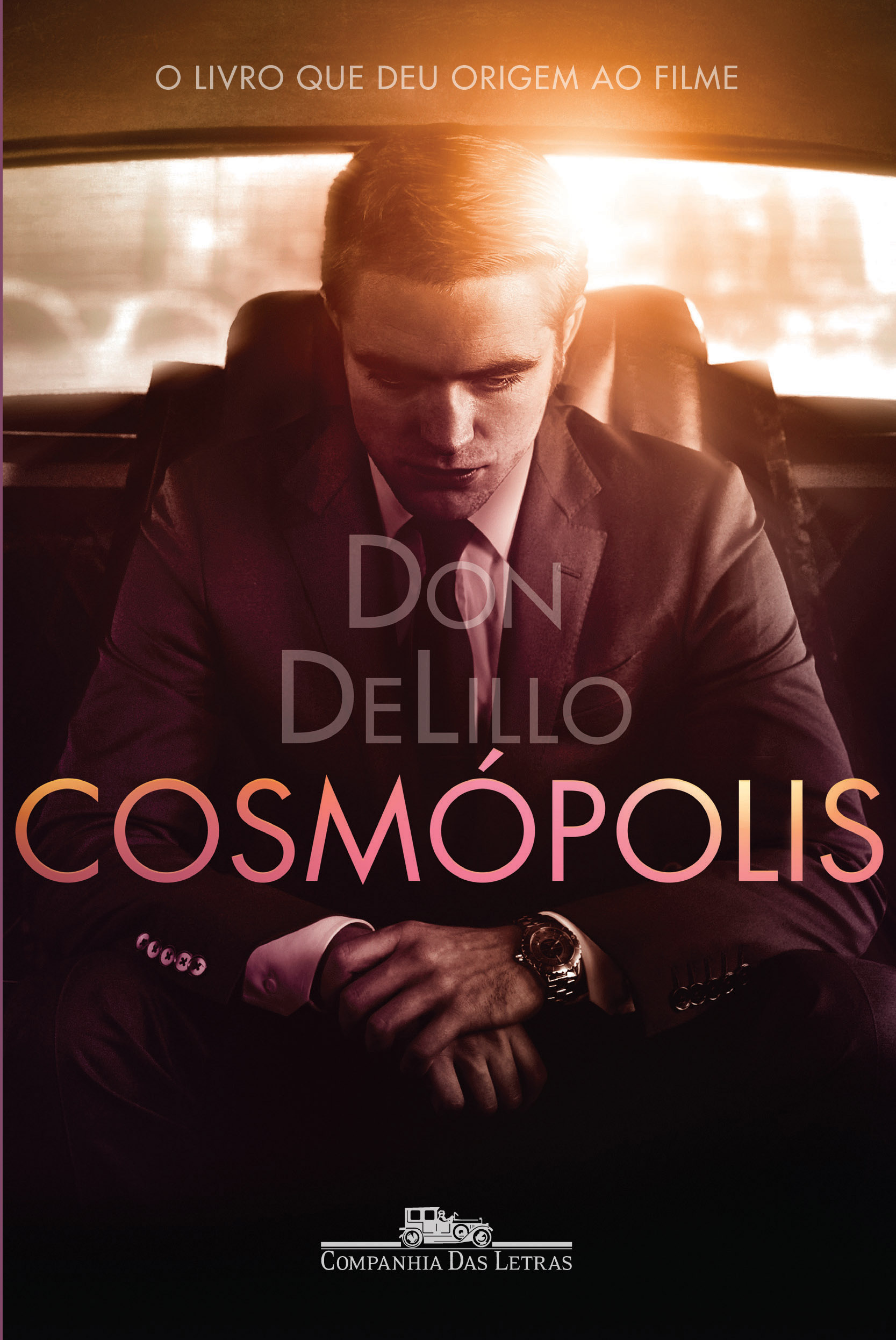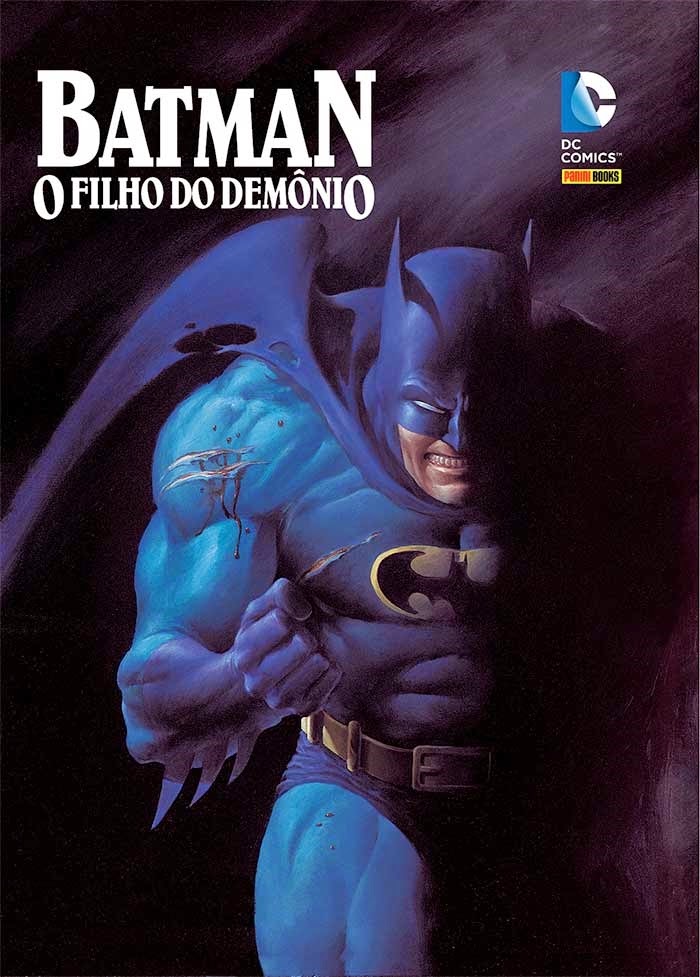O segundo dia da Gibicon começou cedo para o Vortex Cultural. Fomos conferir uma das oficinas do evento. Se o primeiro dia foi o dia dos coloristas, o segundo seria o dia dos roteiristas, um dos principais autores da equipe criativa de uma história em quadrinhos, portanto, escolhemos assistir à oficina de Roteiro ministrada por Daniel Esteves, ganhador de diversos prêmios HQMIX como roteirista, pela sua série Nanquim Descartável, além da HQ em que é co-autor: O Louco, a Caixa e o Homem.
Em duas horas de oficina, que foi realizada na Aliança Francesa de Curitiba, o público foi levado a compreender o processo de um roteiro. Esteves evidenciou que um roteirista, antes de tudo, deve ser um contador de histórias. Ele é um dos principais responsáveis por criar uma ligação emotiva com o leitor (criando um elo sentimental) e, portanto, encoraja o processo criativo de um roteiro que seja natural, em detrimento da artificialidade das histórias megalomaníacas (principalmente ao considerar os iniciantes). Um roteirista, antes de mais nada, é leitor e também um vivente. Essas foram, resumidamente, apenas alguns dos pontos que Daniel compartilhou com o público presente e não escondeu que leva uma carreira ao mesmo tempo “caótica”, mas divertida.

Novamente, corremos de volta para o Memorial de Curitiba, ponto de encontro principal da convenção de todas as pessoas e artistas. José Aguiar, um dos idealizadores da Gibicon e curador do evento, esbanjando simpatia e animação, veio nos contar mais um pouco sobre o evento. Perguntado sobre as mudanças que ocorreram da edição zero (2011) para a desse ano, Aguiar respondeu:
José Aguiar: A Gibicon deu uma mudada para poder crescer. Quando fizemos a edição de número 0, que foi experimental, a equipe era muito diminuta e o orçamento também era menor (apesar de ainda ser limitado, melhorou), mas aprendemos muito com aquele. Aprendemos a nos organizar melhor, principalmente. Esse ano eu saí da coordenação do evento e fui para a curadoria, pois eu tenho mais capacidade de estar mais presente e render melhor. Tudo isso foi pensado com o intuito de oferecer um evento melhor. Acho que isso tudo foi positivo tanto para o evento quanto para mim. Continuo dando o sangue e acreditando no projeto igualmente. A Gibicon é um evento sem fins lucrativos e o que estamos fazendo é exatamente porque acreditamos em investir no mercado brasileiro de quadrinhos. É claro que eu ganho com isso, pois também sou autor de quadrinhos. Se eu fomento novos leitores eu estou fazendo bem não só para mim, mas para todos os autores brasileiros em especial. Esse é um dos grandes objetivos da Gibicon: mostrar para a mídia e o grande público que quadrinho brasileiro tem espaço. Estamos aproveitando os 30 anos da Gibiteca de Curitiba como mote pra trazer exposições, autores internacionais e nacionais de renome e os que ainda são desconhecidos no Brasil, mas que são muito bons. Estamos com uma lista grande de lançamentos esse ano. Até eu estou lançando quadrinhos independente (risos). A intenção é só melhorar.
O crescimento descrito por José Aguiar do evento é facilmente visualizado ao correr os olhos por todos os espaços da convenção, não apenas no Memorial de Curitiba. Esse em especial, onde se localizavam os estandes, era o local em que encontramos vários artistas independentes. Tentamos conversar com a maior quantidade de artistas possível e todos muito animados com toda a atmosfera da Gibicon, não se importaram em trocar uma ideia conosco e falar um pouco do trabalho deles.
Perguntados sobre o que estavam achando do evento como um todo e o que mais agradava a eles, pudemos ver relatos de entusiasmo semelhantes. André Caliman (um dos responsáveis pelas HQs Quadrinhópole, Avenida e desenhista da HQ ELF) disse: “estou gostando bastante dessa área de estandes. Ano passado tinha, mas era pouco e mais informal. Não tinha tanta coisa independente, mas esse ano tem vários. A Gibicon tem servido com um propósito relevante para nós autores independentes. Não apenas curitibanos, mas tem muita gente de São Paulo e Rio de Janeiro mostrando seus trabalhos, por exemplo. Pode-se ver claramente que a Gibicon tem ganhado uma visualização nacional, pois não só nós costumamos ir para São Paulo e Belo Horizonte para mostrar nossos trabalhos, como eles estão vindo para cá”.
Falando um pouco da HQ Revolta, que estava lançando no evento, Caliman explica que ele está distribuindo o primeiro capítulo da referida HQ no evento para os interessados, e a mesma terá um capítulo novo sendo publicado todos os meses no site oficial (www.revoltahq.blogspot.com). Revolta conta a história de um grupo de amigos que estão revoltados com o que acontece com o cenário político nacional. Caliman conta “até achei legal lançar agora em outubro, tendo em vista as eleições nesse final de semana. É um quadrinho que faz uma série de críticas, mas não quero contar o fato principal da história para não estragar a surpresa dos leitores (risos)”.
Yoshi Itice e Marcel Keiichi, membros do grupo Lobo Limão e dois dos três autores do lançamento independente Last RPG Fantasy (o terceiro autor é Kendy Saito), reiteraram as impressões da evolução do evento: “Ano passado não tinha tantos estandes. Era um evento mais focado em palestras e oficinas, tanto que era o que mais eu fui ver, porém esse ano é diferente e estamos aqui participando mais ativamente”.
Perguntamos sobre o lançamento deles – o qual foi lançado oficialmente na Gibicon #01 e está a venda não apenas no evento como também no site oficial www.lobolimao.com.br)- e como foi a inspiração para estarem ali naquele dia lançando um trabalho próprio:
Marcel Keiichi: Tudo começou quando fomos na FIQ (Feira Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte/MG) do ano passado. Lá levamos nossos primeiros fanzines e vimos que tinha muitas pessoas fazendo livros bonitos e completos. Foi um tapa na nossa cara…
Yoshi Itice: A gente tem que correr atrás, foi o que dissemos para nós mesmos naquele momento.
MK: Temos que fazer uma coisa nessa qualidade também, foi o que pensamos! Pensamos em produzir um livro legal e estabelecemos como meta a produção da nossa HQ “Last RPG Fantasy” esse ano na Gibicon em Curitiba.
YI: O Last RPG Fantasy é um livro jogo interativo.
Vortex Cultural: Tipo aqueles do Steve Jackson que jogávamos na nossa infância? (risos)
YI: Exatamente! Você vai escolhendo os rumos do herói e tem vários finais. Seu personagem pode morrer, vencer, ou não. A diferença é que ao invés do texto corrido como era com os livros do Steve Jackson, fazemos isso com a linguagem dos quadrinhos.
Tivemos a oportunidade de conversar também com Leonardo Melo, roteirista de quadrinhos, cinema e um dos responsáveis pela revista Quadrinhópole. Queríamos saber a opinião do autor sobre o evento como um todo e sobre seu trabalho e fomos bem atendidos:
Leonardo Melo: Sou roteirista, edito a Quadrinhópole desde 2006. Ao meu ver, a Gibicon é um espaço mega importante para os artistas independentes com o intuito de abrir espaço para mostrarmos nosso trabalho. No caso aqui, hoje, estou lançando o encadernado do Undeadman, que é meu personagem. Não apenas eu, mas todos nós precisamos desse espaço, que é imprescindível para nossa divulgação.
Vortex Cultural: E o que você tem a dizer sobre a recepção do público no evento?
LM: A recepção do público está bacana. Ontem, no primeiro dia, esperávamos um movimento menor e mesmo assim rendeu várias pessoas. Ontem choveu bastante ainda e curitibano não é muito chegado em sair de casa pra ir em evento (risos), mas mesmo assim teve bastante gente e a expectativa pro final da semana é que venha mais ainda.
Leonardo está lançando o encadernado de seu personagem, intitulado Undeadman, que é um personagem de uma história de aventura. Um imortal, cuja história se inicia na Idade Média. “A ideia principal é que ele vá passando por momentos históricos da humanidade. Esse primeiro volume reúne todas as histórias da Idade Média, o próximo será da idade moderna e assim por diante”, conta Leonardo.
Por fim, antes de nos aventurarmos nas filas quilométricas de autógrafos com grandes nomes das HQs como Renato Guedes, Carlos Magno, Rod Reis e Joe Bennet, encontramos com o paulistano Gus Morais, mais um artista independente que estava lançando em Curitiba sua coletânea de tirinhas intitulada Privilégios. Gus esbanjou carisma e animação e prestou um pouco da sua experiência pessoal
Gus Morais: É a primeira vez que venho visitar a Gibicon. A parte mais interessante, para mim, é que aqui é um ponto de encontro. Você observa o que os outros artistas estão produzindo e os modelos que eles estão seguindo. Pra quem produz para a internet como eu, é um ponto onde a gente cruza com as pessoas que estão experimentando coisas parecidas. Tem o espaço da venda, de encontrar novos leitores e isso é muito legal, mas acho que o principal (pra mim, sempre que vou em alguma feira do tipo) é o meu ponto de mutação que acontece na feira. Vejo o que os outros estão fazendo, outros trabalhos e o meu trabalho acaba mudando qualitativamente após o evento. Você tem uma proposta com uma história de um jeito específico, daí você vê uma pessoa com o trabalho diferente e isso acaba influenciando você. Tu acha aquele trabalho diferente, legal e tenta se arriscar em caminhos diferentes também. A HQ é um processo. Não é estática. Mesmo o Mauricio de Souza, que tem uma linha bem definida, ainda está experimentando maneiras diferentes de contar suas histórias. Sempre que eu vou na feira eu repenso caminhos e quase sempre as histórias acabam mudando um pouco de perfil e acho isso super positivo. Vem da convivência com o meio. Eu tenho um site (www.gusmorais.com) desde 2010 e ele concentra quadrinhos que eu faço pensado para o formato do blog (formato pergaminho que você baixa o scroll para fazer a leitura) e, depois de acumular diversas histórias de um ano e meio de produção, cerca de 30 histórias, que resolvi compilar em um trabalho de livro. Era o projeto desde o começo quando comecei a fazer webcomics. Sempre pensei em um trabalho que pudesse funcionar tanto para a web quanto para o papel. O livro está a venda no site e na Gibicon. A intenção é continuar publicando meus quadrinhos na rede e a cada um ano e meio, dois anos, fazer novas compilações de tirinhas, trazendo material novo. Esse é o plano por ora. Estou experimentando ainda (risos).
E chegamos ao fim do segundo dia da Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba. A atmosfera empolgante composta pelos artistas independentes, interessados em incentivar uma produção nacional, é um dos principais pontos de destaque do evento, com toda a certeza. O espaço de abertura que a Gibicon tem dado para essas pessoas é extremamente valioso, como ficou bem claro nos relatos acima, e deve continuar sendo incentivado incessantemente. Cada vez abrindo mais portas para mais autores de quadrinhos.
–
Texto de autoria Pedro Lobato.