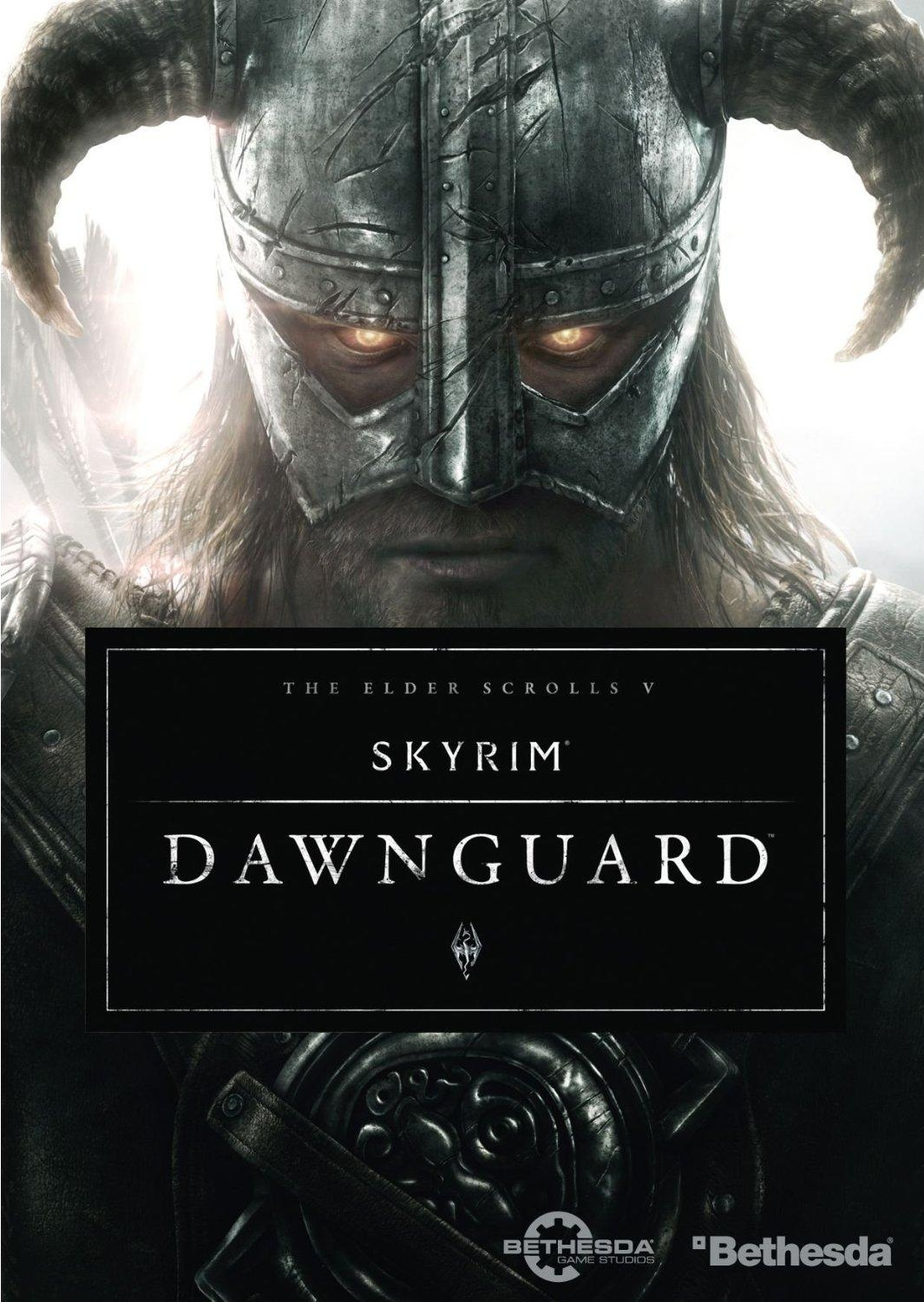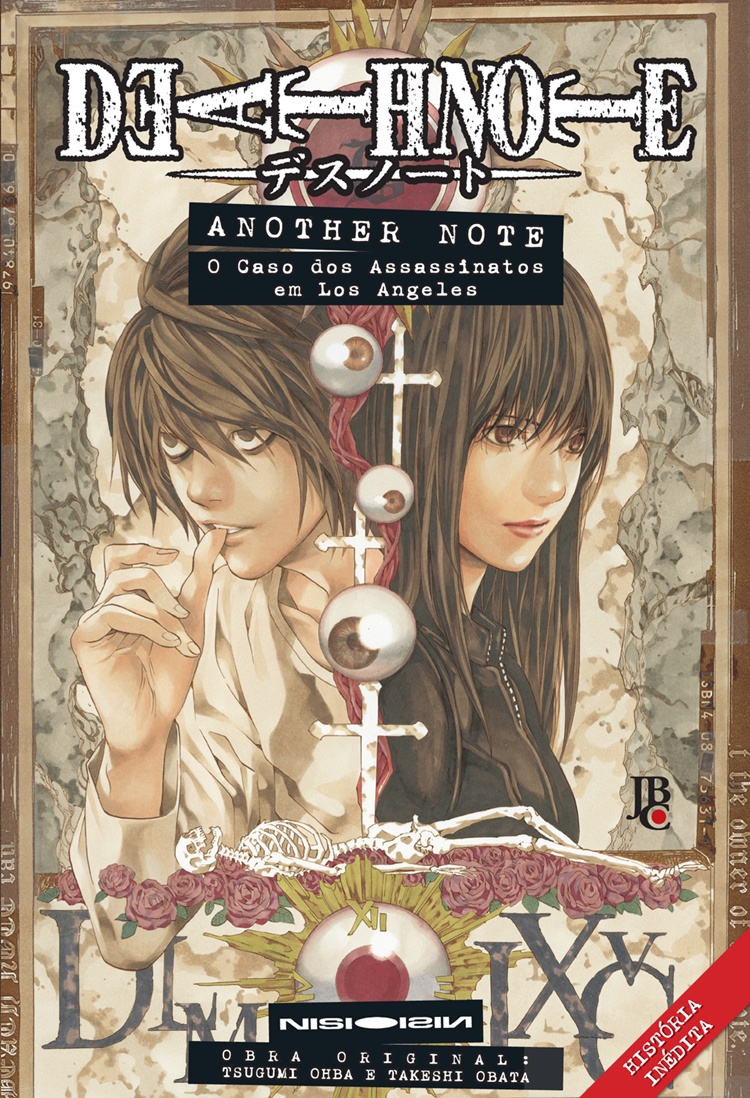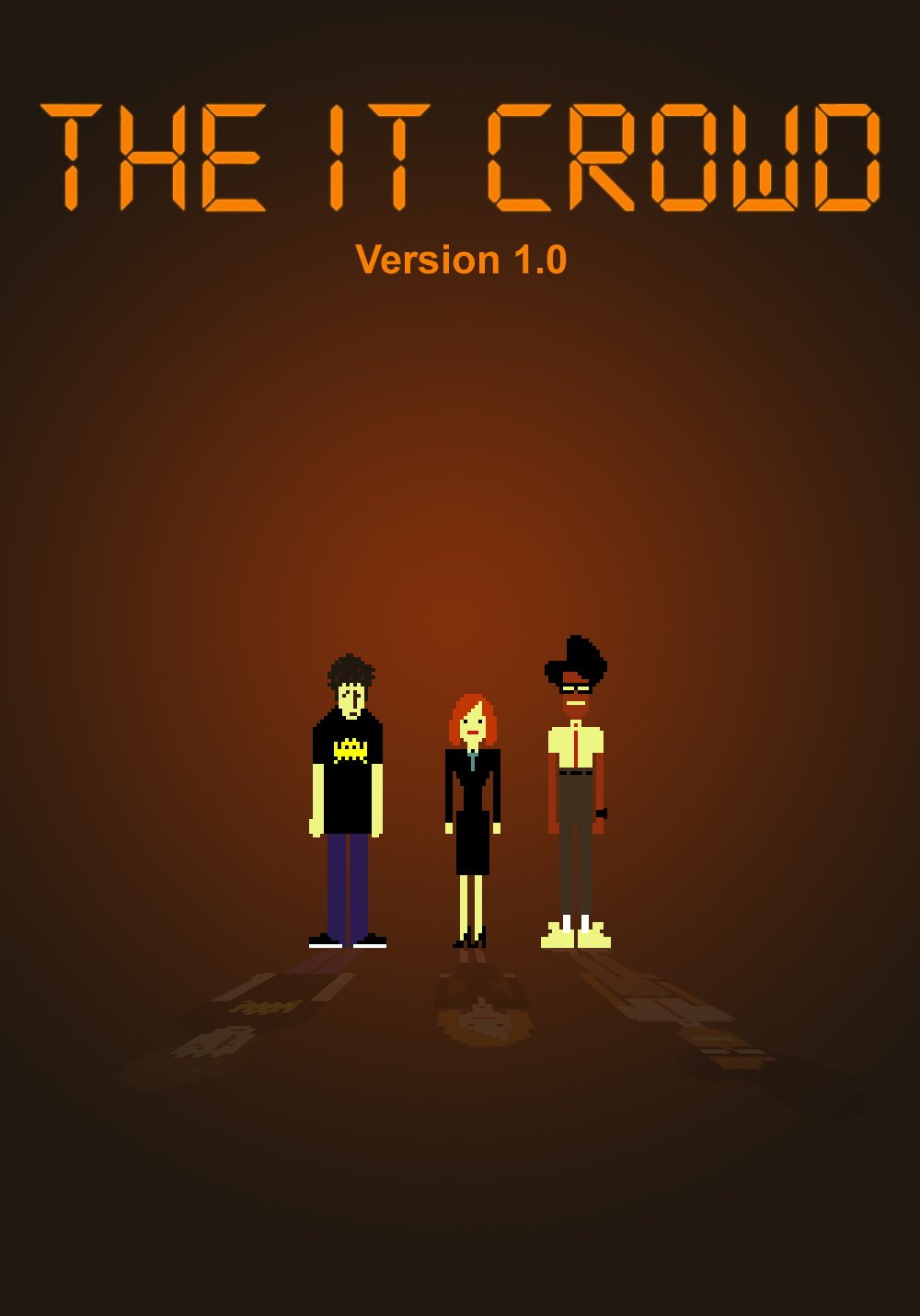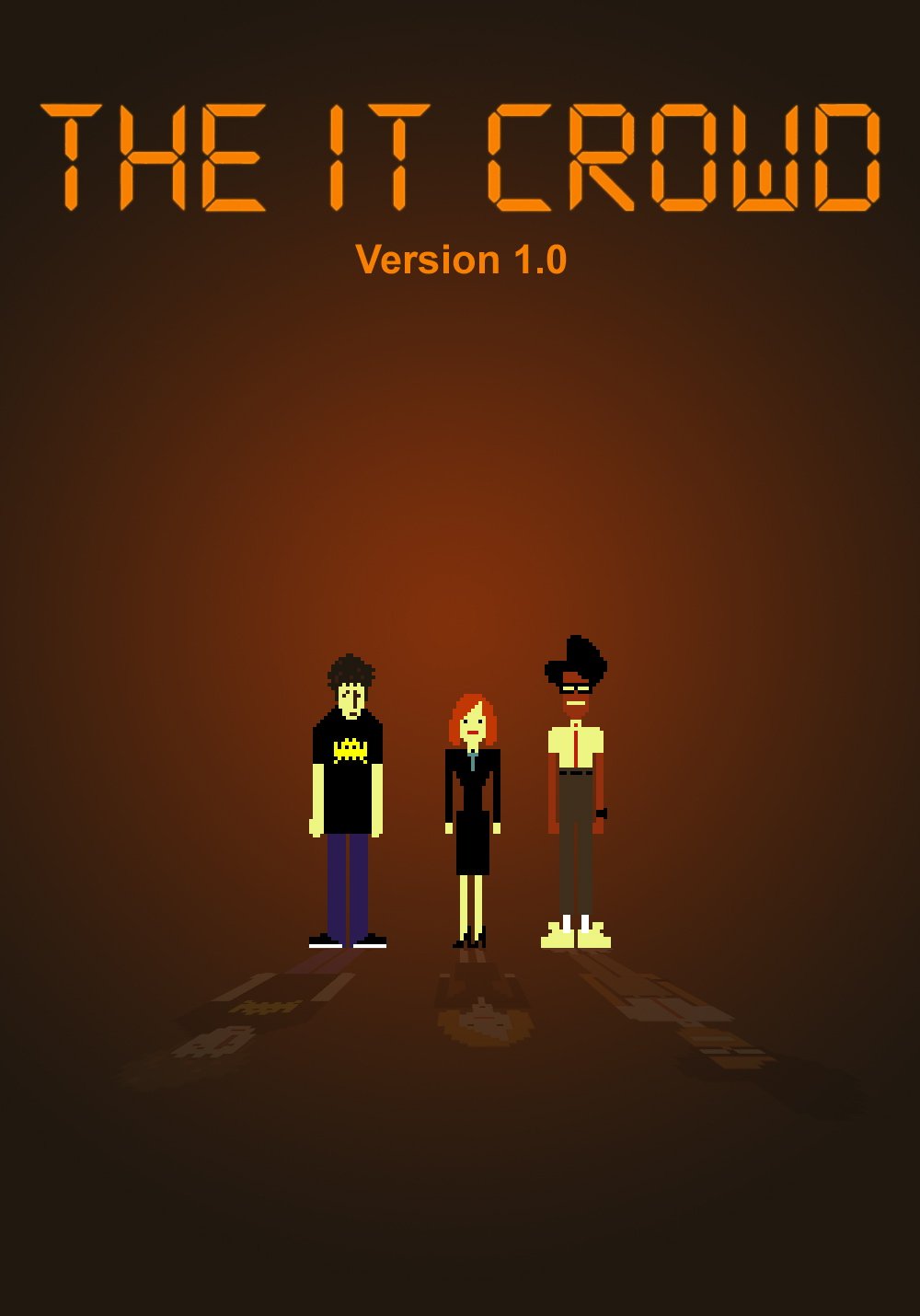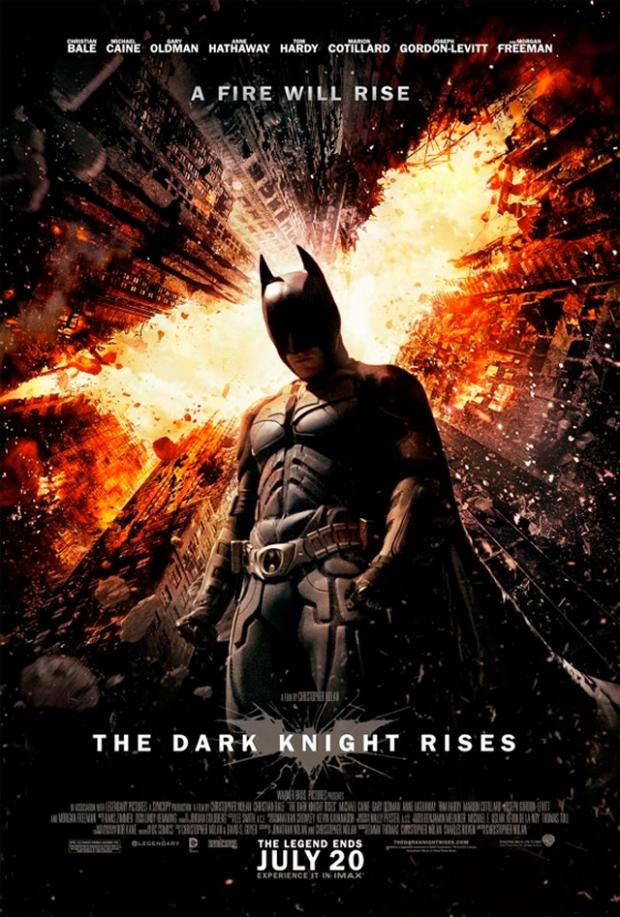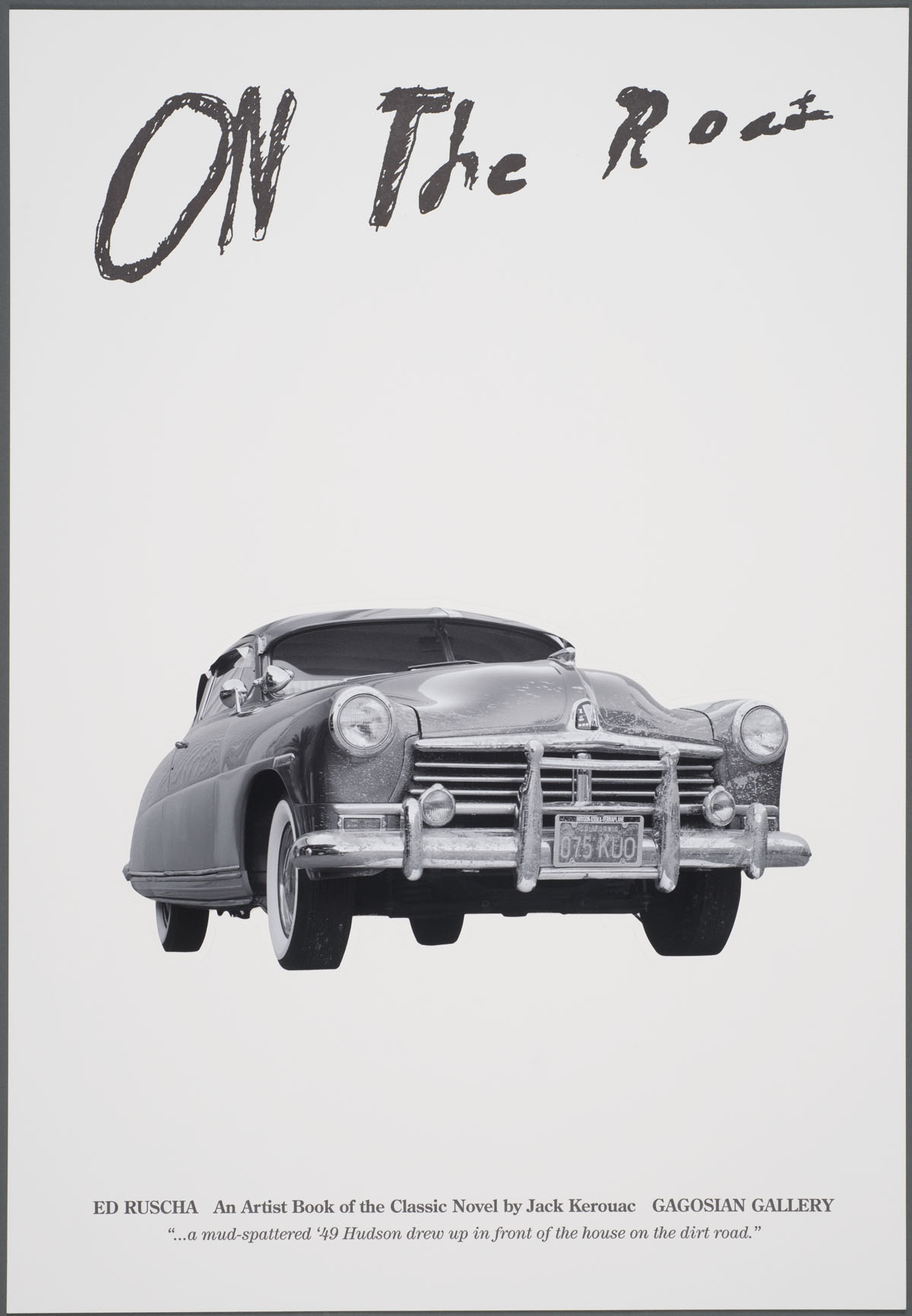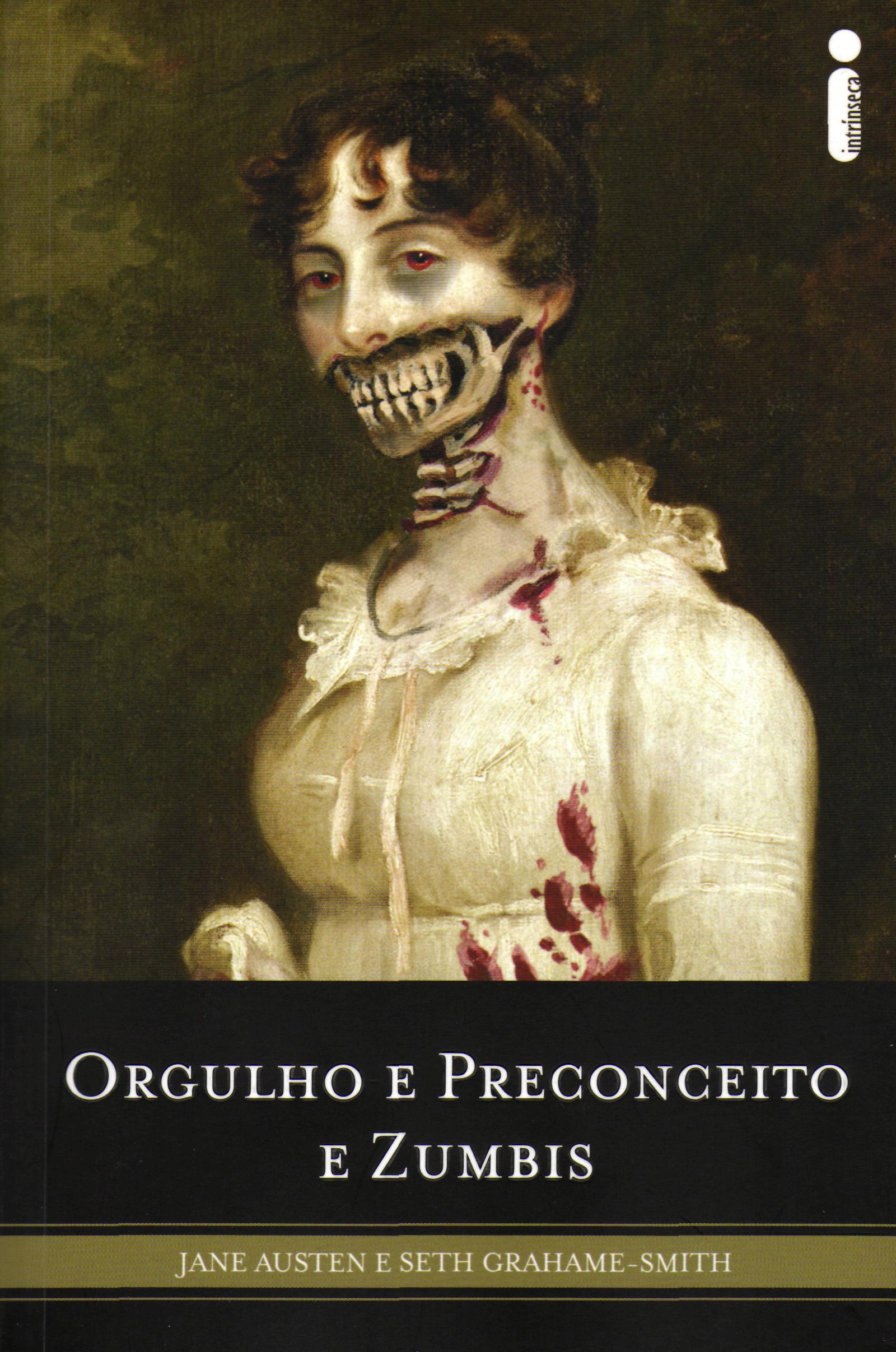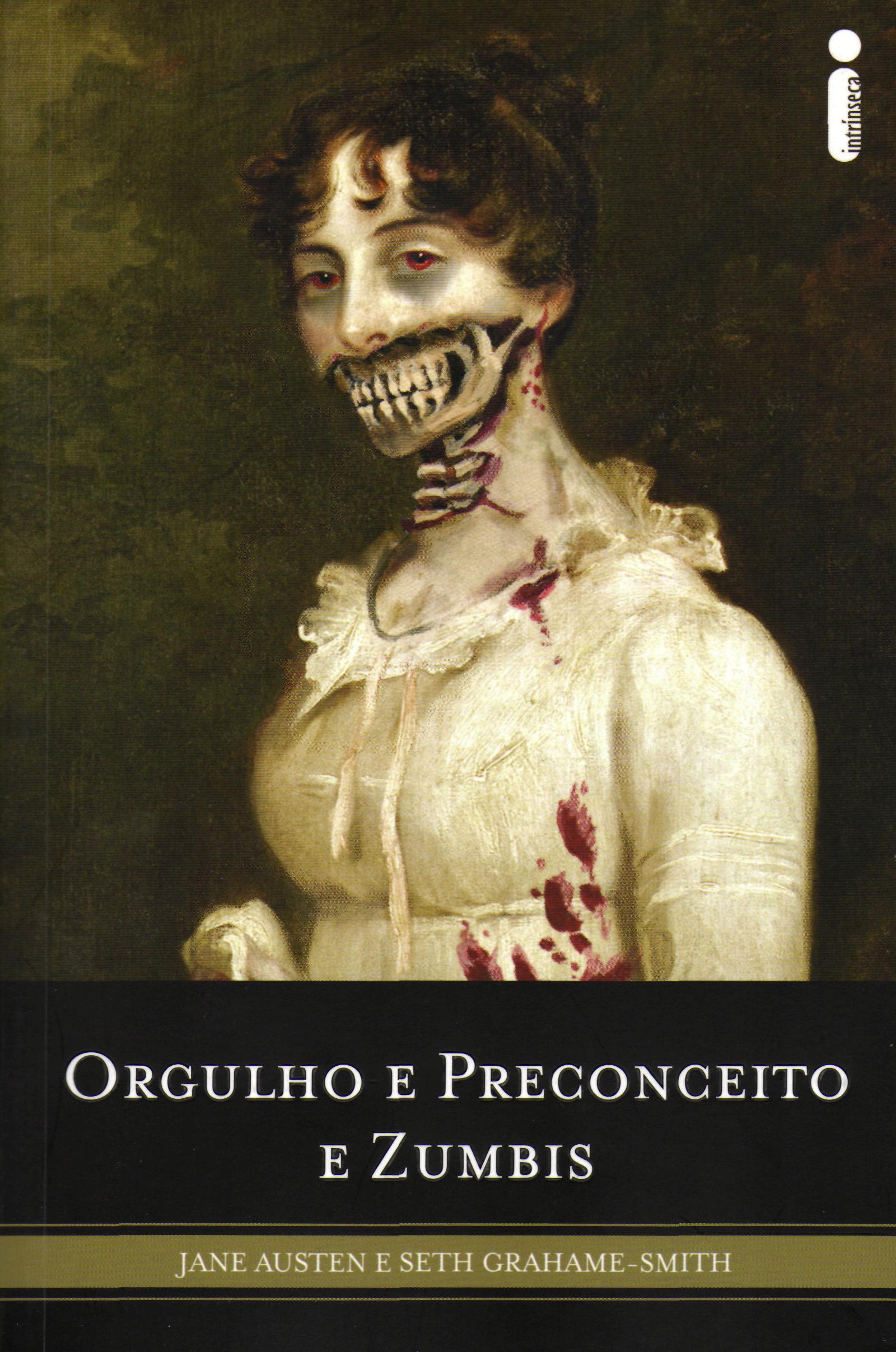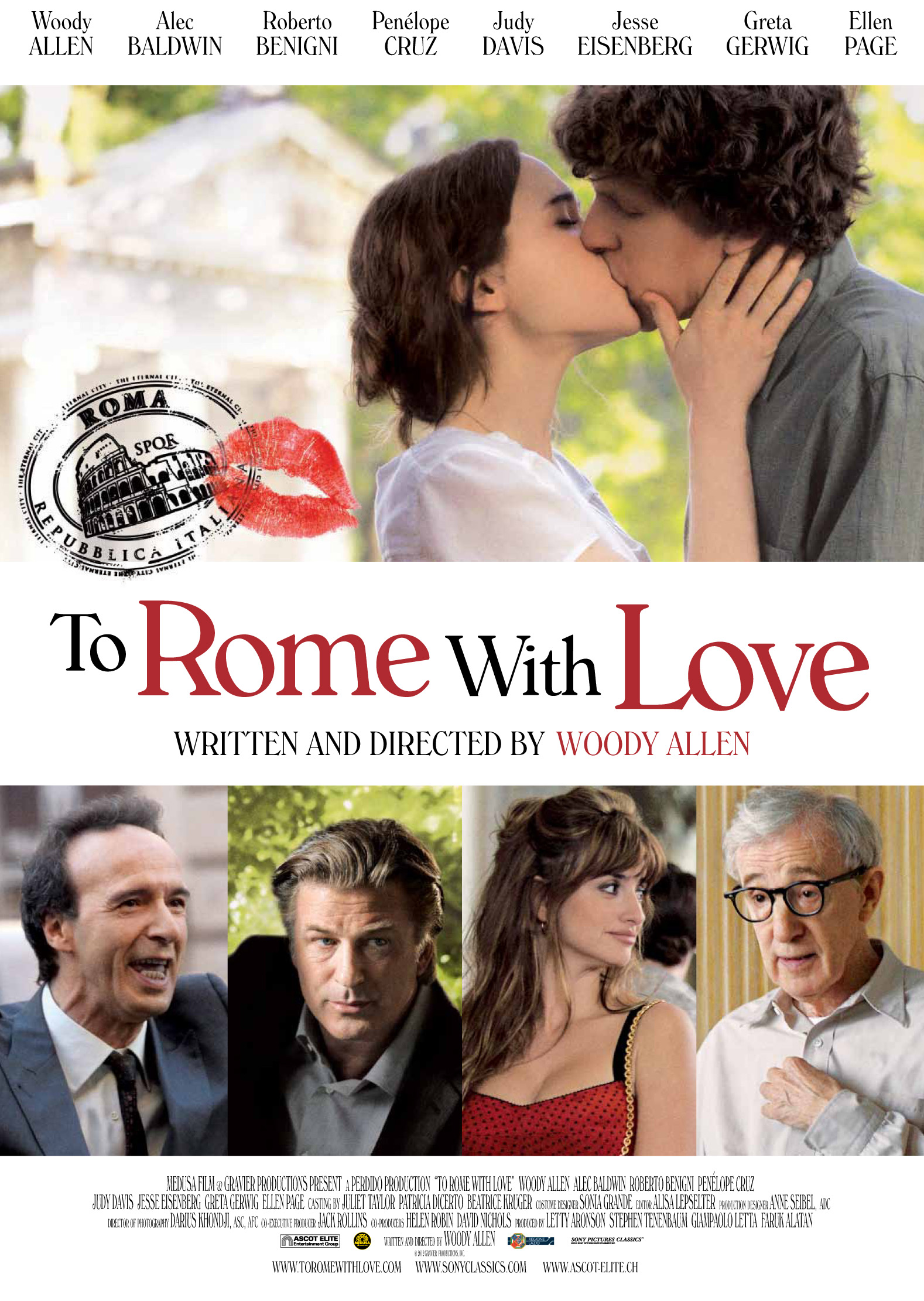Existem jogos que não só marcam momentos de nossas vidas pacatas, como marcam nossas vidas inteiras. Não estou aqui pra falar de um game qualquer. Estou aqui para falar do jogo que fez uma geração inteira pular da cadeira de empolgação, morder a língua e chorar de emoção. Uma geração inteira uma ova! Até hoje vejo gente catando um Nintendo 64 por aí para poder colocar suas mãos nessa belezinha. Sem mais delongas, vamos falar de Zelda: Ocarina of Time!
Em 1998, o quinto jogo da franquia The Legend of Zelda (A Lenda de Zelda, em tradução livre), Ocarina of Time, era lançado para o N64. Trazendo uma épica história de fantasia que revolucionaria os rumos da franquia e o modo como todos os gamers passariam a ver jogos de RPG, Ocarina veio a ser possivelmente o game mais aclamado da geração 32/64 bits. Nada do que vou falar aqui já não foi dito anteriormente por algum outro fã maluco desse duende que fica correndo por aí com uma espada e um escudo nas mãos, mas é uma questão de valores. O game nos trouxe novos valores a serem considerados e que, indubitavelmente, até hoje nos fazem comparar com as gerações mais recentes de videogames.
A premissa do jogo é bem simples: você controla Link, um elfo que reside na Floresta Kokiri, localizada no reino de Hyrule. Certo dia, Link se depara com a missão de salvar o reino de Hyrule das mãos do malévolo Ganondorf, o qual quer obter a todo custo o poder da Triforce, um item poderosíssimo que poderia dar a capacidade de dominar o mundo (para o bem ou para o mal) ao seu possuidor. Tendo sido confiada a responsabilidade de salvar o mundo pela própria princesa Zelda, Link (você) sai em uma jornada em busca das pedras espirituais que vão poder evitar que Ganondorf conquiste a Triforce. Como todo bom RPG, como se não bastasse o herói ter que buscar as pedras espirituais, viajamos para o futuro com a ajuda da fiel companheira Master Sword e nos deparamos com um mundo dominado pela maldade. Salvar o mundo com certeza iria dar um pouco mais de trabalho do que parecia.
Como disse anteriormente, a premissa do jogo é bem simples – o que não quer dizer que é ruim, desaponta ou perde em originalidade. Muito pelo contrário. Somos apresentados a uma história envolvente e com personagens fantásticos. Você é transportado para um mundo de fantasia que te imerge em mais de 30 horas de jogo e que te faz perceber a infinidade de possibilidades de interação com o cenário e os objetos que o compõem. Shigeru Miyamoto, criador de Zelda, Mario e Donkey Kong, é um gênio e Ocarina of Time está aí para comprovar esse fato. E digo gênio mesmo lembrando das centenas de momentos do game que esse japonês malandro nos faz passar e que são difíceis pra burro – além de muitas vezes extremamente irritantes. De qualquer forma, isso não é desculpa pra nenhum gamer e o jogo não perde nem um pouco em beleza por causa disso. Aproveitando o ensejo e falando de beleza, vale dar um destaque importante à trilha sonora do game, que não é nada menos do que incrível. Composta por Koji Kondo, as músicas do game acompanham nossos sentimentos conforme a história vai se desenvolvendo. Mais um ponto para um jogo que simplesmente se tornou uma obra prima.
O game é um action RPG, ou seja, você controla seu personagem livremente durante o jogo inteiro, em contraposição ao games da franquia Final Fantasy, por exemplo, no qual as ações são realizadas em turnos, tal qual um RPG convencional (de livro). Esse fato dá um pouco mais de fluidez às batalhas, já que não tem como prever os movimentos dos inimigos. Dessa forma, cada batalha, cada criatura, cada chefão devem ser estudados meticulosamente para que possamos sair vitoriosos.
Em termos de entretenimento, Ocarina traz muitas boas surpresas. Além de uma quantidade considerável de itens a serem adquiridos ao longo do game (três tipos de roupas, botas, espadas e escudos diferentes, cada um com uma habilidade especial, além de bombas e magias), nosso personagem é detentor da ocarina do tempo, um instrumento musical mágico. Conforme a história vai evoluindo, ganhamos diferentes músicas para serem tocadas nesta ocarina, as quais possuem habilidades únicas e que ajudam nosso herói em momentos diversos do jogo. O game é tão meticuloso com detalhes assim que às vezes é difícil lembrar que temos um certo item (ou uma certa música) que poderá ajudar a resolver determinado puzzle no mapa.
Ah, os puzzles! Se você é um gamer hardcore e gosta de bons desafios, tenho certeza que irá gostar do que Zelda tem a oferecer. Quem já esta acostumado com a franquia já vai conhecer o estilo de desafios que vão surgindo, mas não dispensa o fato de que devemos ser atentos a detalhes. Um buraco na parede pode ser o indicativo de que ela deve ser explodida, por exemplo. Qualquer coisa pode significar um avanço no jogo e qualquer desatenção pode representar um atraso de 20 minutos circulando em um mesmo cenário.
Outro ponto que não envolve questões técnicas, mas que vale ser destacado, são as diversas (e inusitadas) possibilidades que o game apresenta. Se você, assíduo, que se empolgou em poder controlar livremente seu cowboy montando o cavalo em Red Dead Redemption, o que você sente ao saber (ou lembrar) de poder fazer a mesma coisa em Ocarina of Time? Isso mesmo. Após controlar nosso personagem crescido podemos montar em Epona e andar livremente pelo cenário, facilitando a locomoção entre as longas distâncias do mapa (lembrando que trata-se de um game de RPG, ou seja, temos que ir pra lá e pra cá incessantemente por centenas de vezes). Outro destaque não tão importante, mas que vale ser apontado só pelo fato de ilustrar tamanha criatividade dos desenvolvedores do game, é a possibilidade de participar de uma espécie de mini-game de pescaria. Sim, meus caros, você pode brincar de pescaria e ganhar prêmios de acordo com o tamanho do peixe que você consegue fisgar. O mais engraçado de tudo isso é que em um momento como o jogo da pescaria ficamos tão descontraídos que, quando percebemos, nos esquecemos de fazer as missões principais e já perdemos um bom tempo brincando de pegar alguns peixes.
Uma boa notícia para a nova geração de gamers que podem estar lendo esse texto é que Zelda: Ocarina of Time foi relançado para o mais recente console portátil da Nintendo, o 3DS. A história continua a mesma, mas os gráficos foram melhorados e poder ter a experiência desse jogo no portátil deve ser no mínimo interessante.
Não preciso deixar ainda mais claros os motivos pelos quais sou apaixonado por Zelda: Ocarina of Time, não é mesmo? Relembrar é viver e esse game merece estar vivo por toda a eternidade. Se você aí não teve a oportunidade (ou nunca se sentiu realmente interessado) de jogar, só te digo uma coisa: o que você está esperando? Vá salvar Hyrule!
–
Texto de autoria de Pedro Lobato.