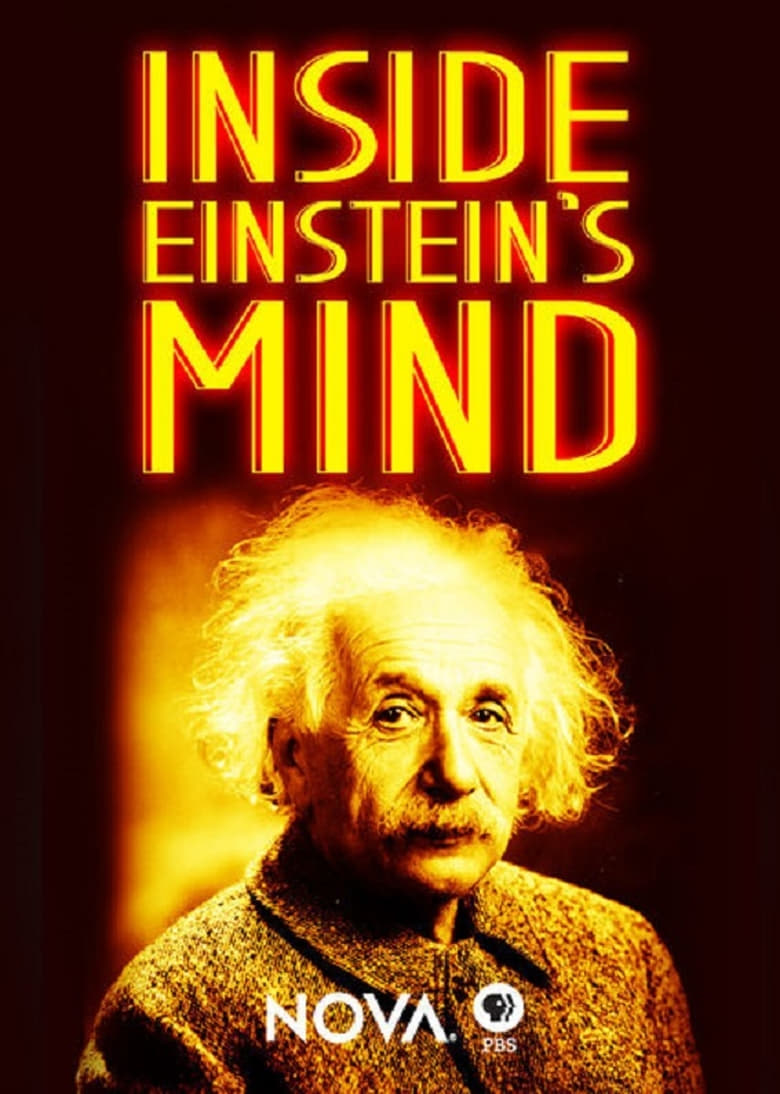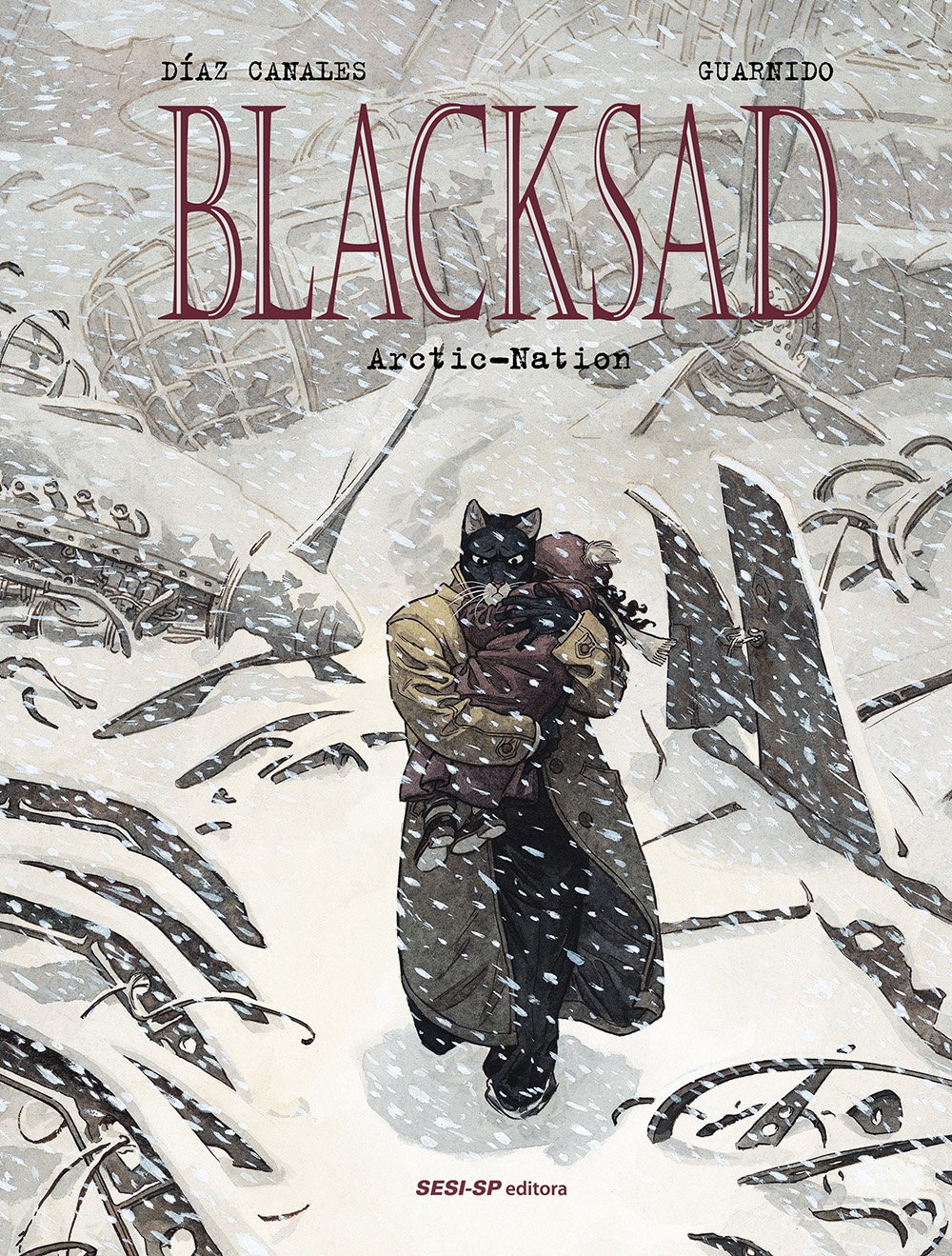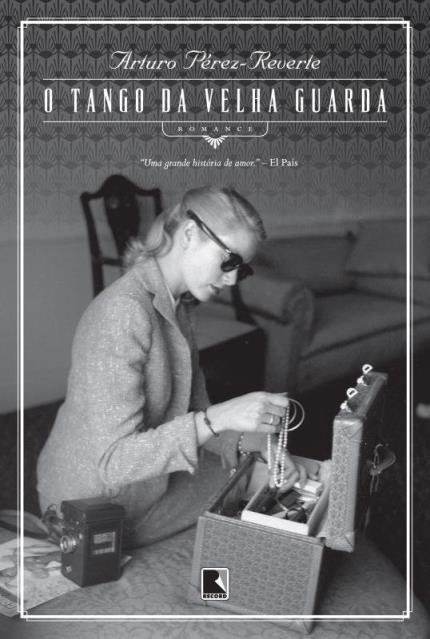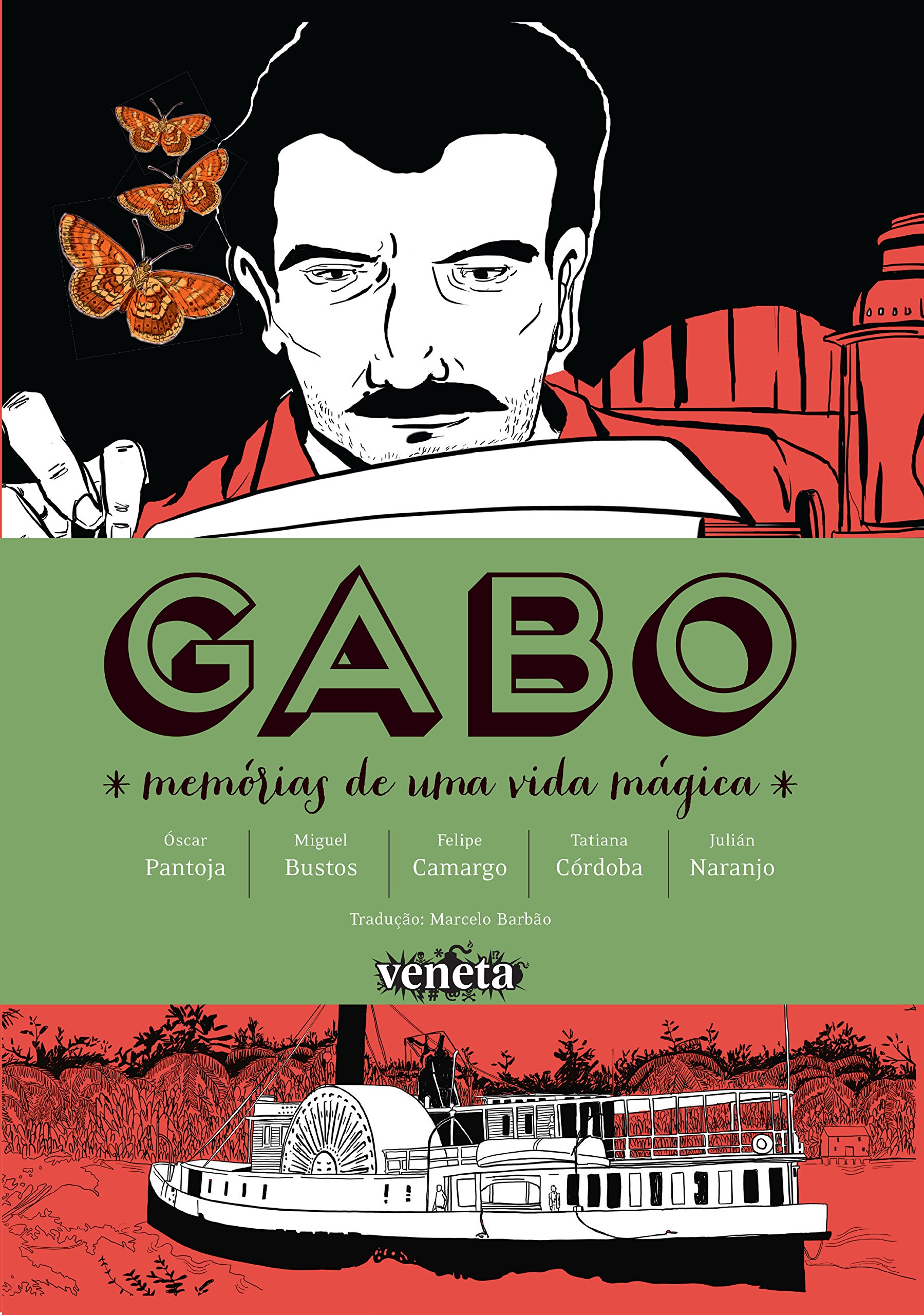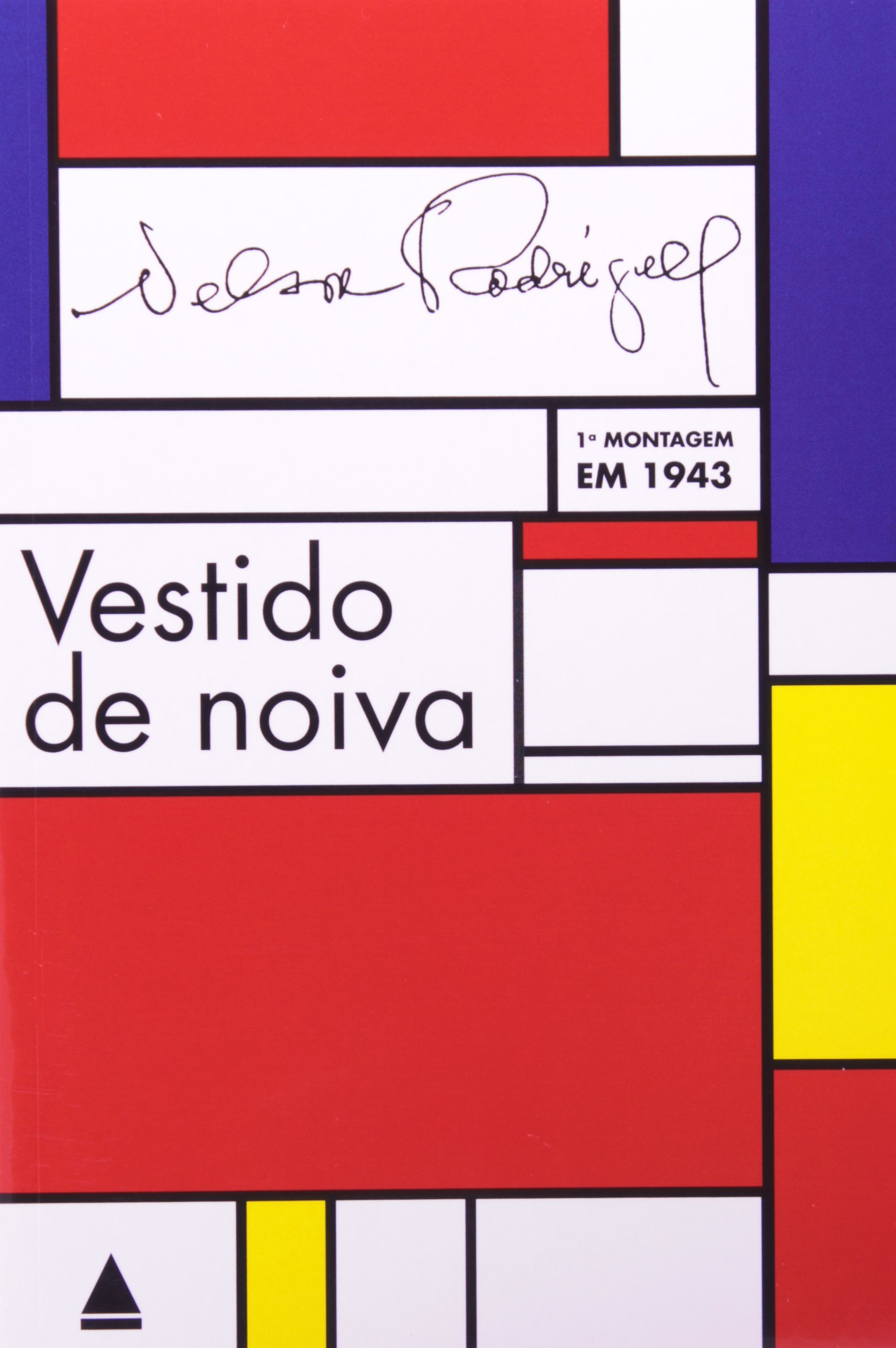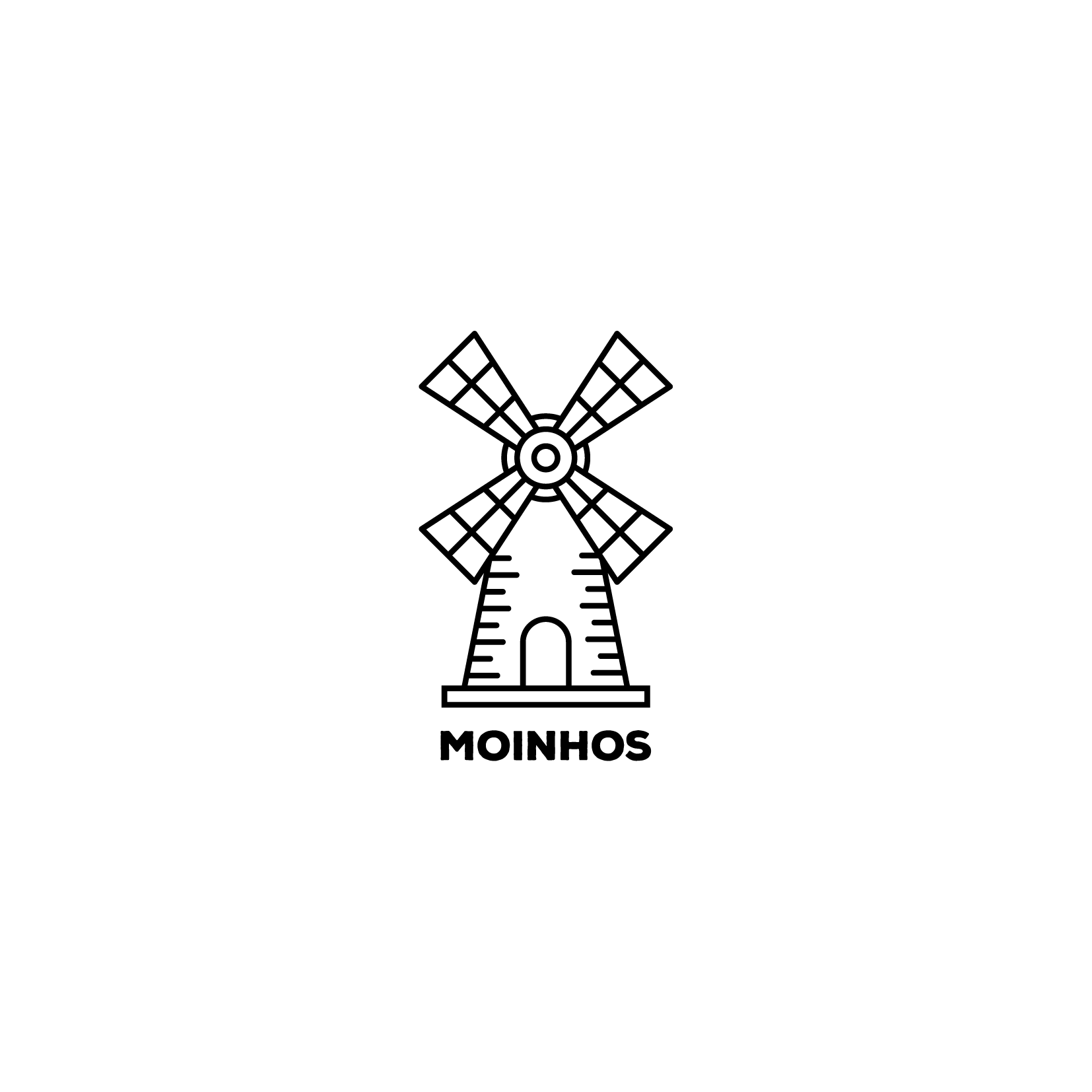
Entrevista com Nathan Matos, da Editora Moinhos.
O mercado literário nacional, assim como o país, passa por um momento de baixa. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), entre 2006 e 2017 o consumo de livros no país perdeu 21% em volume, um total de R$ 1,4 bilhão conforme pesquisa divulgada no meio do ano. Contudo, a crise do mercado não impediu outro fenômeno: as editoras independentes. As pequenas editoras multiplicaram-se pelo país e, cada qual a sua maneira, conseguem sobreviver ofertando títulos que não seriam publicados normalmente por uma grande editora. Para entender mais um pouco desse fenômeno, o Vortex Cultural inaugura uma série de entrevistas com alguns dos editores independentes do país respondendo perguntas sobre o mercado literário atual.
A primeira entrevista é com a editora mineira Moinhos (https://editoramoinhos.com.br). A Moinhos abriu as portas em 2016, atualmente consta com 70 livros no catálogo e, entre seus objetivos, consta o “resgate de grandes clássicos da literatura brasileira e estrangeiras, buscando viabilizar obras ainda inéditas no país”. Capitaneada por Nathan Matos e Camila Araujo, o editor conversa conosco sobre o mercado editorial, as livrarias e as melhores parcerias para editoras independentes, entre outros assuntos. Confira a entrevista completa abaixo.

Vortex Cultural: O mercado literário nacional segue a mesma perspectiva do país e passa por uma fase continuada de crise. Contudo, como explicar o surgimento de editoras independentes, bem como o maior espaço conquistado por elas, entre os leitores?
Nathan Matos: Com a inserção da impressão digital para livros ficou mais fácil e acessível produzir livros em pequenas tiragens. Tendo isso em conta, o que se percebe é que várias editoras independentes vêm surgindo pelo país e prestando variados serviços a quem deseja ter um livro impresso. Quanto ao espaço conquistado, acho que isso é como qualquer empresa, quando se trabalha sério e com objetivos determinados é possível ganhar o espaço onde se está inserido. Editoras como Patuá, Reformatório, Relicário, entre outras, têm conseguido chamar atenção para alguns livros com uma maior saída e chegando também a finais de prêmios reconhecidos nacionalmente. Ainda não acredito que esse espaço é tão amplo assim, porque não acredito que a grande massa leitora leia, realmente, os livros produzidos pelas editoras independentes. Mas devagar e sempre, uma hora a gente chega lá.
Vortex Cultural: A queda do número de livros vendidos parece estar concentrada nas grandes editoras (Companhia, Record e Sextante, principalmente). Isso significa que o modelo de trabalho das grandes editoras está ultrapassado?
Nathan Matos: Não concordo. Desde o último trimestre do ano passado vejo uma queda nas vendas das pequenas editoras. A crise é total. Se algumas pequenas conseguem alguns feitos de vender muitos livros, devemos estudar o caso e analisar o que foi feito em torno do livro e que livro é esse. Entre os amigos e amigas editoras de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, o que tenho sentido, em conversas, é que o faturamento tem caído e que muitos estão repensando os prazos de publicação para alguns livros. Tenho amigos editores que estão com quase 10 livros travados, tentando esperar esse momento tão ruim no país passar (se é que vai passar tão rápido). Dez livros podem parecer pouco, mas para uma editora pequena que, às vezes, precisa publicar para manter um caixa girando é algo bem complicado porque são livros em que a editora acreditou e que tem pressa em ver o investimento retornar. E quando às grandes estarem ultrapassadas, olha, teríamos que analisar o que propriamente. Eu vejo todas essas que você citou e outras, que acompanho, se reinventando sempre, em todas as maneiras, principalmente na divulgação, então não sei bem se está ultrapassado.
Vortex Cultural: Outro grande problema para o mercado é que as grandes livrarias não estão repassando o dinheiro das vendas às editoras. Atualmente, o pior lugar para vender livro é em uma livraria?
Nathan Matos: Se eu pensar apenas no valor que tenho para receber, sim, a livraria é o pior lugar para se vender um livro. E não são apenas as grandes livraria que não tem repassado o dinheiro das vendas. Infelizmente, várias livrarias menores têm atrasado os acertos. E quando o fazem, pedem para parcelar mais do que já está acordado. Então, fica bem difícil acreditarmos que a livraria é o melhor lugar para se vender um livro. Contudo, é importante dizer que isso não é, ainda, algo generalizado, temos várias livrarias pequenas que cumprem com o que prometem, pagam em dias e têm feito trabalhos importantes, visando parcerias com editoras menores, para que lançamentos e outros eventos literárias aconteçam.
Vortex Cultural: Quais são os melhores parceiros para uma editora independente? Influenciadores digitais (booktubers, resenhistas de blogs, perfis de Instagram sobre livros etc) são os melhores aliados para vendas?
Nathan Matos: Os melhores são os que entendem, realmente, o seu modelo de negócio e estão dispostos a ser parceiros. Eu não vejo o menor problema nos influenciadores digitais. Há um problema dantesco no nosso meio, porque ainda se tem o preconceito de que a literatura não deve ser para todos. Isso é fato. Há muita gente no meio que é preconceituosa com vários gêneros literários e até com os leitores e leitoras que alguns livros possam atingir. Acho isso uma tremenda baboseira. A literatura foi feita para toda e qualquer tipo de pessoa. Atualmente esse preconceito está indo até para os que fazem críticas literárias, seja no meio escrito ou com ajuda das redes sociais. Não me importa se você escreve para Folha de São Paulo ou se fala de livros em seu canal do Youtube. Para mim, enquanto editor, tudo é válido, porque o livro vai ser divulgado. Evidente que algumas mídias e alguns críticos vão atingir mais pessoas que outras, mas serão sempre públicos específicos. Há pouco tempo, criou-se um embate nas redes sociais sobre se é válido os influenciadores digitais cobrarem por fazer as leituras críticas. Poxa, se eu parto do entendimento que a pessoa leva aquilo como um trabalho. Sério. Que faz com cuidado, e que, mesmo quando recebe pra fazer uma leitura crítica, vai fazer uma leitura sincera, sem interferência da editora, qual o problema? Essa pessoa também tem conta pra pagar, e ela está trabalhando, o tempo dela é igual ao de todo mundo. Em contraponto, o artista em geral reclama que todo mundo quer sempre lhe pagar com algo que não seja dinheiro. Então por que fazer isso com outros? Na verdade, devemos nos unir e fazer o mesmo. Autores não deveriam participar de eventos sem serem pagos. Nem que fosse algo simbólico, você me entende?
Vortex Cultural: Por vezes as editoras independentes passam uma ideia de maior proximidade com o público que lê seus livros. É no melhor relacionamento com seus leitores que uma editora independente encontra sucesso? Quais outras características destaca como fundamentais?
Nathan Matos: Não sei, tenho achado essa linha cada vez mais tênue e até prejudicial. Por mais profissional que se tente ser numa pequena editora, e devido a essa proximidade, as pessoas tendem a achar que por isso podem lhe desrespeitar por qualquer coisa. Já ouvi histórias em que a primeira reação minha e de quem estava ao redor foi “se fosse editora X ou Y duvido que tivessem agido assim”. E é a verdade. Há muito desrespeito entre as pessoas atualmente. Pode parecer piegas ou nada a ver com sua pergunta, mas, pra mim, tem. Precisamos de mais amor, de mais gentileza. Ninguém é dono de ninguém e ninguém merece ser humilhado. Essa maior proximidade que os pequenos editores possuem com o público deve ser sempre positiva, ou tentar ser sempre positiva. E acredito, sim, que esse relacionamento é importante, porque se consegue responder mais rápido, resolver algumas questões que poderiam ser complicados, comisso seu público fica feliz e até assustado com tamanha atenção que temos com ele e passa a nos olhar de maneira diferente.
Vortex Cultural: Por fim, qual comentário/informação acha pertinente destacar quando tratamos de editoras independentes?
Nathan Matos: Que se você chegou até aqui nessa entrevista, pesquise sobre as pequenas editoras e tente, quando possível, e sempre que possível, comprar algum livro delas.
–
Texto de autoria de José Fontenele.