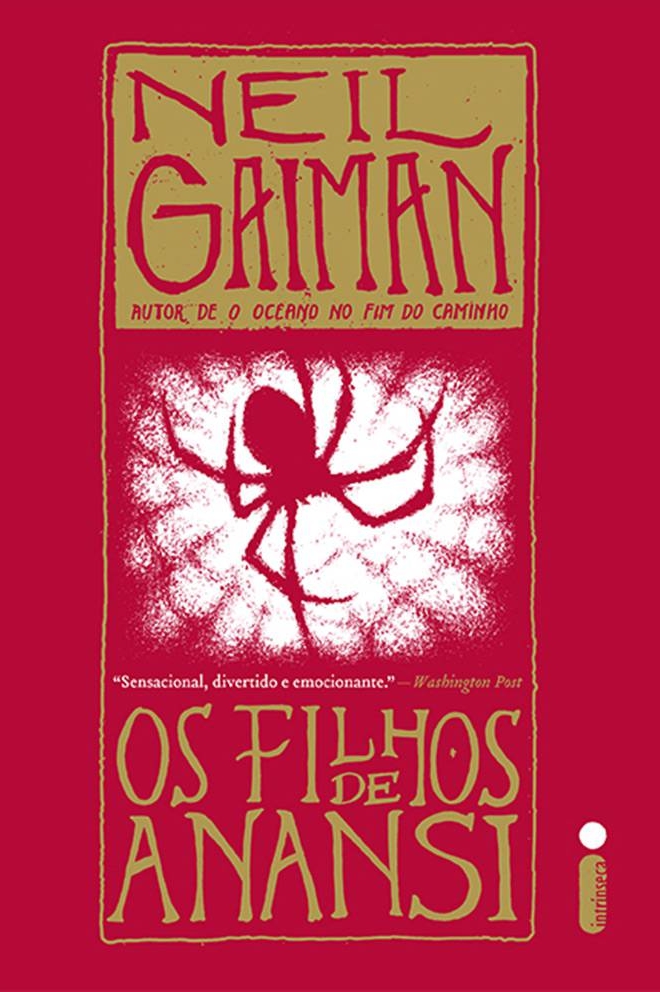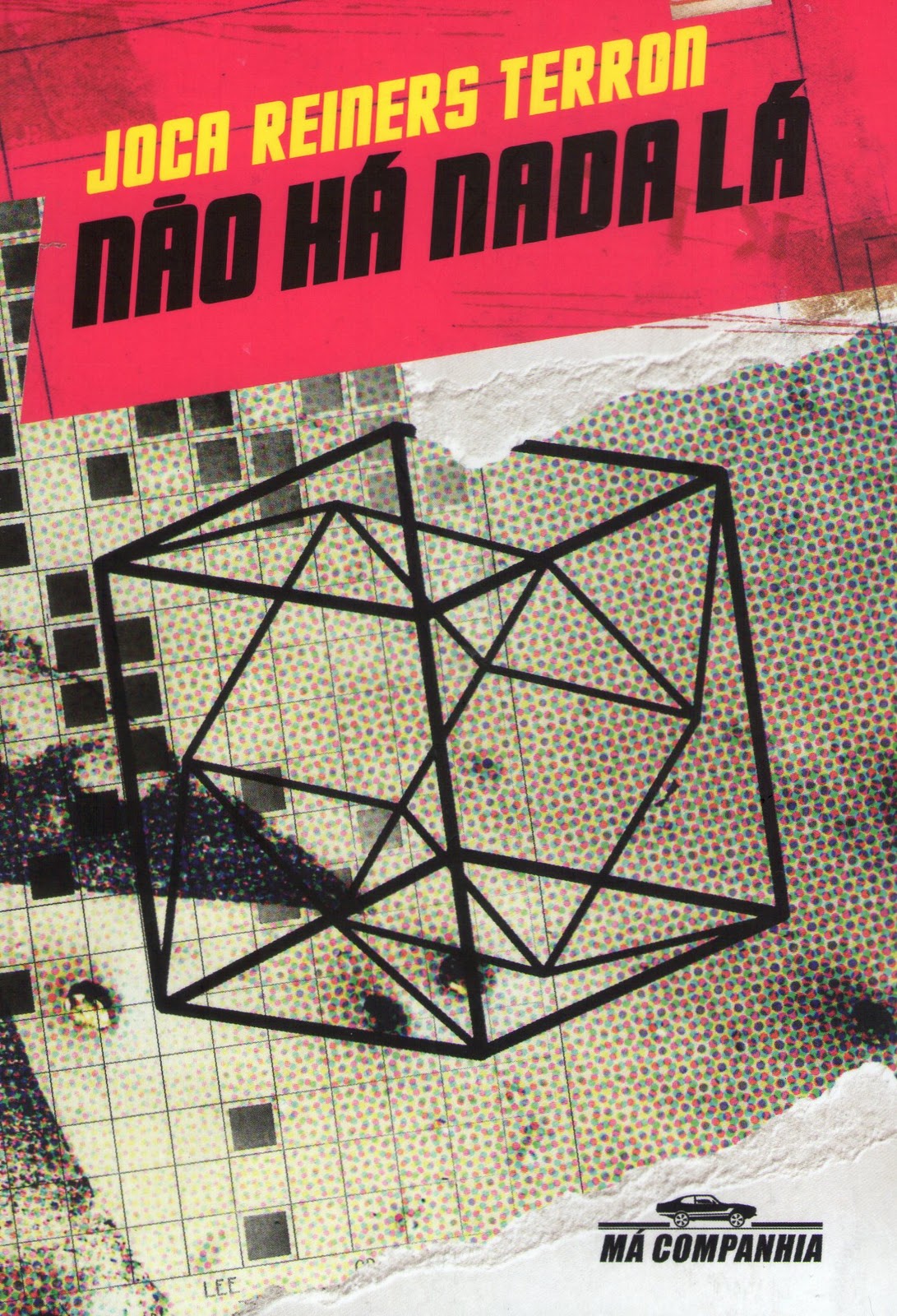Geovani Martins é um jovem escritor nascido em Bangu, onde viveu em meio à comunidade, um Brasil paralelo que vemos em nossas TV’s de LCD, sempre na perspectiva de um Datena ou Bonner, o que faz com que nossa visão desses locais seja ofuscada, partindo de uma perspectiva distanciadora e negativa. Os contos de Martins dão outra perspectiva, ele admite em entrevistas não escrever com o objetivo de mudar a visão das pessoas para com a periferia, contudo, mesmo sem querer, ele consegue. Observando seus contos, muito bem escritos, em uma linguagem oralizada, principalmente no primeiro conto, o que não impede uma leitura leve e instigante, onde temos a impressão visual da história, bem como, já citado, a linguagem, os contos que nos colocam pelos becos das favelas devem ser lidos em voz alta, devem ser imaginados como se de fato estivéssemos lá, uma espécie de ensaio de imanência. Essa atitude nos faz, apesar de meros observadores dos contos, sentir que ali é assim que funciona, é assim que é, e não há muitas escolhas. Assim como no nosso mundo, ou em qualquer outro, o nosso mundo de asfalto, temos posições sociais a almejar, degraus a galgar para o sucesso, não é diferente lá, não são valores diferentes, apenas o conjunto sociocultural tem outro topo, tem outros caminhos para isso, o status social é tão importante quanto em qualquer cultura.
Não há conto melhor que o outro, mas dependendo do que queremos ver podemos elencar alguns, como o primeiro, que esse, mais que os outros, deve ser lido em voz alta. Ele é em uma linguagem que não parece português, aliás, as palavras são em português, ou variações de palavras originárias, mas que perderam o sentido que damos comumente a elas, e muitas vezes não conseguimos pegar o fio que liga o significado anterior ao novo, gírias regionais, até mesmo microrregionais, só usadas naquele pequeno espaço de algumas quadras. Há uma real dificuldade na leitura desse conto, contudo, ele tem um fluxo interessante, de uma introspecção muito boa, é o simples relato de um dia de sol na praia.
Outro conto narra a trajetória de uma noite de um pichador. Recém-pai, sempre pensando em seu filho Raul, quer largar a aventura, mas é impelido socialmente para isso, como se o encaixe de sua existência estivesse ali. A importância dessa narrativa é que se acompanhamos as noticias dos últimos 3 ou 4 anos lembraremos do caso de um pichador assassinado pela polícia em um prédio. Desse pichador ficaram resquícios de sua história nas redes, e é nítida a reação entre a notícia da mídia e o conto criado.
Os contos em sua maioria deixam transparecer uma rotina pré-fixada, onde a maioria das crianças não têm a figura do pai, quando realizarão algo que pode afetar seu futuro invariavelmente pensam na mãe, que seu futuro não é uma questão de um leque de caminhos que se abre, mas alguns caminhos, sendo os melhores relacionados ao tráfico, onde maconha é algo comum e cocaína é a renda da favela, pois quem compra é a classe média que pode sustentar, e com esse dinheiro que entra é possível promover melhorias na comunidade, e por mais estranho e aparentemente contraditória que isso possa parecer, é o que é, e é o único meio no momento em que as pessoas das comunidades que circundam o tráfico de drogas podem sobreviver. O estado não penetra nesses lugares como estrutura de poder e de recursos para a integração com o asfalto, o único tentáculo do estado que chega é o da polícia, e a única politica vista por essas pessoas são algumas cestas básicas distribuídas em anos eleitorais.
Compre: O Sol na Cabeça – Geovani Martins.
–
Texto de autoria de Róbison Santos (Críticas de Livros).


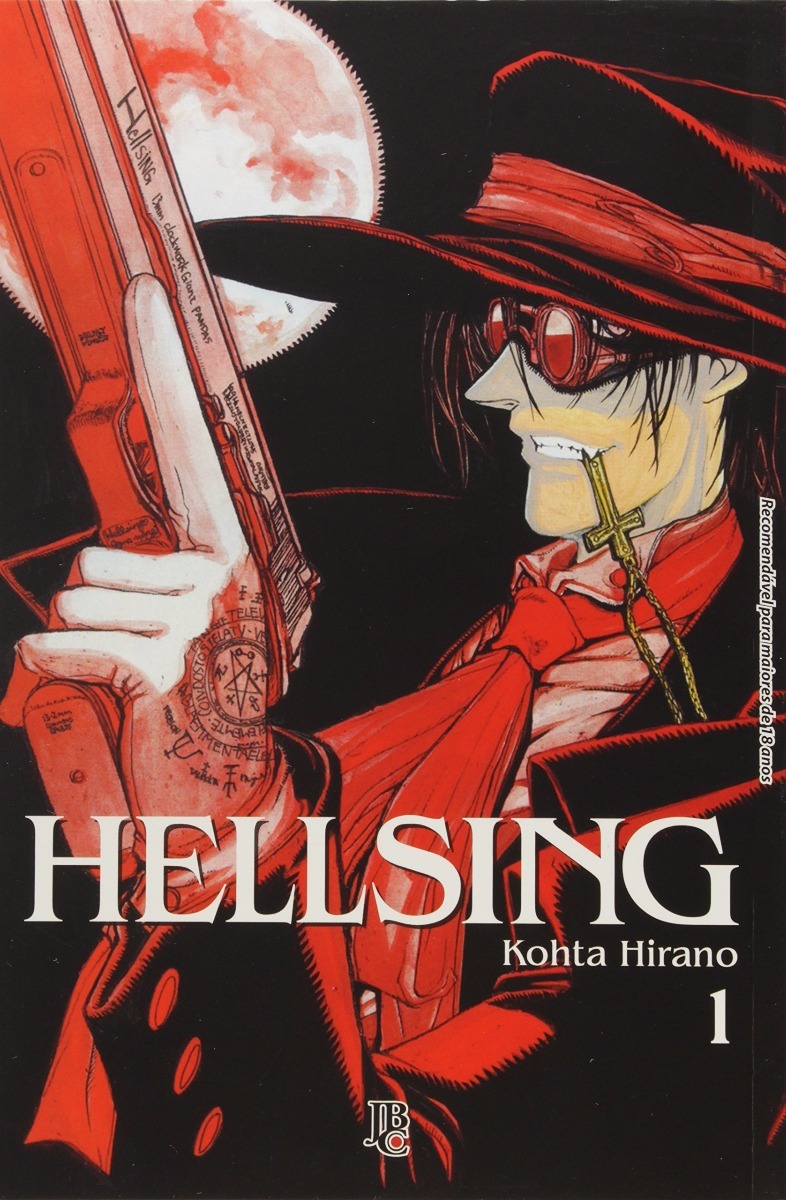








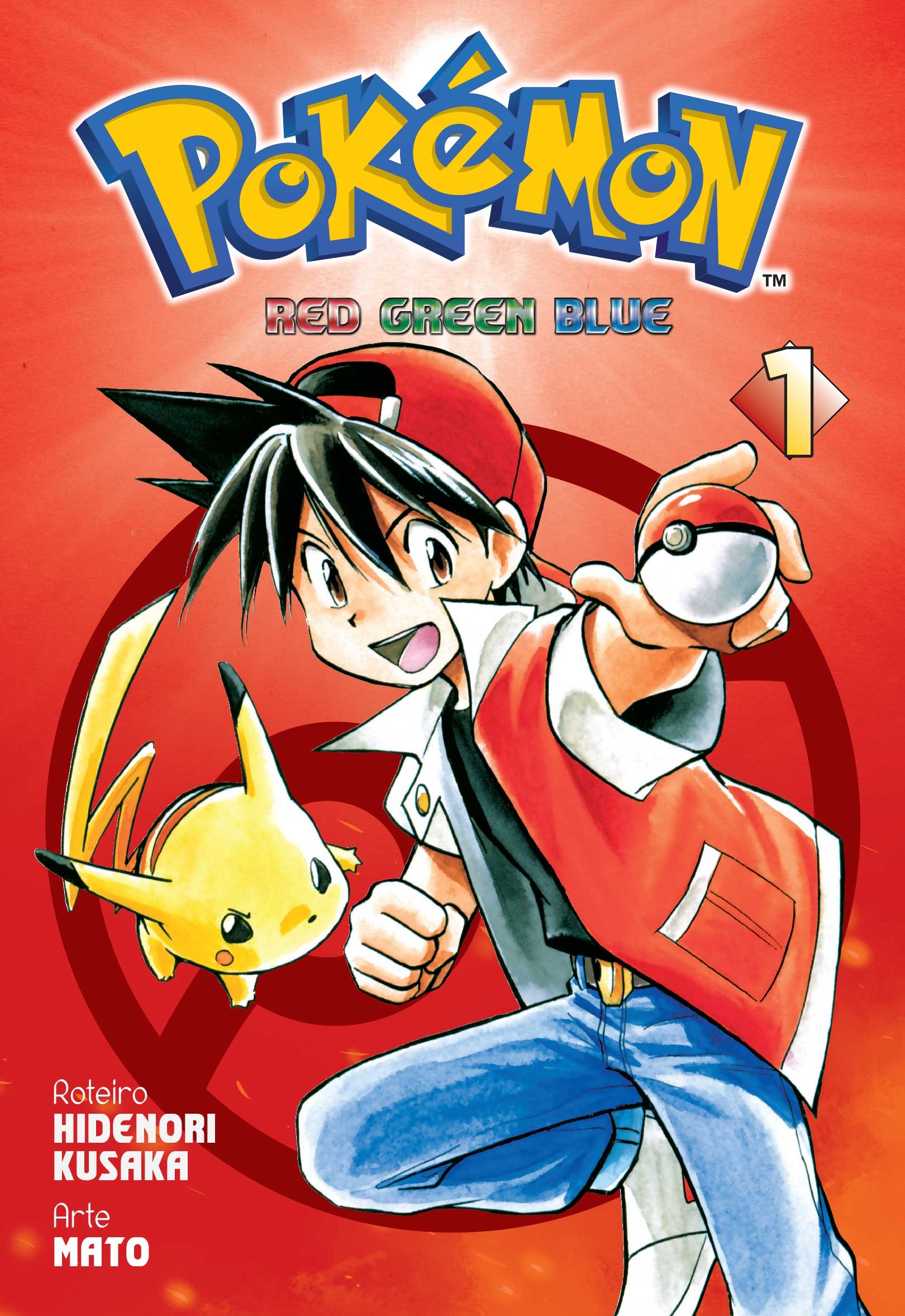









 Neil Gaiman tem seu lugar assegurado em torno da fogueira dos grandes contadores de histórias. Não é de hoje que o autor britânico, erradicado nos Estados Unidos, desvenda os cosmos mitológicos ao redor do globo. Tudo ganhou forma com Sandman, onde ele usou inspirações de várias mitologias para criar uma própria ao redor dos perpétuos e seus reinos; depois, povoou alguns de seus livros, como
Neil Gaiman tem seu lugar assegurado em torno da fogueira dos grandes contadores de histórias. Não é de hoje que o autor britânico, erradicado nos Estados Unidos, desvenda os cosmos mitológicos ao redor do globo. Tudo ganhou forma com Sandman, onde ele usou inspirações de várias mitologias para criar uma própria ao redor dos perpétuos e seus reinos; depois, povoou alguns de seus livros, como