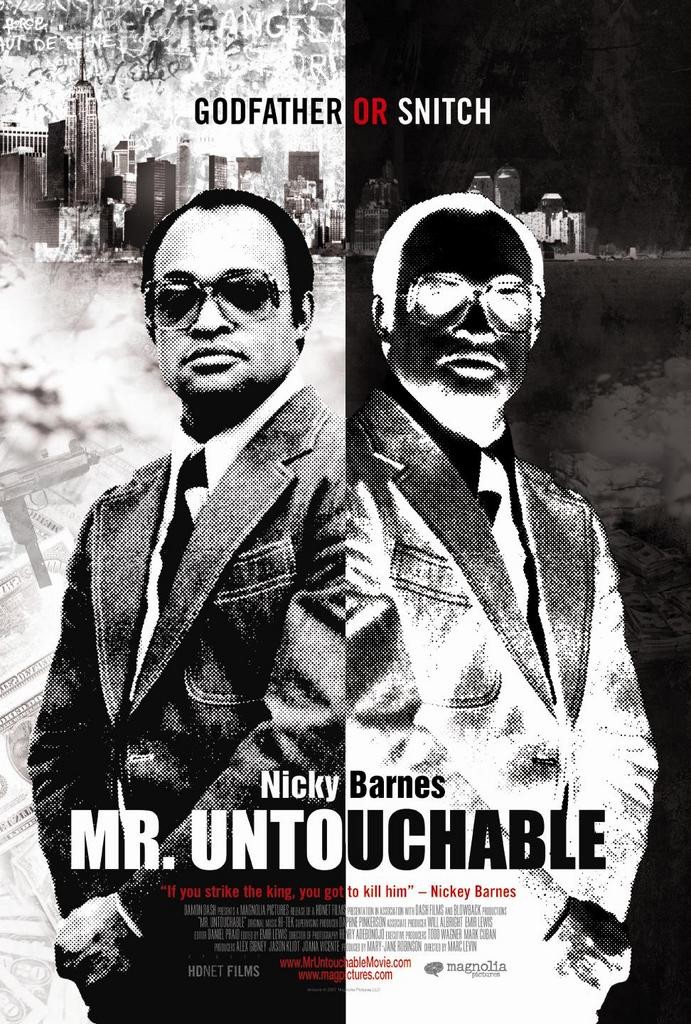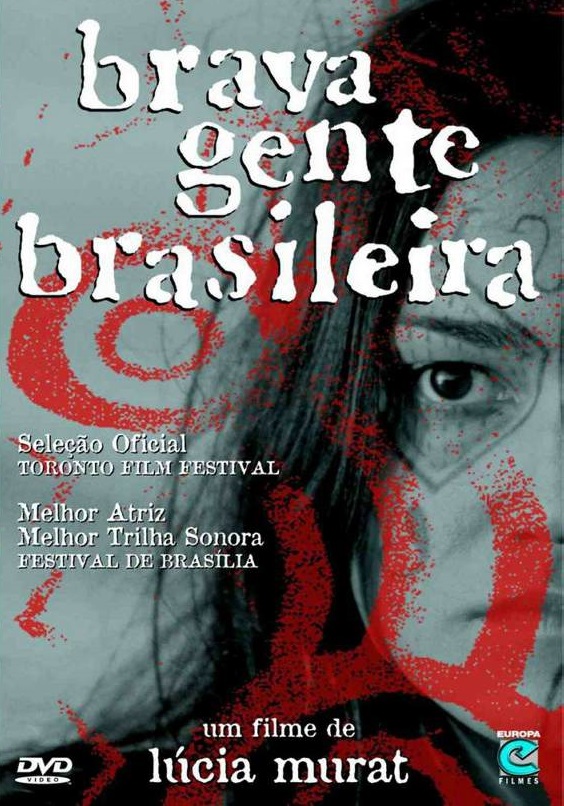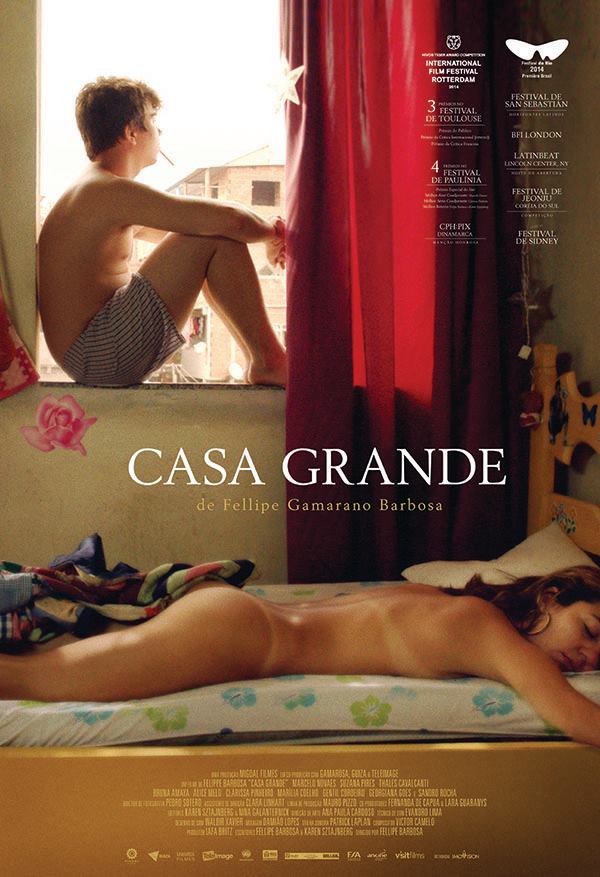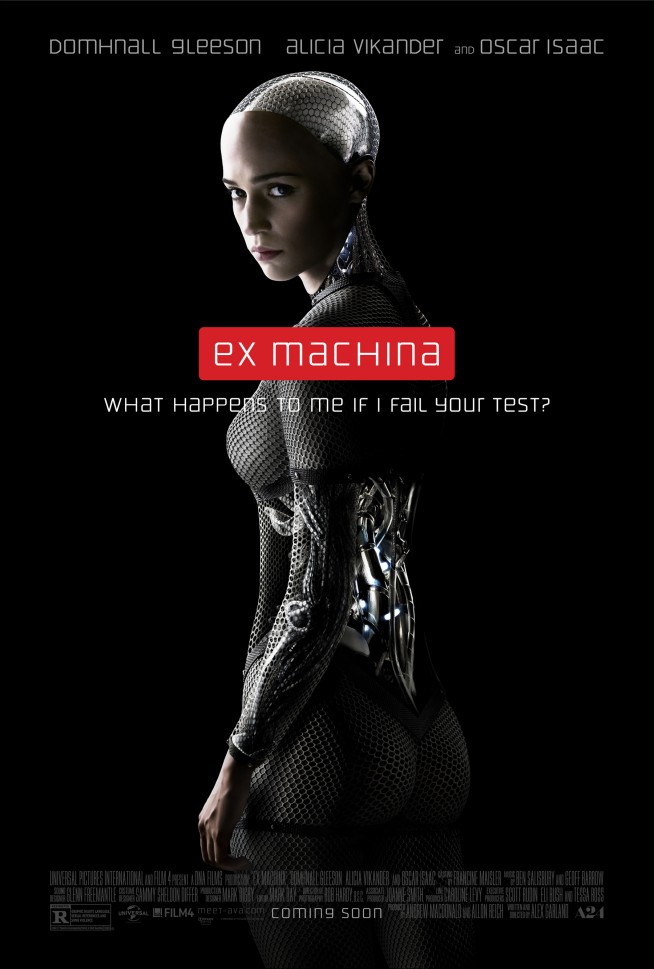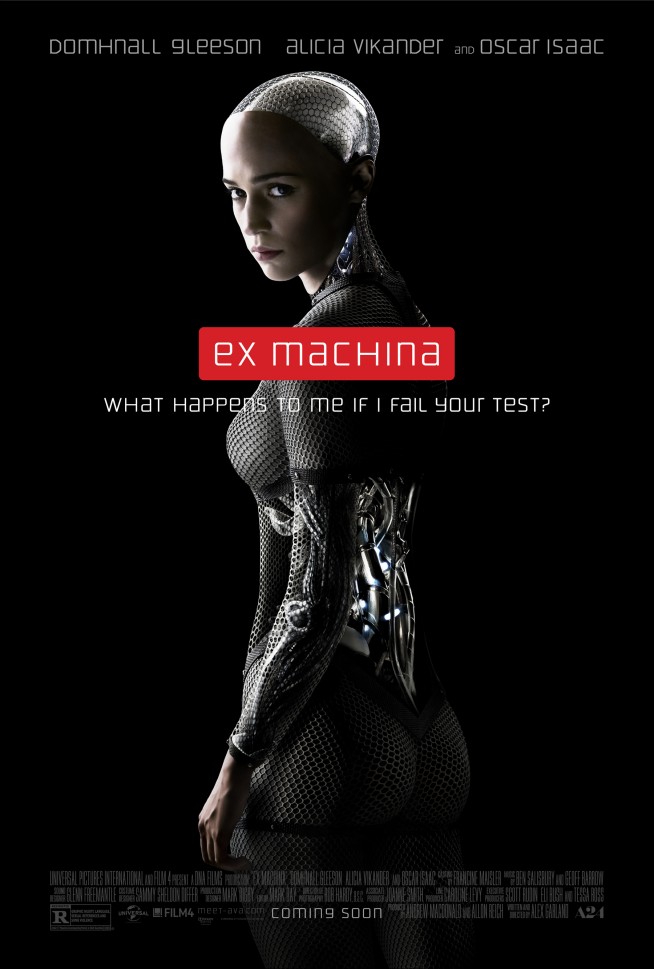Em uma temporada repleta de filmes de grandes franquias e personagens, como Vingadores – A Era de Ultron, Mad Max – Estrada da Fúria e Jurassic World, o “pequeno” Homem-Formiga (do diretor Peyton Reed) veio para buscar seu lugar ao sol junto dos grandes nomes e, mais uma vez, a Marvel conseguiu.
O grande trunfo da Marvel Studios não é ter um imenso catálogo de personagens para fazer centenas de filmes e angariar milhões de dólares de pessoas do mundo todo. O grande trunfo da empresa é ter acesso a esse imenso catálogo e não apenas escolher com atenção os seus personagens, mas dar um tratamento carinhoso na inserção deles em um universo cinematográfico que vai muito além dos olhos dos leitores de quadrinhos, mas de um público muito mais amplo.
Assim foi feito com Guardiões da Galáxia, uma equipe não muito convencional de heróis e pouco conhecida que mostrou ter muito mais potencial que os personagens mais mainstream como o Homem de Ferro ou Thor (ainda mais levando em consideração a qualidade duvidosa de Homem de Ferro 3 e Thor: O Mundo Sombrio). Muito mais do que mostrar potencial, conseguiu ser um dos melhores filmes – talvez o melhor – da Marvel Studios.
Dessa vez acompanhamos Scott Lang (Paul Rudd), um engenheiro elétrico que acaba de sair da cadeia após cumprir pena por ter cometido um crime contra uma grande corporação. Tendo dificuldades para achar um novo emprego e de se aproximar de sua filha, Scott resolve roubar a casa de um milionário aposentado, Hank Pym (Michael Douglas). Porém, depois que o roubo foi um fracasso, Scott descobre que tudo fazia parte de um plano do Dr. Pym para que ele se tornasse o Homem-Formiga. A intenção do Dr. Pym era que Scott, utilizando-se dos poderes de Homem-Formiga (poder se reduzir a um tamanho muito pequeno, porém tendo força de um humano normal) pudesse invadir o laboratório de Darren Cross (Corey Stoll) com intuito de evitar que uma poderosa arma caia em mãos erradas.
A primeira coisa a se dizer é que Paul Rudd foi uma escolha certeira. O ator se mostrou muito à vontade com o papel de Scott Lang passando o mesmo sentimento para o espectador. A sensação é a de que Paul Rudd já fosse o Homem-Formiga há muito tempo e todos já estivéssemos acostumados com isso. Sentimento semelhante quando vemos Robert Downey Jr. e o associamos diretamente ao Tony Stark.
Evangeline Lilly e Michael Douglas também se destacam, não de uma forma tão expressiva quanto Rudd, porém são marcos positivos no filme. Corey Stoll, por outro lado, não impressiona como vilão, não demonstrando muito carisma ou inovação em sua atuação.
O filme é recheado de diversos momentos de bom humor, marca já registrada nos filmes da Marvel, mas sem forçar ao pastelão. Inclusive, o humor é frequente, principalmente quando o personagem diminui de tamanho em suas primeiras vezes e ainda está acostumando com os poderes que a roupa lhe confere. Diga-se de passagem, as cenas de ação envolvendo a diminuição e aumento de tamanho são dinâmicas e bem trabalhadas, dando uma nova dimensão ao uso do 3D no enquadramento e profundidade dos planos nas cenas de ação.
O roteiro do filme é bastante agradável e mantém um bom ritmo. O grande trunfo aqui é o clima de “filme de roubo” empregado pela narrativa, como na versão de 2001 de Onze Homens e um Segredo, por exemplo, porém envolvendo heróis Marvel. Considerando o tom de bom humor da obra, isso ajuda em muitas cenas que envolvem o roubo propriamente dito, como a que Scott tem que invadir a base dos Vingadores, para pegar um dispositivo, e acaba enfrentando o Falcão.
As referências ao passado, presente e futuro do universo Marvel são incontáveis durante o filme, além das duas cenas extras pós-créditos que ele apresenta. Temos referências aos Vingadores, ao seriado Agent Carter e, o que mais chama atenção, ao Homem-Aranha. Prato cheio para aqueles que gostam de procurar pelas pequenas nuances nesse gênero de filme.
Apesar de extremamente divertido, o filme possui defeitos na condução da narrativa, que acaba se tornando bem lenta no primeiro ato, engrenando apenas posteriormente. Isso sem falar nas dificuldades de apresentação de alguns personagens, como o passado de Scott ou do próprio vilão Cross, de modo a não conferir tanta profundidade nos personagens, tornando vazias suas motivações.
Apesar de pequenas falhas, o filme continua sendo divertido, ganhando um posto de destaque como um bom filme de super-herói. Além disso, Homem-Formiga consegue abrir um sorriso sincero em fãs de quadrinhos, no público geral e em toda pessoa que pensa nas centenas de milhares de possibilidades nesse universo tão rico que a Marvel Studios criou nos cinemas. Agora basta acreditar em mais do que há por vir. Bem-vindo ao hall dos “grandões”, Scott.
–
Texto de autoria de Pedro Lobato.