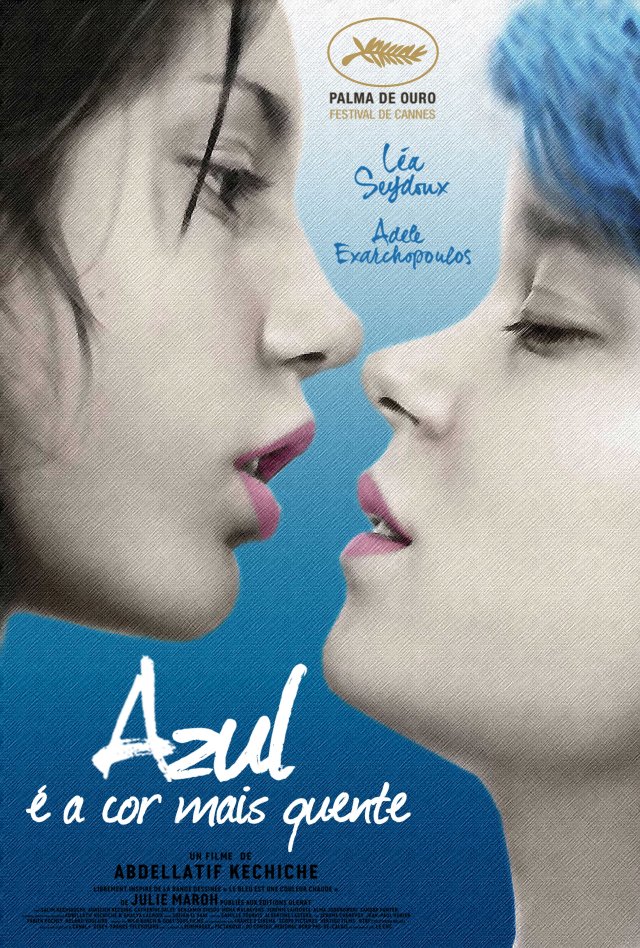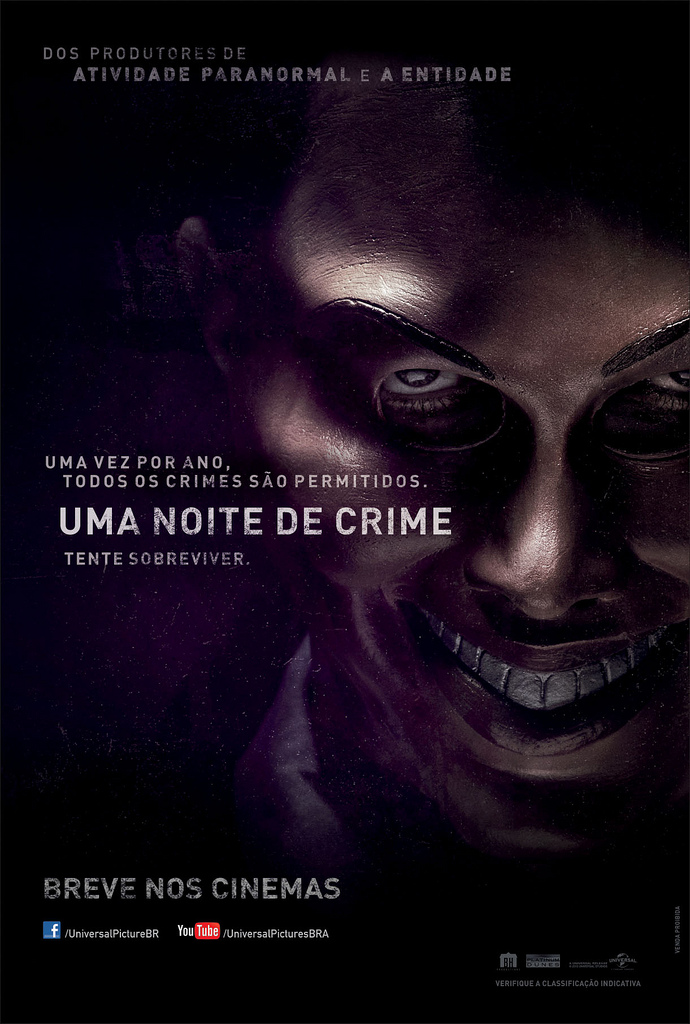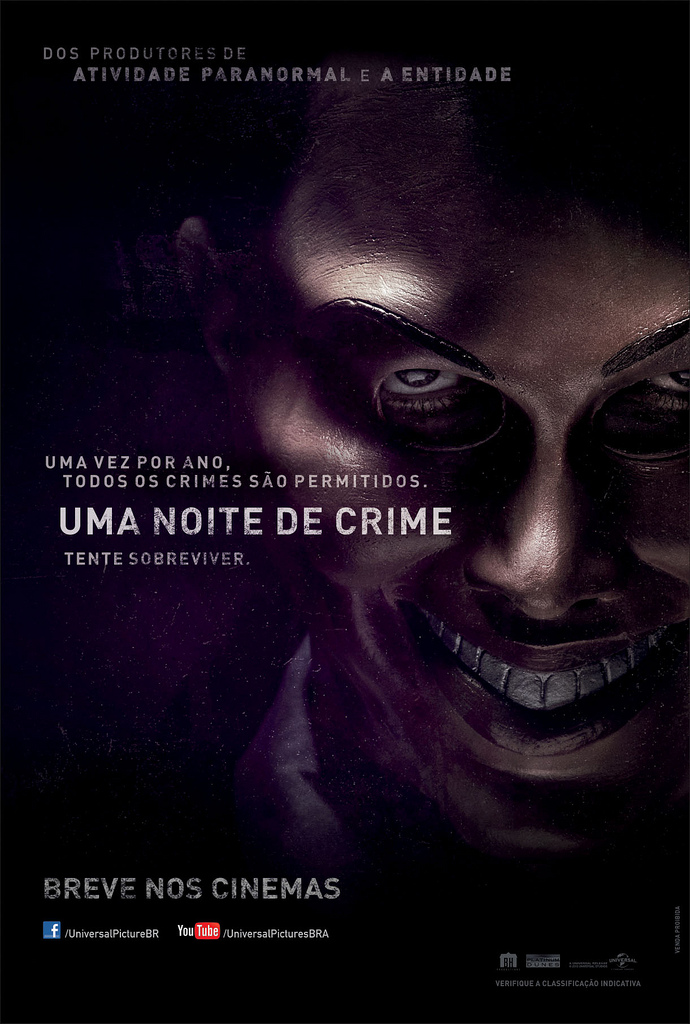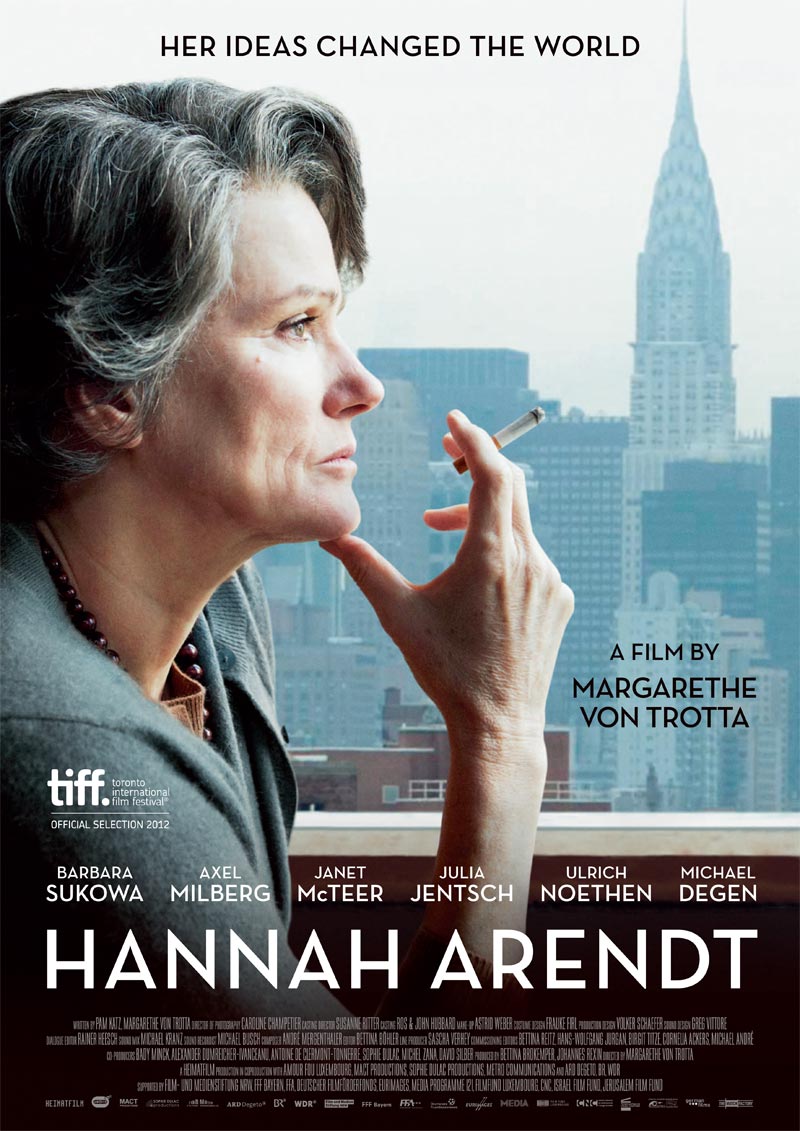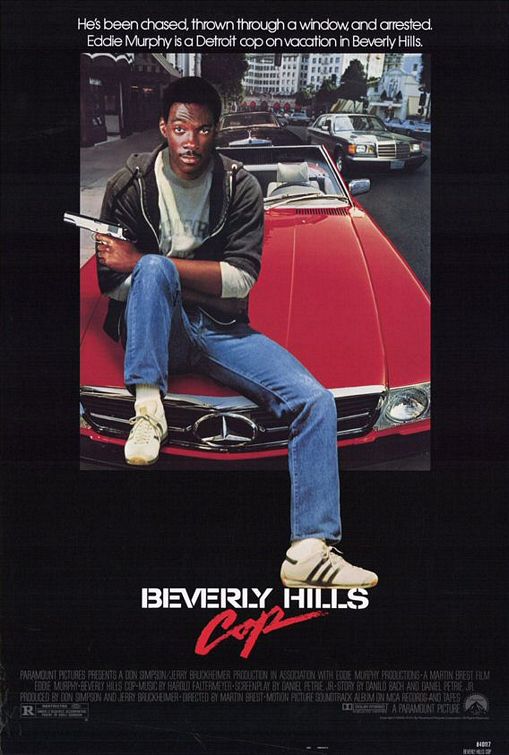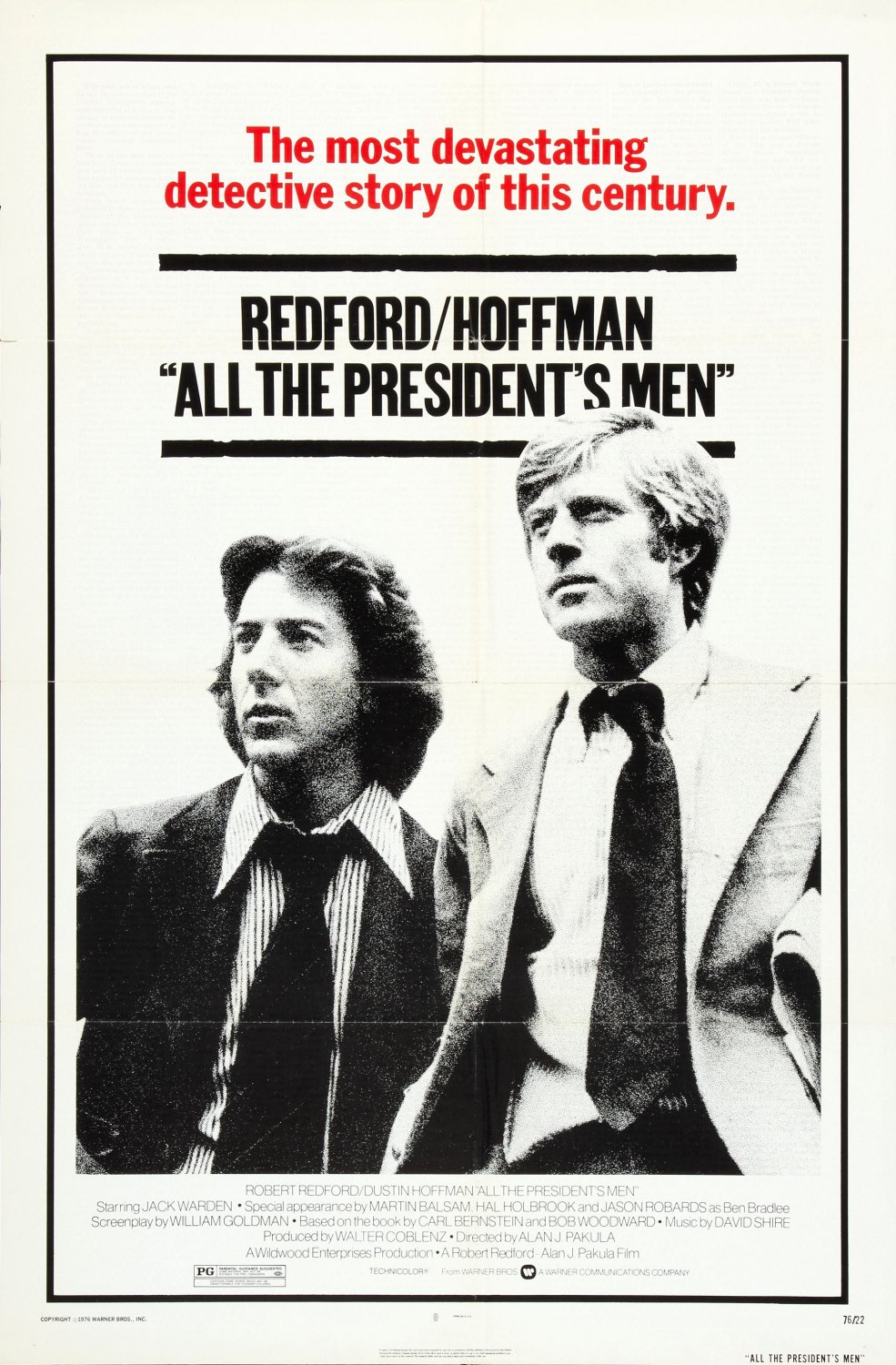Um suicídio de um homem abala o marinheiro Marco Silvestri (Vincent Lindon) por múltiplas razões: por ele ser seu amigo desde a época da escola naval, além de esposo de sua irmã, e claro, pelas circunstâncias misteriosas que o levaram a este triste fim. Como o cinema francês tende a se apresentar, Les Salauds não contém prelúdio ou introdução. O espectador já é jogado na trama logo de cara.
O marítimo é obrigado a desembarcar para resolver as questões relacionadas ao acontecimento, mas acaba se envolvendo numa cadeia de eventos caóticos que intrigam o espectador pela aura misteriosa. Há um questionamento dos motivos que levaram o suicida a tomar a drástica atitude e, com o desenrolar dos fatos, Marco percebe que as pessoas próximas não lhe foram totalmente sinceras.
O roteiro conta uma história deveras fragmentada, com uma porção de assuntos controversos. Ainda que haja uma linha em comum que os une, esta é explorada de forma bastante inusual, o que não seria um problema, mas se torna quando perde-se a ligação entre os acontecimentos na maior parte da exibição. Os signos, os insights e a maioria das situações passam batidas, com pouco ou nenhum significado nas entrelinhas, mesmo com o caráter lúdico de inúmeras cenas.
Há um pequeno desenvolvimento dos personagens, o que poderia significar a vontade da realizadora em transmitir uma (forçada) universalidade, porém a intenção peca nesse sentido, visto que as situações tragicômicas exploradas pelo roteiro pouco têm coerência ou geram empatia. O guião de Jean-Pol Fargeau e Claire Denis tenta apresentar uma falsa sofisticação, apelando pra absurdos e fatos singulares a fim de sensibilizar, por meio de eventos-chave sensacionais, quem vê os acontecimentos e relatos chocantes. Tais recursos pouco querem dizer, estão lá unicamente para polemizar, sendo o efeito de reflexão muito pequeno. Salvos bons movimentos de câmera, com planos em primeira pessoa em que Marco adentra o submundo da cidade, os méritos do realizador não são muitos até os 20 minutos finais.
Os últimos momentos de exibição guardam algumas reviravoltas, e, por mais contraditório que isto pareça, tais fatos são absolutamente previsíveis. Claire Denis traz à luz um filme confuso e indeciso para a história que quer contar, e, apesar de honesto, peca por sua pretensão. Os maneirismos que são propostos, em vez de acrescentarem à trama, soam presunçosos e jogam uma cortina de fumaça em uma realização deveras equivocada. No entanto, Bastardos não é um perda de tempo completa, graças aos planos de filmagem. No restante, pouco acrescenta.