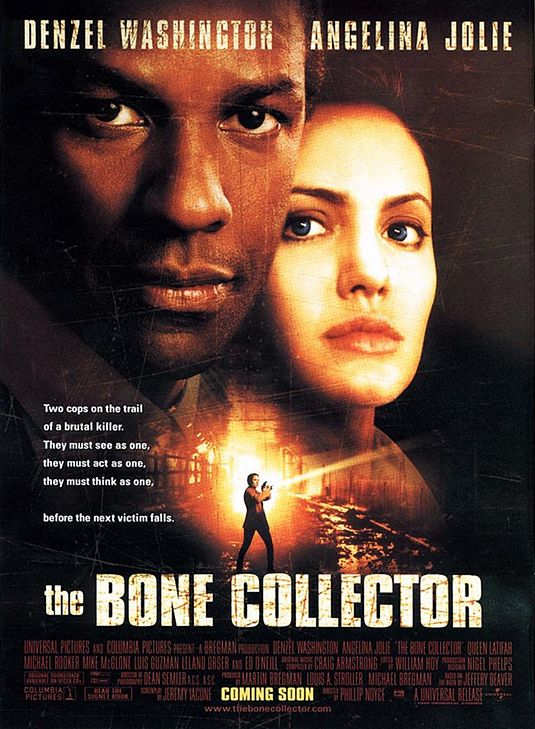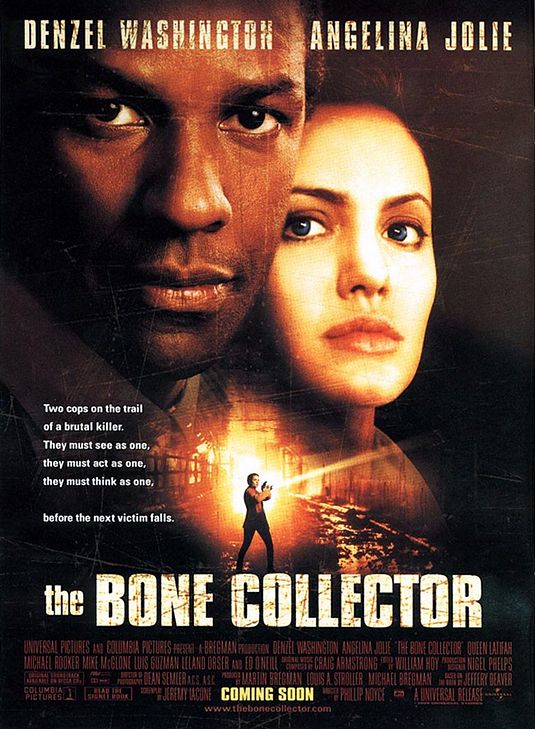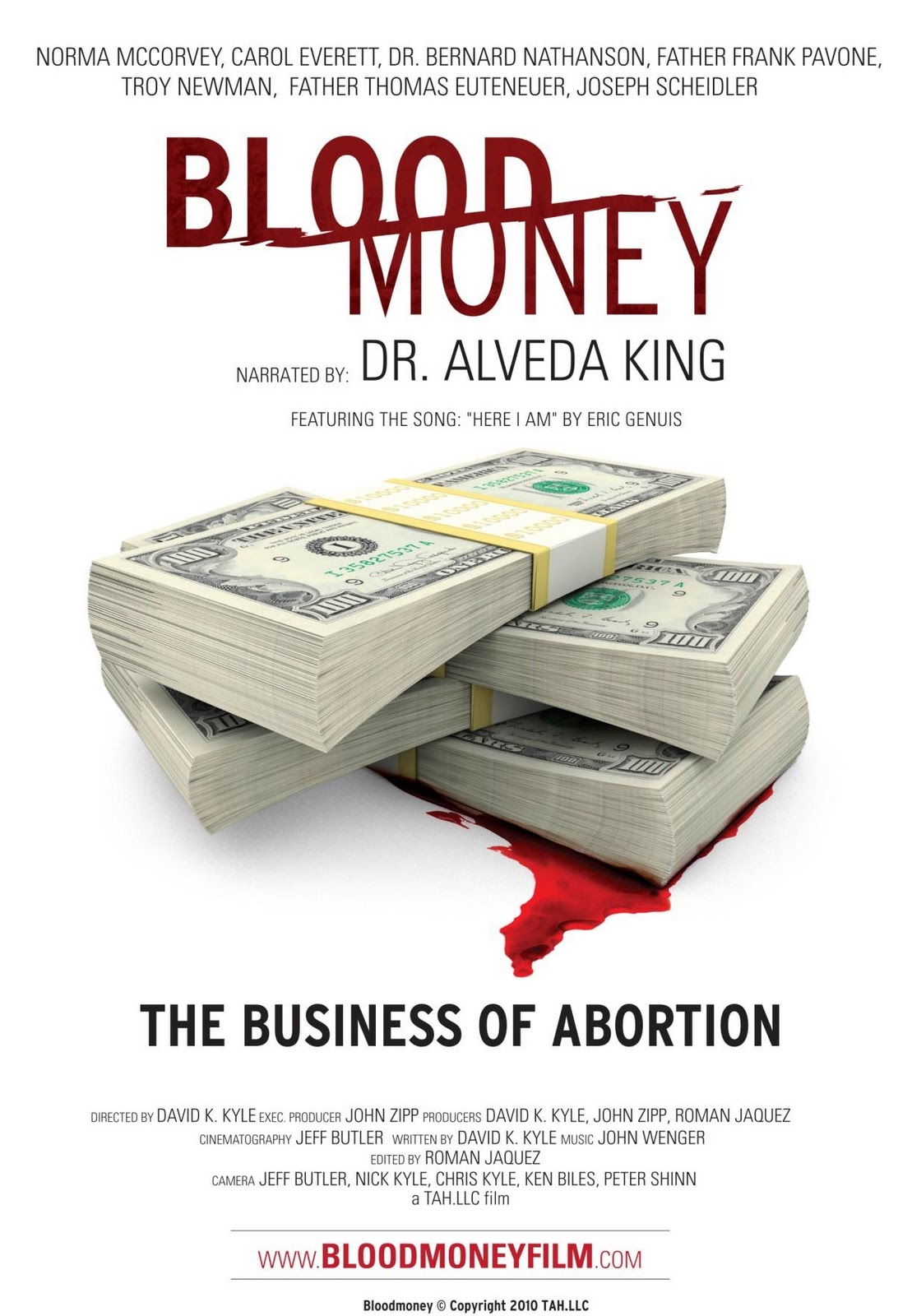O clássico de John Carpenter começa com a câmera emulando os olhos do monstro, como em Jaws de Spielberg, mostrando a criatura carrasca punindo os lascivos. Mesmo com o assassinato sendo retratado, a lente é recatada e não acusa o golpe fatal no prólogo, para só depois revelar o assassino, o inocente Michael Myers, ainda infante.
Jamie Lee Curtis, ainda com 20 anos, viria a inaugurar o estereótipo de scream queen, além de tornar a sua personagem, Laurie, a mais famosa personagem do tipo na história do cinema. A filha de Janeth Leigh ainda não estava no auge da beleza – especialmente ao que é visto em True Lies – mas compunha a vítima perfeita, escandalosa, veloz na corrida e claro, engenhosa na feitura de armas improvisadas e planos de fuga esdrúxulos. A fita tem um ar de artesanal, a começar pela trilha sonora e música, compostas pelo próprio realizador. A edição de som é primorosa e eleva a aura de suspense às alturas.
Donald Pleasence seria figura carimbada na franquia. O seu detetive Loomis é apresentado como um sujeito paranoico. Pérolas como essas: “O Mal se foi!”; “Isso não é um homem”; “O mal chegou à sua cidadezinha” e “Olhos negros, olhos de puro mal”, saem a todo momento da boca do personagem e transformam a figura do doutor em motivo de chacota dado o pavor que o doente causa nele, além de tornar o médico numa figura tão ou mais depravado e desequilibrado quanto Myers. Loomis observou o crescimento do rapaz em um homem, por 15 anos acompanhou o seu caso e nada pôde fazer, pois nesse período o insano somente olhava para a parede até o famigerado dia da fuga. Mas o show de absurdos prossegue, a “máquina assassina” ao tentar atacar Laurie Stroode, capa o seu braço mesmo empunhando uma machete. O assassino é atrapalhado, característica pouco comum em slasher movies, e mais tarde abandonada nos filmes da franquia, mas homenageado por Wes Craven e Kevin Williamson no personagem Ghostface, vilão da quadrilogia Pânico.
A semi-nudez parece ser um gatilho para a fúria assassina do infante assassino preso num gigantesco corpo de dois metros de altura. Myers funciona como um arauto da moral, se utilizando de sua máscara não nominada para manter o sigilo de sua identidade, como a justiça sem rosto distinguível, simbolizando os ecos do conservadorismo perdido em virtude do sexo livre, um paladino tão extremo e descompensado que confunde a proteção a estes valores com a punição para quem não os cumpre a risca, trazendo a morte àqueles que deturpam o conceito da moral e exterminando os sexualmente ativos.
São mostrados apenas meia dezena de mortes no filme. As cenas de ação não causam muito impacto, até por ser bastante cruas, mas compensam em visceralidade e verossimilhança o que falta em grafismo nos assassinatos. O subgênero de terror slasher era algo ainda embrionário e as coincidências e furos de roteiro tornariam-se repetidas a exaustão nos filhotes bastardos de Halloween, não somente neste sub-tópico mas em inúmeros outros tipos de horror movies, especialmente as temáticas do assassino “imortal”, fuga do vilão e a permissividade da sobrevivência do monstro, jamais morto, mesmo quando se há oportunidade, claro que estes pontos foram distorcidos e apresentados de mil formas diferentes. Halloween de John Carpenter é um arrombo de suspense e tornou-se uma franquia muito lucrativa a despeito do interesse de seu realizador.