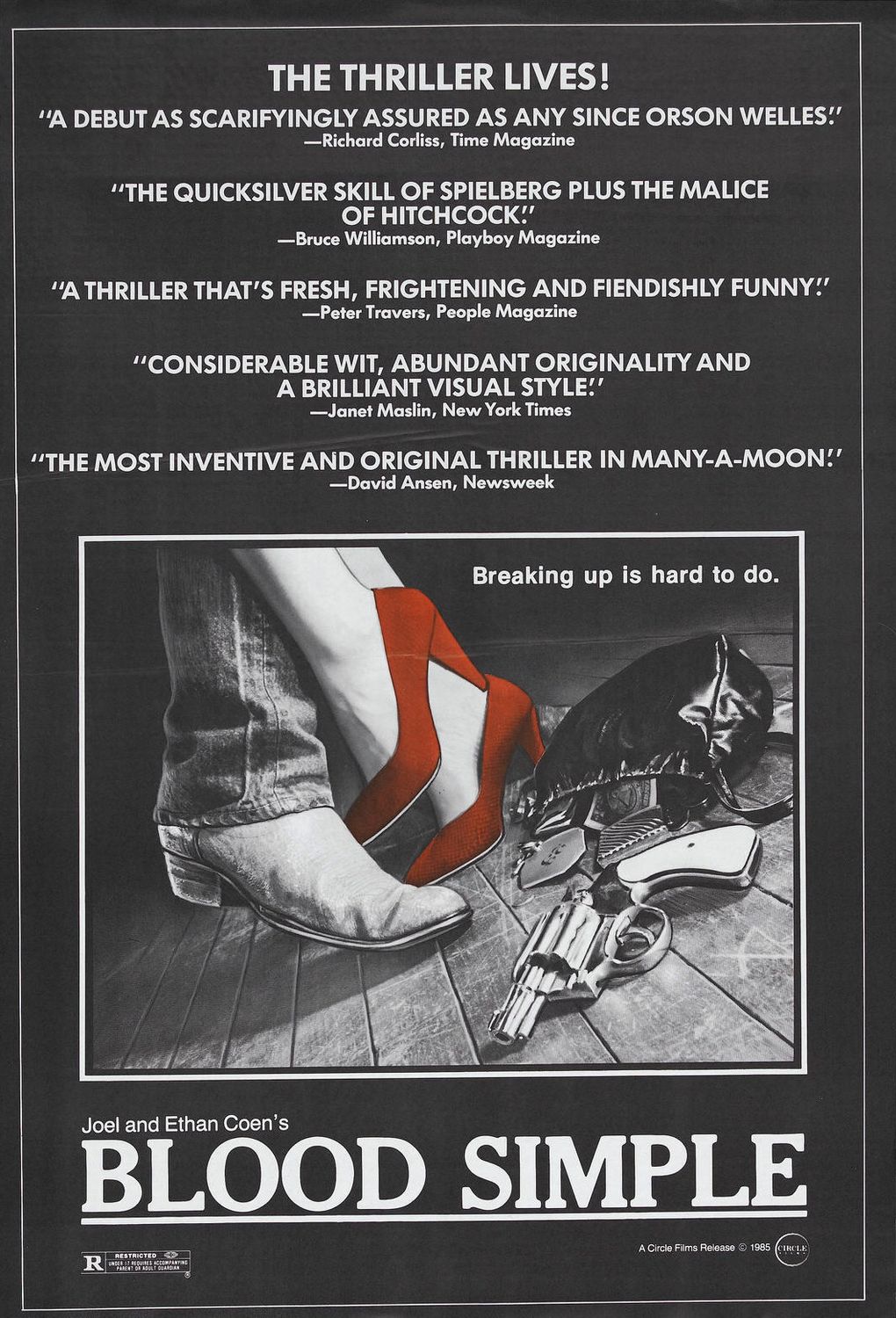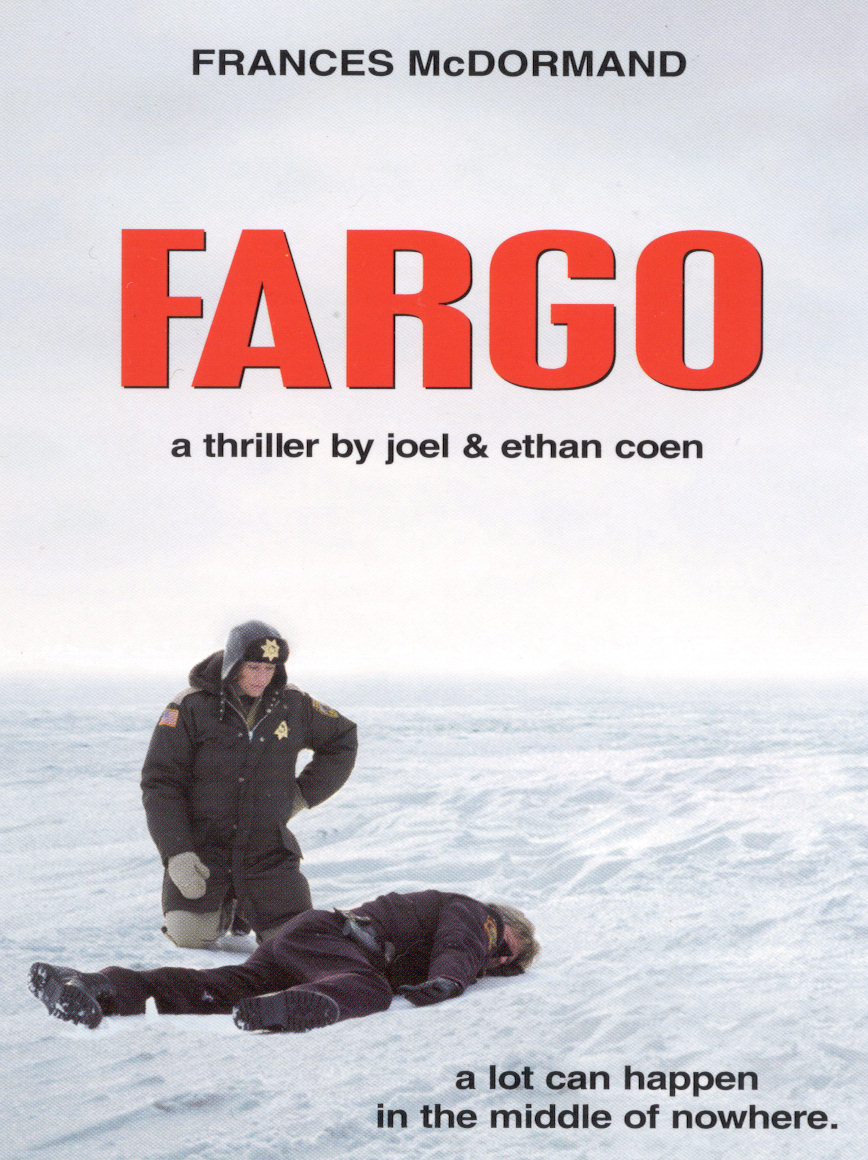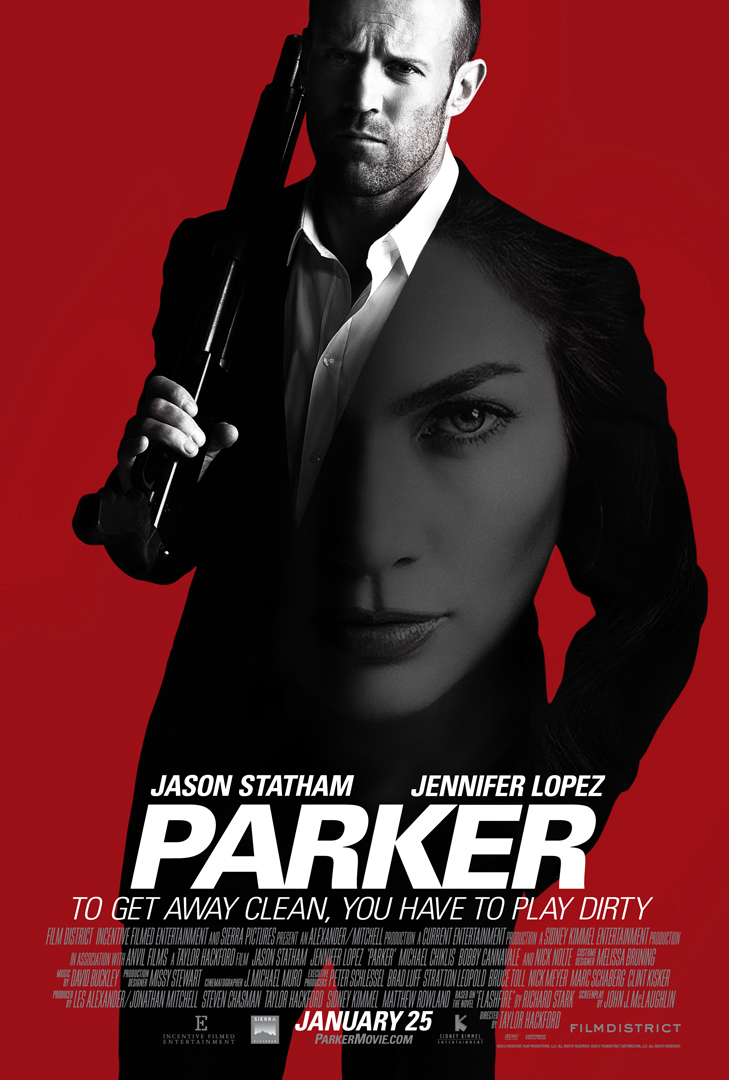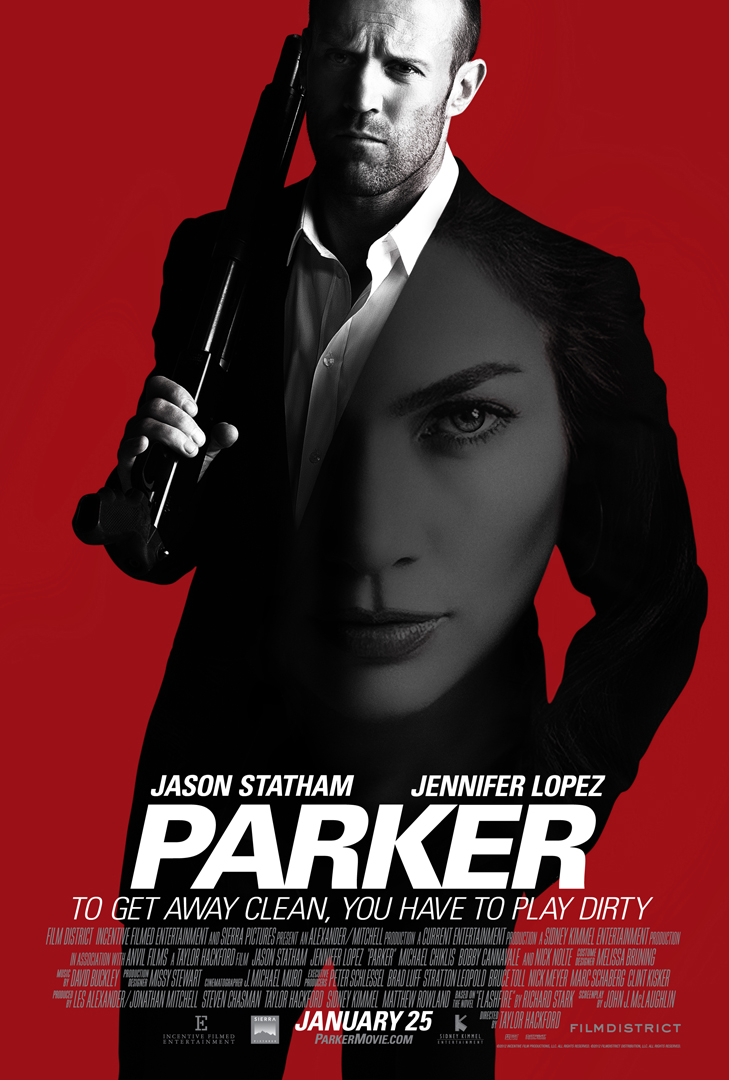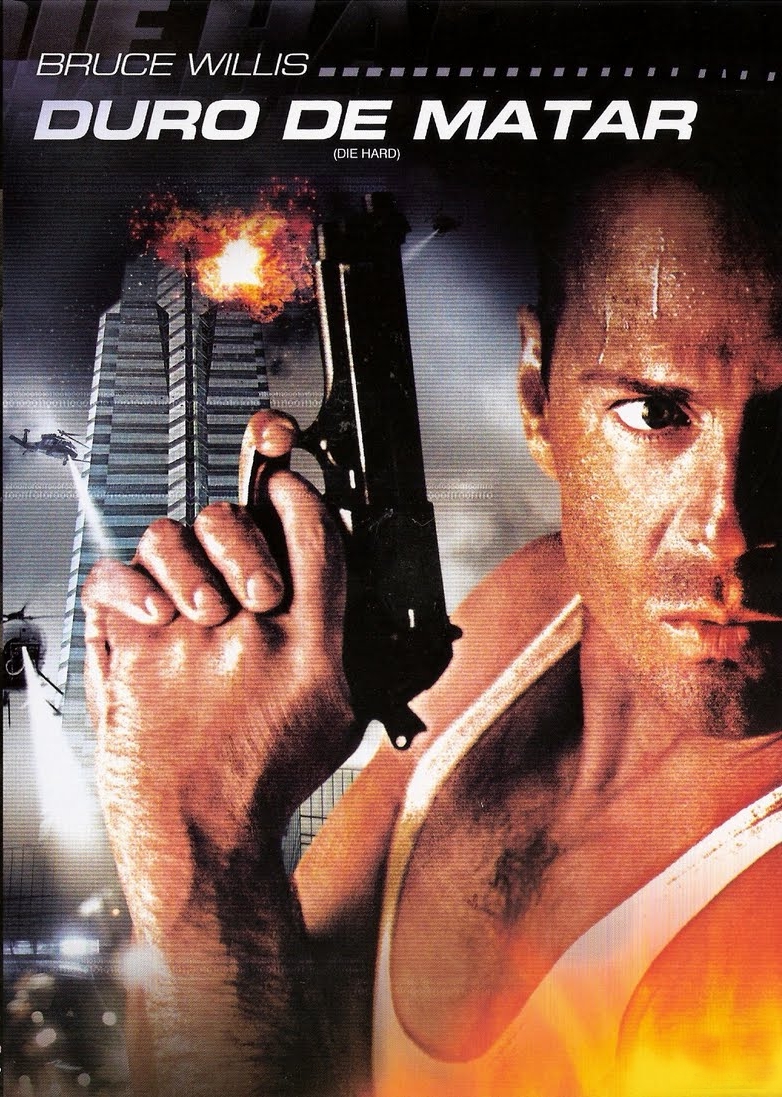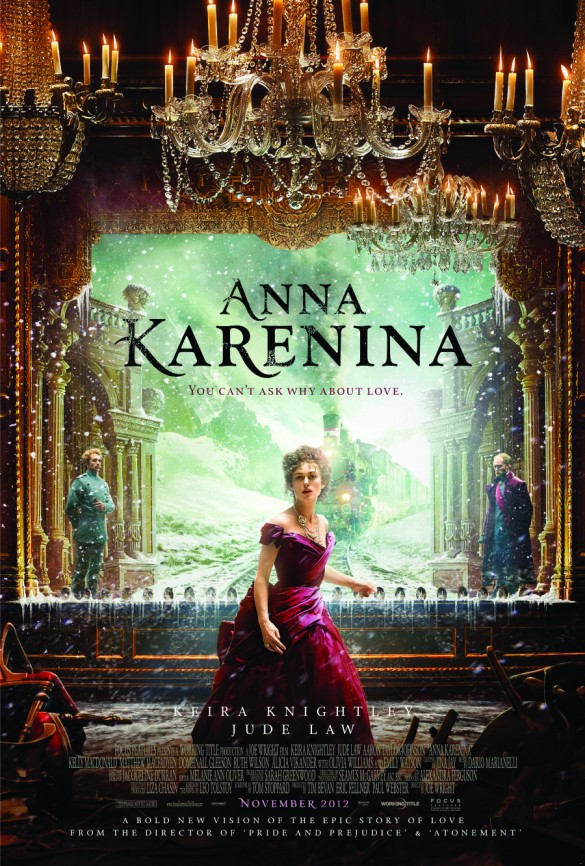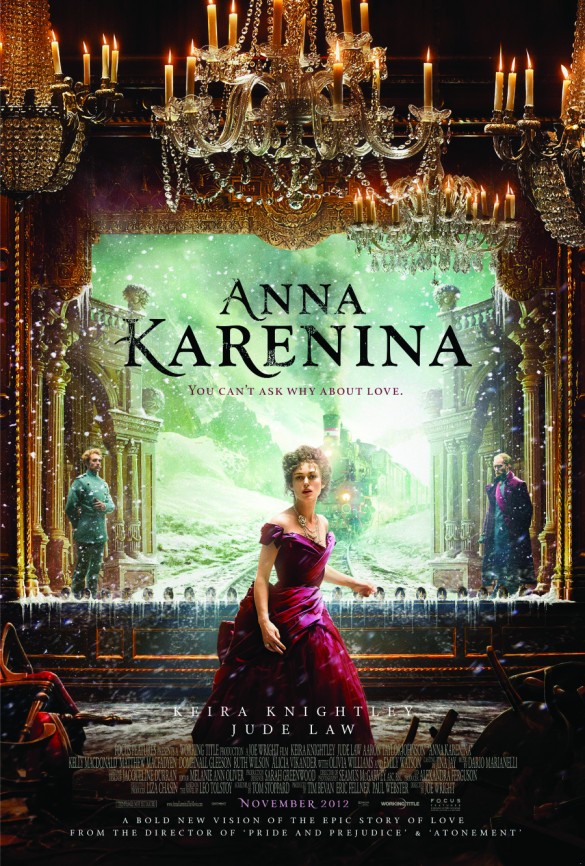Atenção, texto contendo spoilers.
Para muitos, a questão primordial era pra onde ir após Os Vingadores. A grandiosidade alcançada pelo grupo não poderia ser repetida nos filmes solo dos heróis, mas isso não é um problema. Boas histórias sempre podem ser contadas, em diferentes escalas. Além do mais, o anúncio da chamada Fase 2 da Marvel no cinema indicava mais uma vez um planejamento bem controlado sobre as futuras produções, conduzindo a Vingadores 2 em 2015. Porém, tudo isso parece ter sido deixado completamente de lado. Entre uma ânsia incontrolável em dar um “fechamento” à trilogia (não deveria ser um reinício?), e questionáveis direcionamentos de roteiro, Homem de Ferro 3 na verdade deveria se chamar “As Aventuras de Tony Stark”. E não, isso não é uma coisa boa.
A intenção básica de Shane Black, que assumiu a direção no lugar de Jon Favreau e também co-assina o roteiro, foi de humanizar Tony Stark. O que começa muito bem, mostrando o bilionário sofrendo uma espécie de estresse pós-traumático devido aos eventos de Nova York. Entre pesadelos, privação de sono e ataques de pânico, ele se dedica a aperfeiçoar suas armaduras, para estar preparado pra qualquer coisa que o mundo jogar contra ele ou seu amor agora assumido, Pepper Potts. E o próximo perigo já desponta no horizonte: o terrorista Mandarim, com seus ataques sem deixar pistas e seus vídeos ameaçando os EUA. Também entram na jogada dois cientistas presentes no passado de Tony, Aldrich Killian e Maya Hansen, trazendo o projeto Extremis, uma espécie de terapia genética capaz de dar superpoderes a humanos normais.
A partir do ataque à mansão de Stark é que as coisas começam a desandar. O ritmo fica confuso, cria-se uma barriga na história (nada no universo explica ou justifica a presença a daquele garotinho), surgem furos gritantes no roteiro, como os planos e ações do vilão que se contradizem e parecem mudar de uma hora pra outra. Porém, o erro fatal do filme acaba sendo mesmo a velha mania de TIRAR A ARMADURA. Entende-se a necessidade de usar Robert Downey Jr ao máximo, até pra fazer valer o milionário cachê que ele está levando. Mas é forçado demais ver Stark transformado num James Bond, invadindo locais e combatendo bandidos com apenas alguns apetrechos, demonstrando incríveis habilidades físicas. As cenas de ação envolvendo as armaduras são ótimas, o resgate dos passageiros do avião e a batalha final quase valem o ingresso. Mas é pouco, ainda mais quando se esperava que esse terceiro capítulo redimisse o maior defeito dos dois anteriores. Se ficava um gostinho de quero mais em relação às lutas, principalmente no segundo, pelo menos as histórias eram bem amarradas. Neste, nem isso.
Outro fator prejudicado foi o humor. Como o trailer sugeria, a trama tentou ser mais séria, densa. Contudo, não quiseram deixar as piadinhas de lado, e o resultado é que elas ficaram parecendo mais bobinhas do que o habitual, e com um timing terrível. A cada momento pretensamente dramático, entrava alguma gracinha pra quebrar o clima. O destaque foi perto do clímax do filme, onde isso ficou inacreditavelmente ruim. Até por conta disso, a tal humanização não convenceu, pois não houve drama ou perigo real. Tudo se resolve facilmente para Tony Stark, com ou sem armadura. Aliás, ele ter que se virar sem seus trajes por tanto tempo também acaba se revelando uma forçada de barra incoerente, em grande parte por Jarvis ser retratado cada vez mais como uma entidade onipresente e onisciente, e não como uma inteligência artificial.
Citando algo positivo, os aspectos técnicos são impecáveis como sempre. Ficou bacana o visual dos soldados Extremis, apesar de meio genérico, pareceu ameaçador. O trabalho de Shane Black enquanto diretor não compromete. Se a menos a Marvel o tivesse controlado melhor enquanto roteirista… os atores também fazem um bom trabalho. Nada de novo a ser dito sobre O CARA, nem sobre Gwyneth Paltrow. Já Don Cheadle, coitado, esse sofreu. A marqueteira “atualização” do Máquina de Combate para Patriota de Ferro até rendeu uma zoada legal. Mas Rhodes também foi vítima do ódio dos realizadores contra armaduras, e só fez pose até perder a sua também. A ele restou uma curta participação como o sidekick que combate o mal usando camisa polo. Rebecca Hall não teve muito a fazer com sua personagem sem muita utilidade na trama, enquanto Guy Pearce mandou bem fazendo o seu canastrão habitual.
Já o Mandarim merece uma análise a parte. Ele parece estar concentrando quase toda a polêmica sobre o filme, cegando as pessoas para os problemas muito mais graves. Este vilão não é, MESMO, o temível nemesis do Homem de Ferro que é nos quadrinhos. Mas embora o fã tenha razão em bradar “nãããooo, o Mandarim é muito mais foda do que isso”, foi uma adaptação interessante. Coerente na proposta do filme de criticar (ainda que de forma rasa) a indústria armamentista e a manipulação da mídia, além de um sensacional tapa na cara de quem diz que os trailers entregam tudo e não existem mais surpresas guardadas para o cinema. E Ben Kingsley merece aplausos.
Por outro lado, houve incoerência no modo como o filme tratou a postura do protagonista diante do Extremis. Na ótima saga de Warren Ellis e Adi Granov, Tony usa o vírus aprimorado em si mesmo, para adquirir maior controle sobre armadura e poder vencer o inimigo. Faria todo o sentido do mundo ver algo parecido no cinema, ainda mais no cenário criado do herói passando a temer ameaças desconhecidas. E nem precisou de algo cósmico, mágico, nada disso, ele viu surgir em seu próprio mundinho científico um adversário que não poderia superar só com suas armaduras tradicionais. Mas eis que então, indo na contramão de absolutamente tudo que o próprio filme havia plantado, Stark segue outro caminho.
Que$tõe$ contratuais e a vontade de Downey Jr em si (ainda indefinida, é bom que se diga) são possíveis explicações, claro. Mas nada de bom resultou disso: Homem de Ferro 3 contradiz a si mesmo, se coloca fora da Fase 2 e nada faz para introduzi-la, e ainda prejudica monstruosamente Vingadores 2. Fica a expectativa que esse tropeço, o primeiro, não tire a Marvel Studios dos trilhos, e que os próximos filmes voltem a acertar a mão. E que essa não seja a última vez que vemos o Homem de Ferro/Tony Stark/Robert Downey Jr nos cinemas, pois seria uma despedida melancólica, ao som de uma marcha fúnebre ao invés do bom e velho AC/DC. Aliás, caramba, até isso faltou…
Ps: cena pós-créditos fazendo ligação com os próximos filmes, tendo alguma relevância? Pra quê, né?
–
Texto de autoria de Jackson Good.