Mais um filme que revisita uma estória infantil, o conto de fadas inglês “João e o pé de feijão”. E ainda na onda do politicamente correto, desta vez, João (ou Jack) deixa de ser um ladrãozinho – que surrupia primeiro moedas de ouro, depois a galinha dos ovos de ouro e por último a harpa de ouro – para se tornar um jovem destemido que luta para defender seu mundo dos gigantes “malvados”. Porém, o cerne da estória – o garoto ludibriado numa troca que volta para casa com um saquinho de feijões ao invés de moedas – foi mantido, com alguns adendos na tentativa de enriquecer a trama.
A aventura infanto-juvenil lembra bastante os filmes de fantasia dos anos 80 – Krull, A lenda, História sem fim – com valentes cavaleiros, donzelas em perigo, lutas de capa e espada, apenas com efeitos especiais mais elaborados, com menos maquiagem, maquetes e fantasias e mais computação gráfica. Contada de modo convencional e pouco inventiva, a trama não chega a entusiasmar, mas também não entedia o espectador. Com algumas pitadas de feminismo e tiradas de humor – bem ao estilo de Piratas do Caribe – entretém, mas está longe de causar empolgação. Tem-se a impressão de que o investimento foi grande na concepção dos efeitos especiais e pequeno na concepção do roteiro. Esperava-se bem mais de Christopher McQuarrie, o roteirista responsável pelo excelente Os Suspeitos.
O elenco está bem, apesar dos personagens terem pouca ou quase nenhuma complexidade. São todos estereotipados: Jack (Nicholas Hoult) é o rapaz honrado, Isabelle é a moça (quase) rebelde, Elmont é o cavaleiro valente, Roderick (Stanley Tucci) é o conselheiro ardiloso. Aliás, enquanto o Elmont de Ewan McGregor vai ficando mais carismático à medida que o filme avança, a princesa Isabelle (Eleanor Tomlinson) parece cada vez mais apenas um elemento decorativo.
Ao contrário do que aparentavam tanto nos trailers quanto nos anúncios, os efeitos de computação gráfica em combinação com a filmagem 3D deram um bom resultado final, exceto por uma ou outra falha pouco perceptível. Apesar de o 3D não acrescentar muito ao filme, também não chega a atrapalhar como ocorre em alguns casos, principalmente quando o filme é convertido de 2D para 3D. Vale destacar o pé de feijão que simplesmente enche a tela (e os olhos) com sua grandiosidade e riqueza de detalhes. E não se pode reclamar da aparência dos gigantes, já que eles são tão verossímeis quanto um personagem de conto de fadas pode ser. Sobre os gigantes, atenção especial para o “chefe” de duas cabeças, General Fallon, dublado pelo inconfundível Bill Nighy.
Contudo, nem só de efeitos especiais sobrevive um filme. No máximo, este talvez seja lembrado como “aquele em que Ewan McGregor quase virou petisco de gigante”.
–
Texto de autoria de Cristine Tellier.

















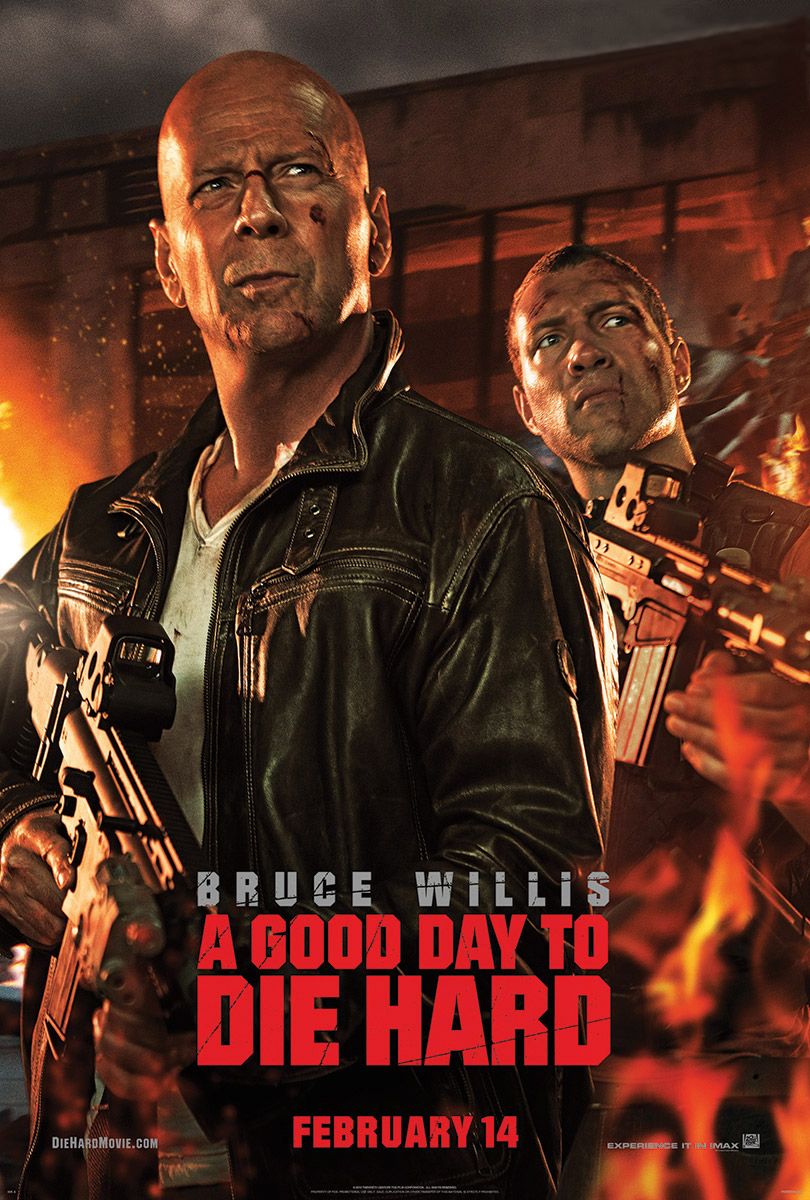


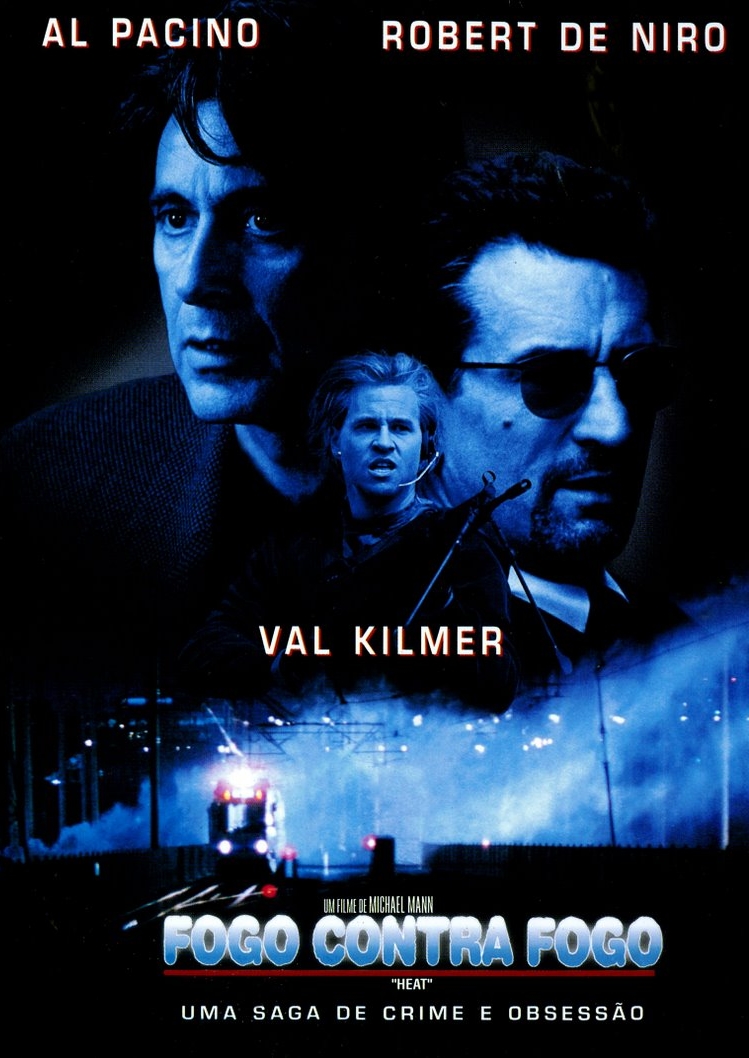
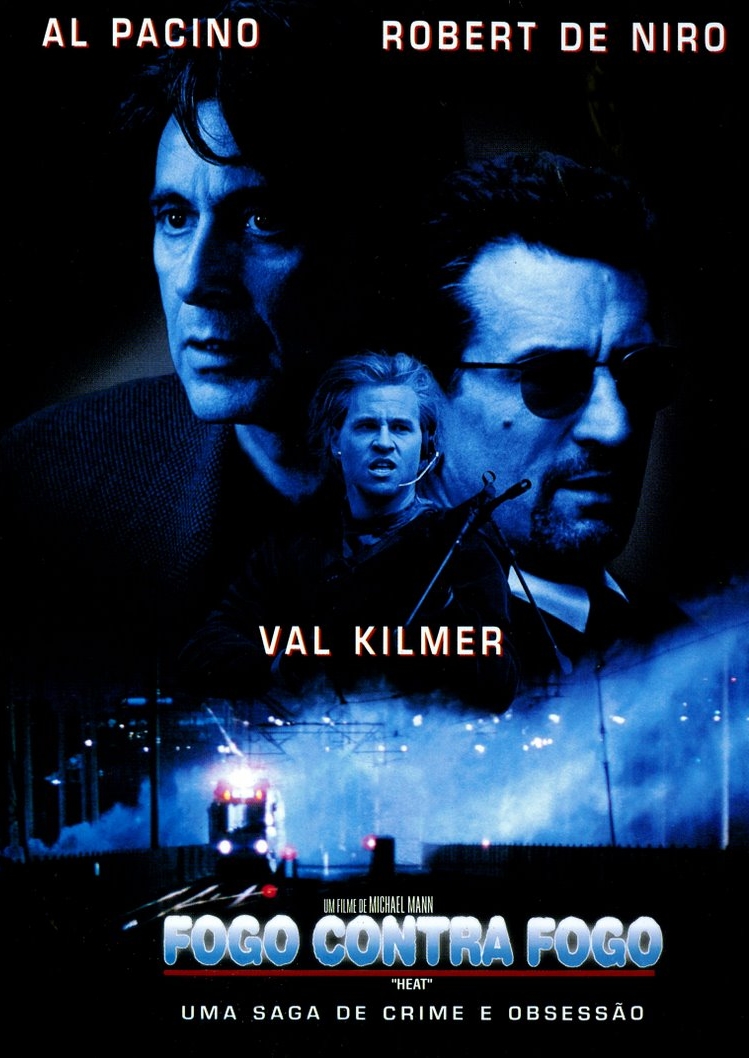
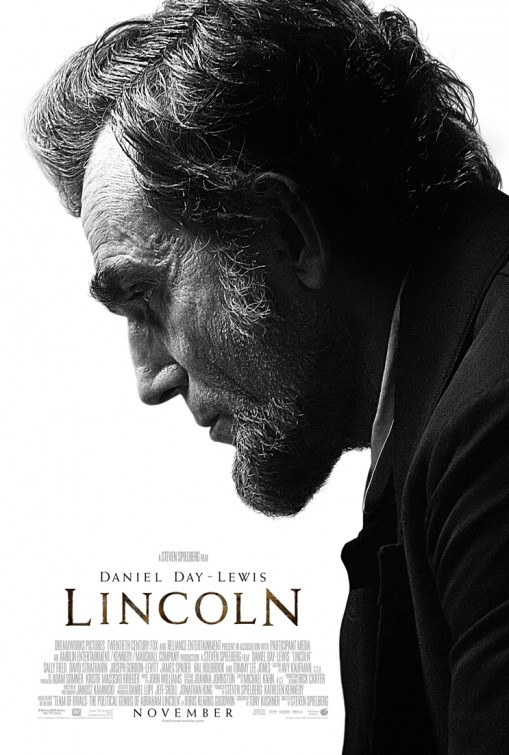
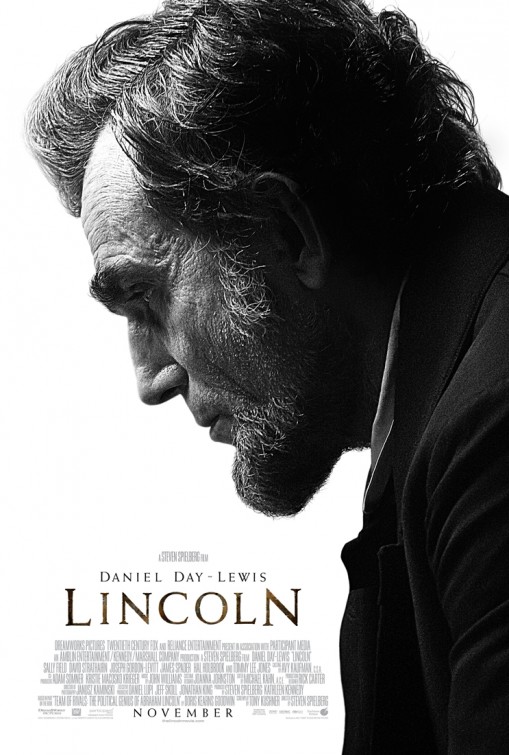
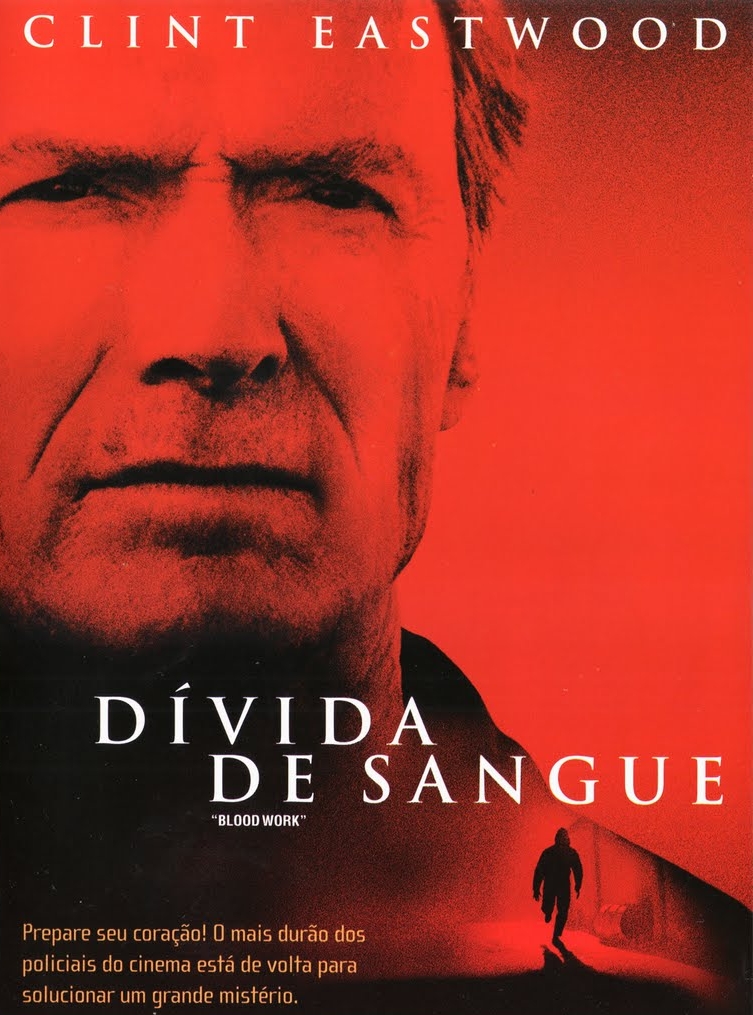
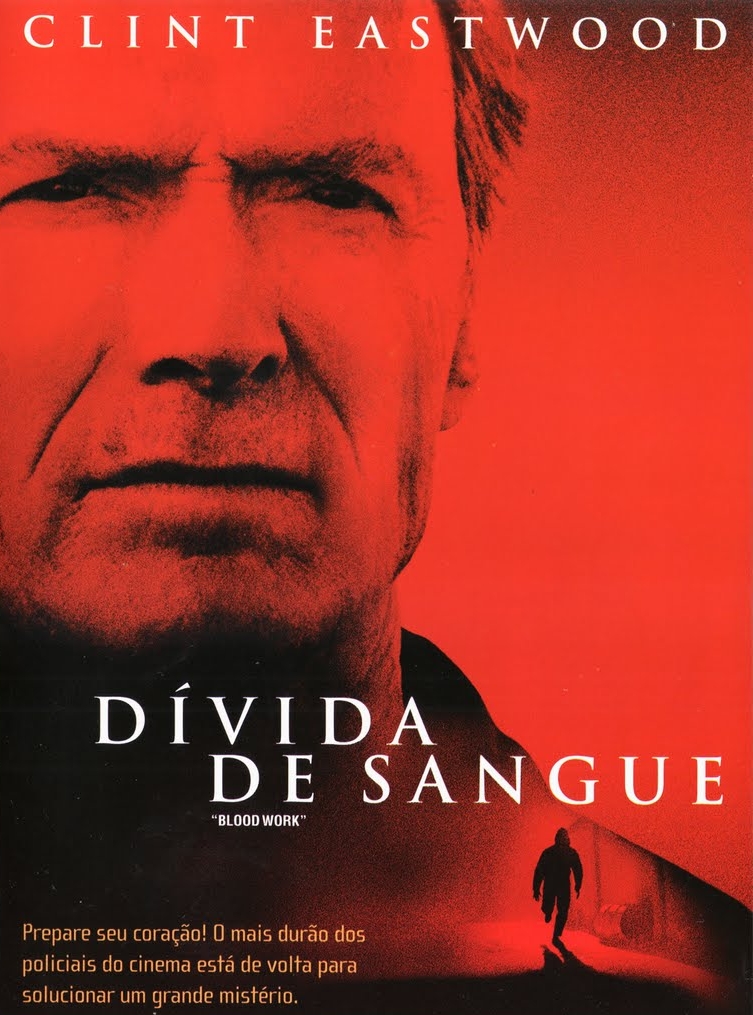















![Poster_TheSnowQueen[1]](http://www.vortexcultural.com.br/images/2013/02/Poster_TheSnowQueen1.jpg)