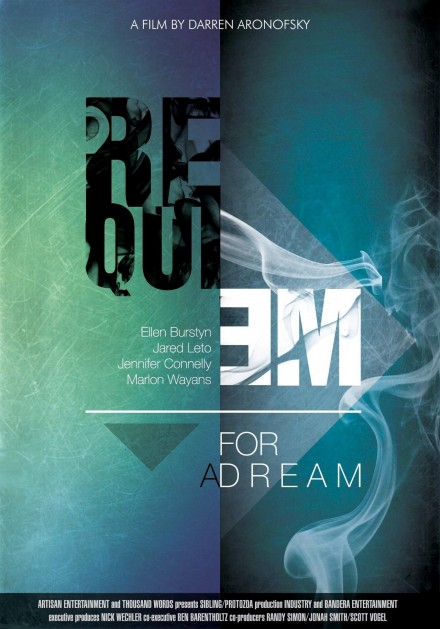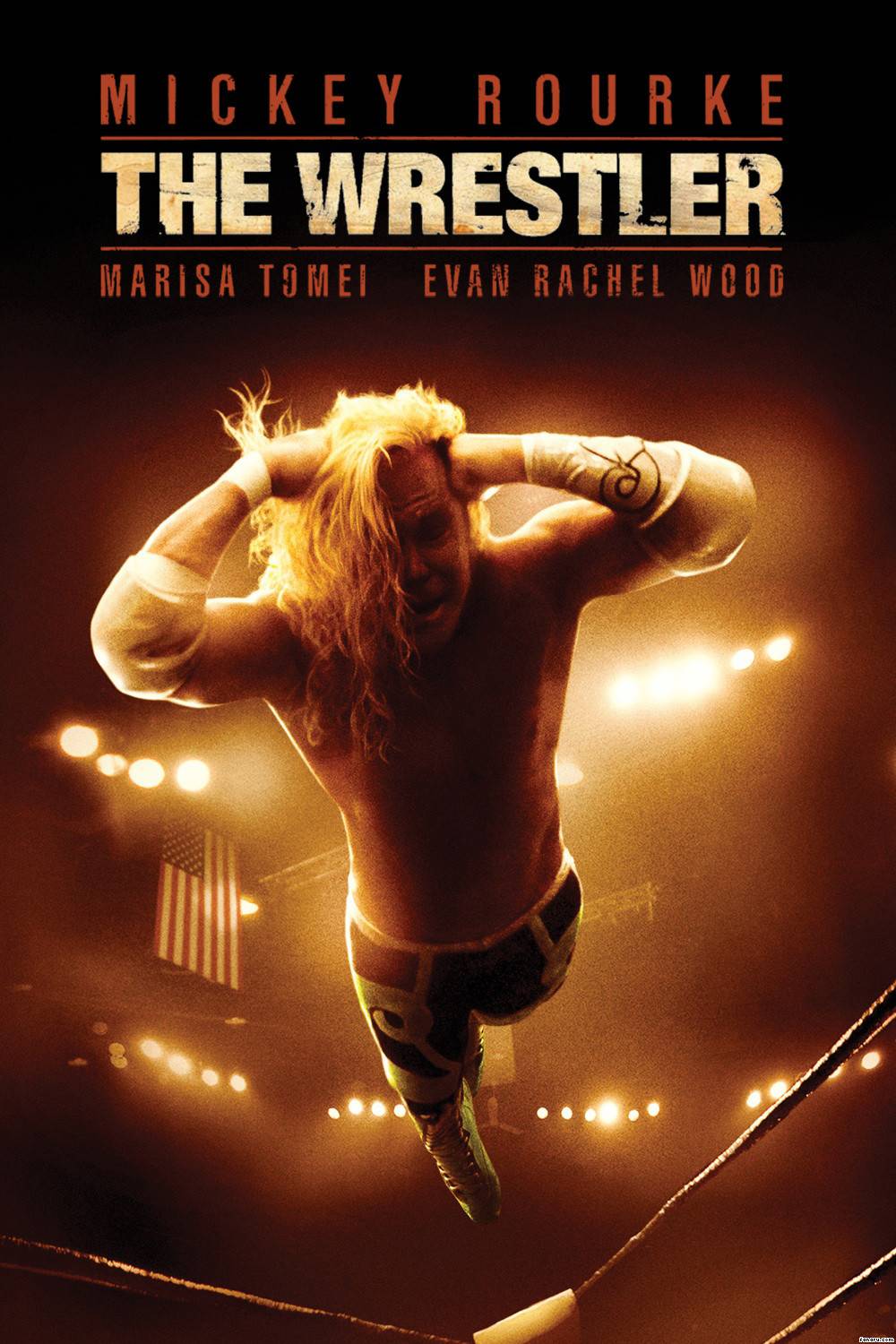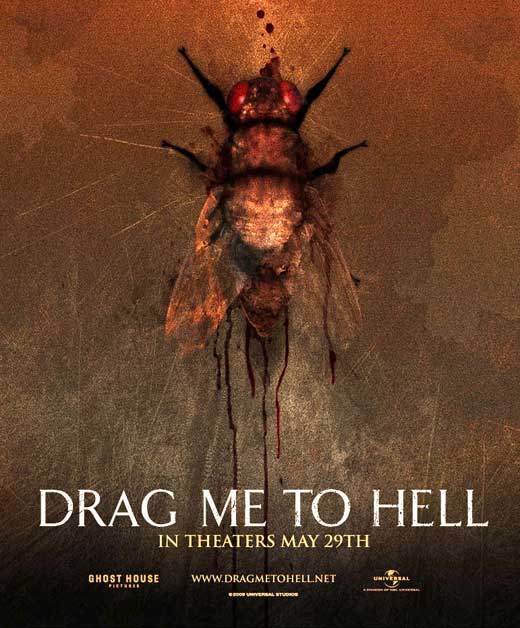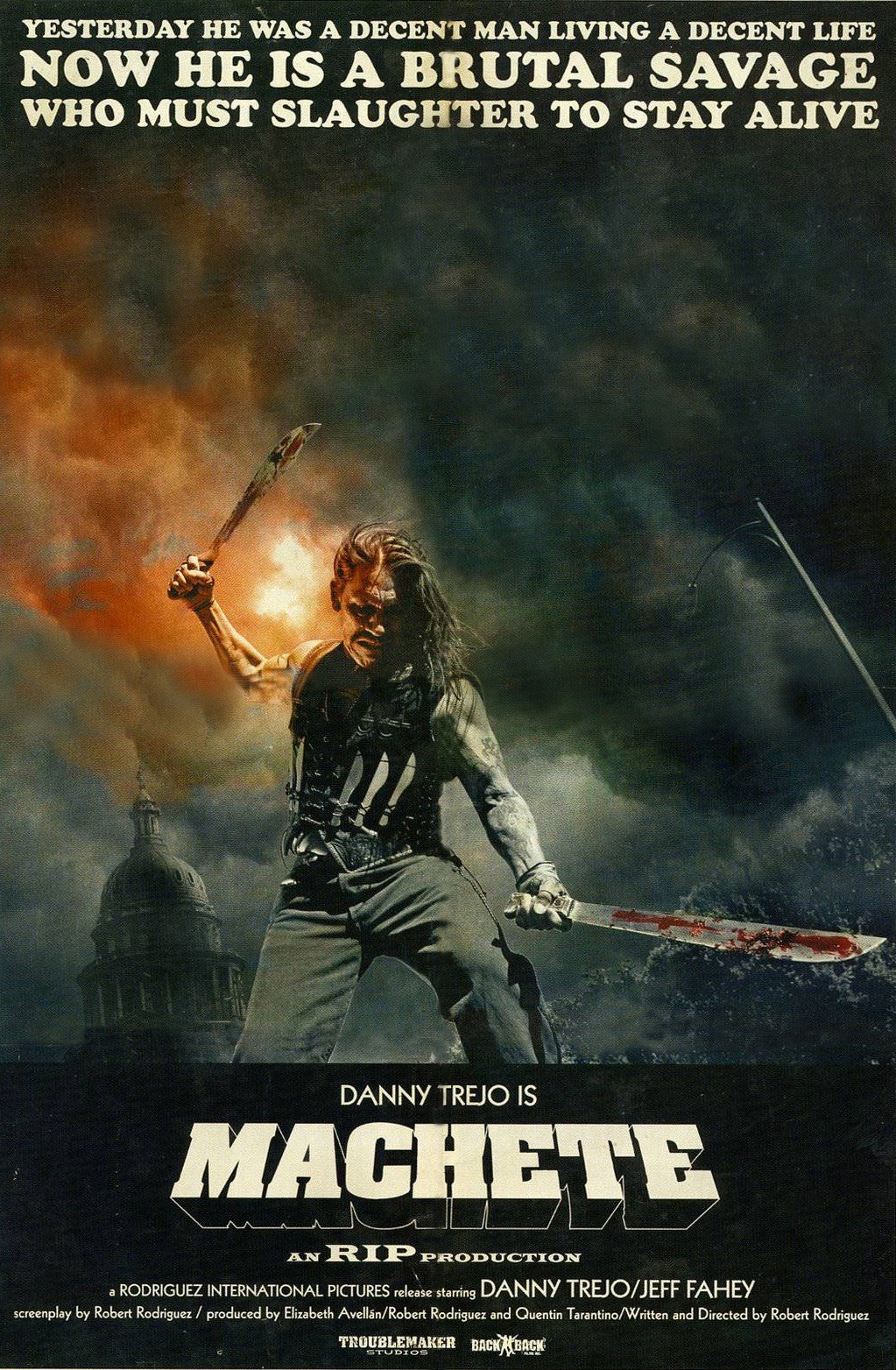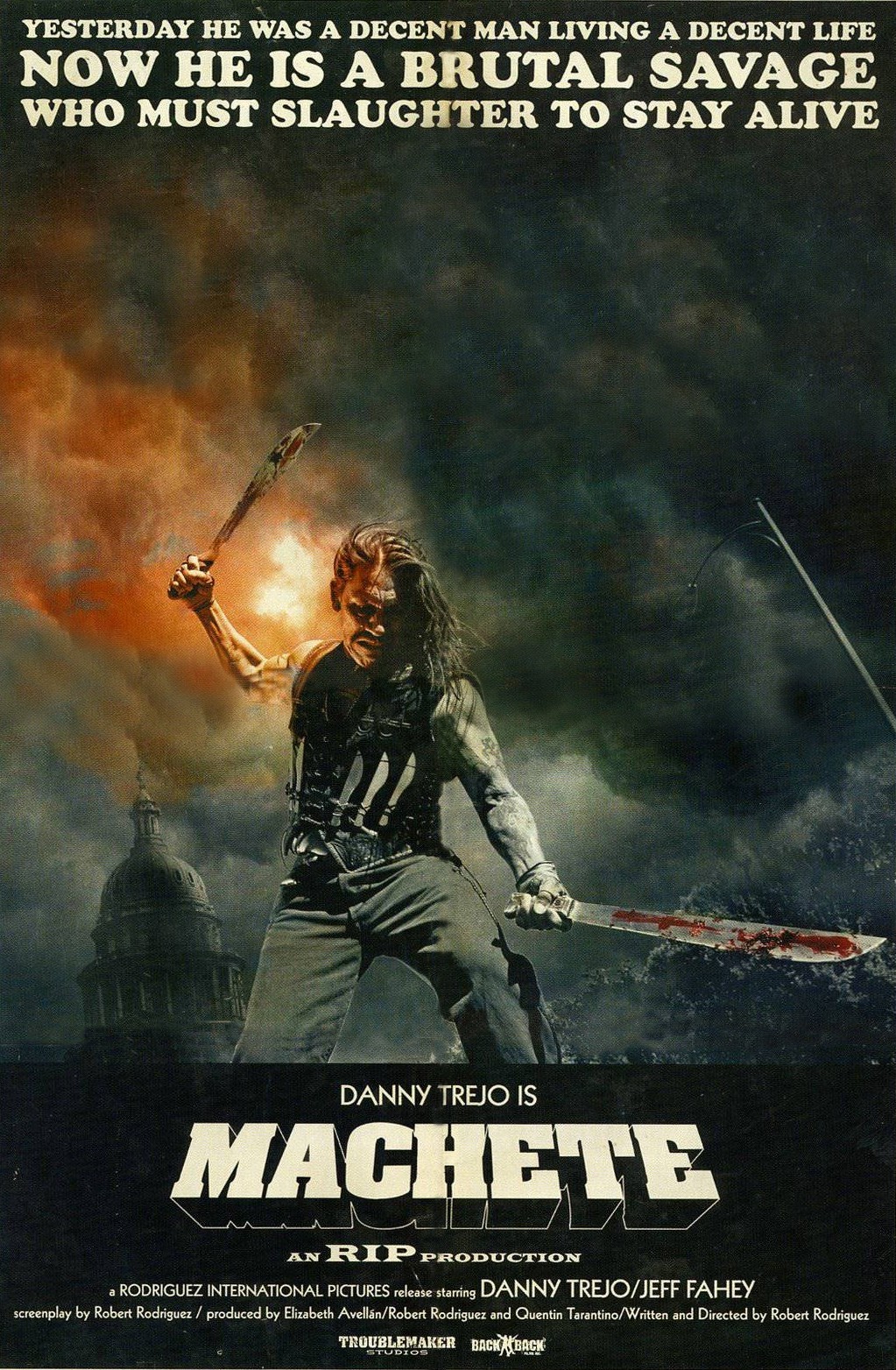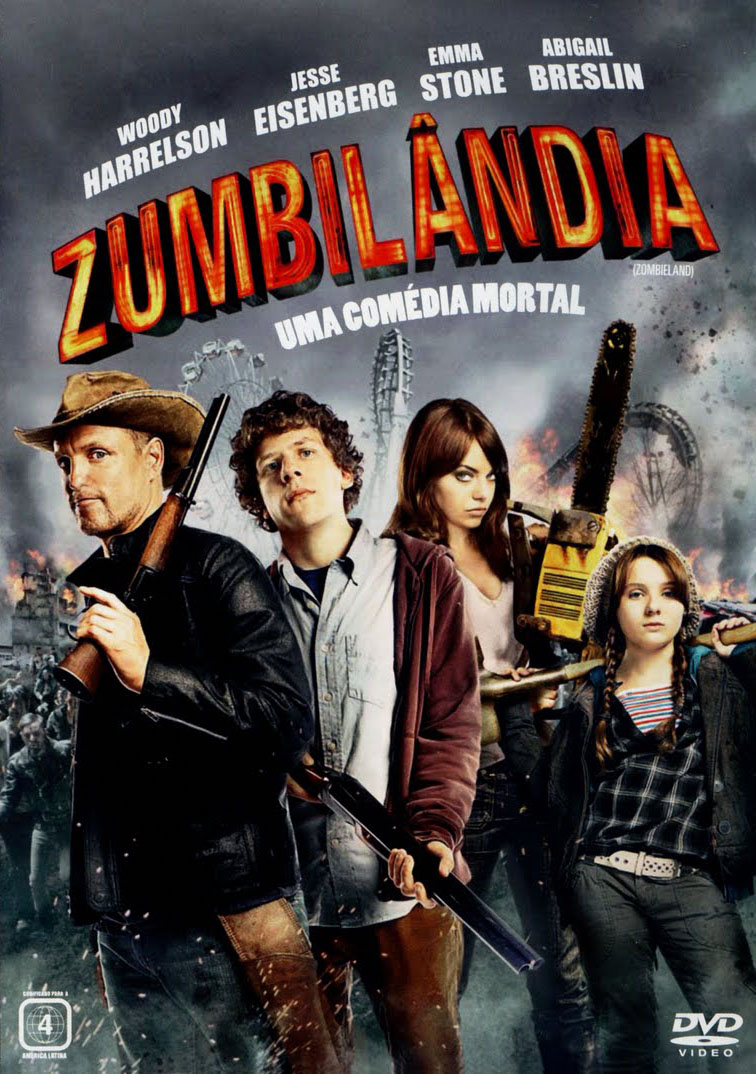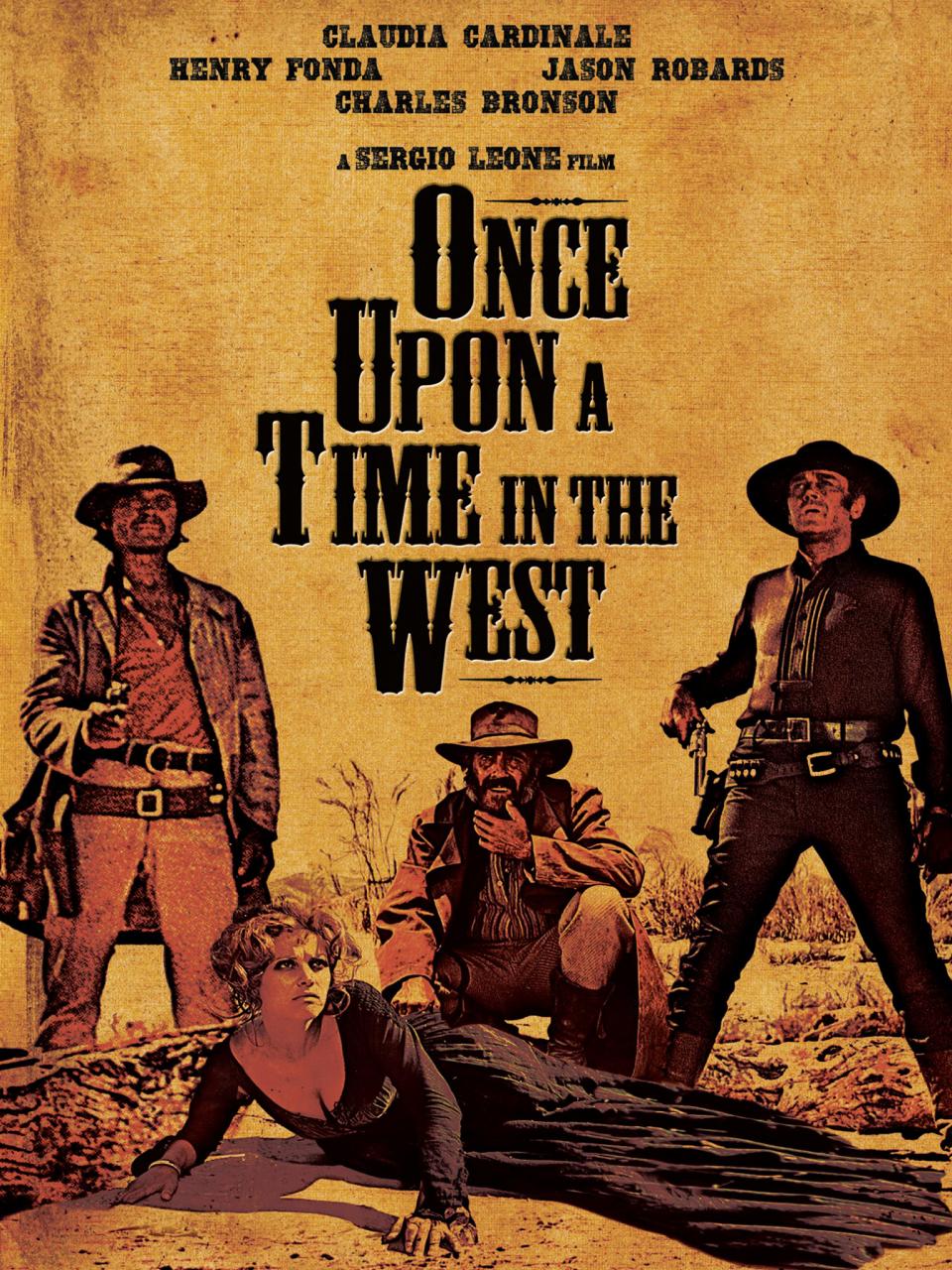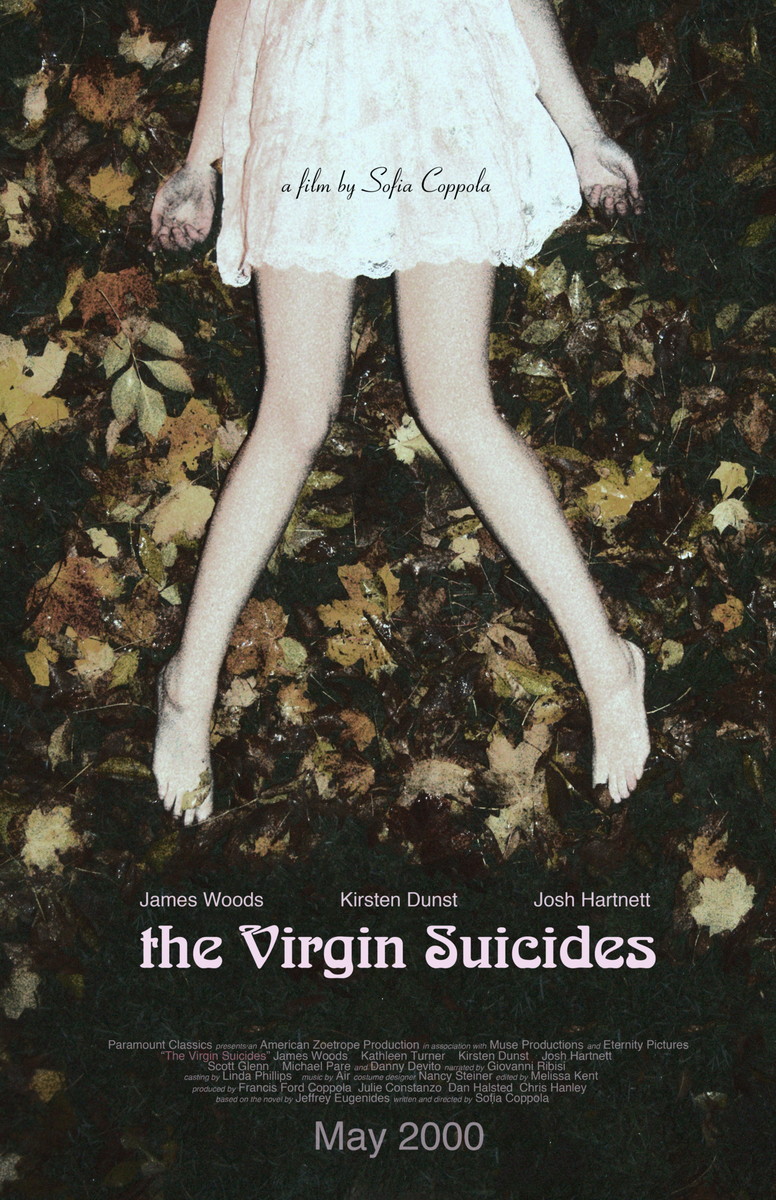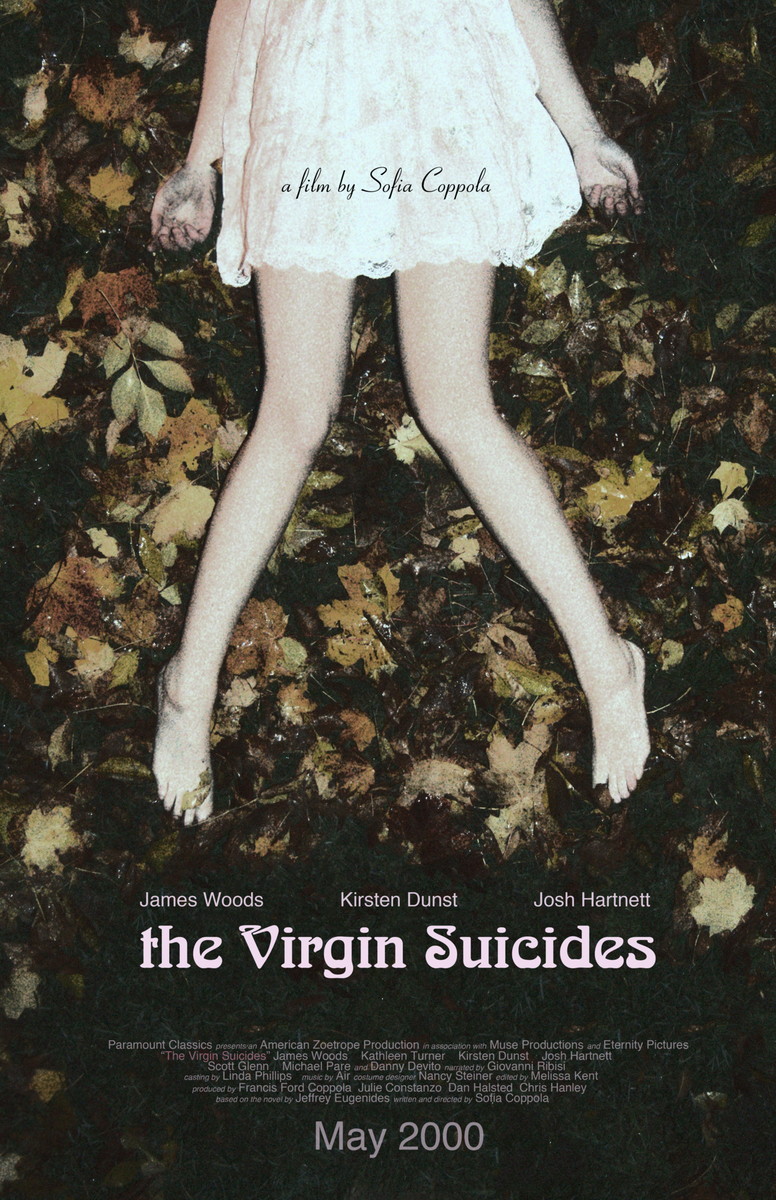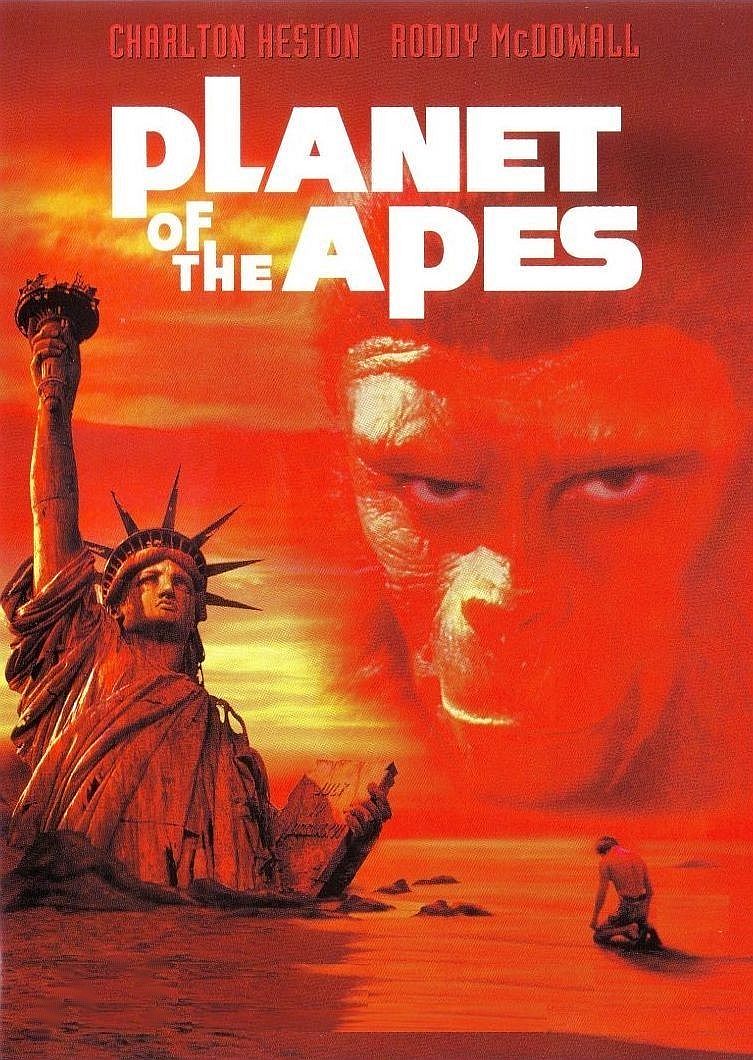Demorei cinco “longos dias” para juntar coragem em entrar numa sala de cinema que tivesse o cartaz do novo filme de José Padilha. Tentar anestesiar o monstro da ansiedade sobre o que esse diretor traria talvez tenha sido o motivo dessa minha letargia inicial.
Vacinado com o modismo que se apropriou, no primeiro filme do BOPE e de seu fictício capitão, não me permitia acreditar nos (até o momento deste post) mais de 2 milhões de espectadores que foram, antes de mim, dar os olhos à surpresa das novas agressões que Padilha nos traria dessa vez.
Mais que números e toda sorte de merchandising pós-filme-febre, minha reserva em ser levado pelas massas estava direcionada à dúvida sobre como os responsáveis pelo longa desenvolveriam ainda mais uma história que, desde o documentário Ônibus 174 já estava lustrada o suficiente para mostrar outros personagens que não apenas a díade de mocinhos e bandidos: nós próprios, “cidadãos de bem”, em nossa cativa passividade. Como, nessa sequência, o BOPE poderia ser mais “dissecado” do que fora anteriormente? Haveria um novo banho de sangue? Conheceríamos um novo repertório de palavrões e frases de efeito, entre fanfarrões e pedidos para sair? O que Padilha, agora associado a Mantovani (um dos nomes por trás de Cidade de Deus) teriam preparado para nós?!
Quando a tela do cinema focou no filme, deixando para trás toda propaganda barata e efêmera, essa que pinta uma realidade rósea, bombardeando nossos sentidos dia a dia, foi projetada uma frase, que além de contrastar com o cenário habitual e comercial descrito neste parágrafo, colocava em transe não só o que as milhões de pessoas veriam a seguir, mas o próprio contexto social e político-eleitoral latente, porta do cinema afora:
“Qualquer semelhança com a realidade é apenas uma coincidência. Essa é uma obra de ficção.”
Pois, a “ficção” que ali se desenrolava trazia um problema de coordenação à dinâmica de quem a assistia: pensar sem respirar.
Refletir sobre um Estado que, ao invés de coibir a violência e todos os seus derivados, está engendrado a estimulá-la por suas próprias instituições, no filme representadas pelo Poder Judiciário, na “idônea” polícia militar fluminense (tal qual aconteceu no primeiro filme), já era mote esperado nesta sequência. Contudo, Padilha fez mais: desdobrou a corrupção aos quinhões dos Poderes Executivo (representados na figura de um Governador inexistente e de um Prefeito estético e estático) e Legislativo (capaz de acomodar as mais caricatas figuras ao corpo dirigente, de um apresentador televisivo sensacionalista a um palhaço iletrado. Opa, perdão, não há palhaço iletrado na “ficção” de Padilha).
A trama que o roteirista e diretor fez questão de mapear como irreal mostra um período posterior à saga do primeiro filme, mas que corresponde à nossa atualidade, onde o crime na “Cidade Maravilhosa” teria sido desorganizado pelo BOPE, agora mais estruturado e com maior campo de ação no combate à criminalidade carioca. Contudo, no vácuo desse poder paralelo, então supostamente erradicado, outra fonte de poder se apossou dessas fronteiras periféricas: as milícias. Constituídas e aparelhadas por policiais e políticos, fazendo com que a elite da tropa, representada na figura do, ainda, arrogante, inflexível, bad-ass-motherfucker e, acima de todas as demais características, determinado Nascimento. Esse que, de Comandante Geral do Bope à Sub Secretário de Inteligência, percebe a complexidade do sistema corrupto que assola nosso País e sua incapacidade de modificá-lo pelas vias “legais e pacíficas”.
Os atores que dão personalidade aos personagens “cumprem a missão dada”. Enquanto Wagner Moura ratifica o principal personagem de sua talentosa carreira, Milhem Cortaz e André Ramiro mantém a maturidade de suas interpretações e reavivam a nostalgia dicotômica de seus personagens: a volta do malandro (tipicamente brasileiro) Capitão Fábio, contrastando com a severidade e disciplina militar de André Mathias. Somando esses altos patamares, outros personagens menores recebem nomes e interpretações muito além do que se esperaria desses na trama. Destaques que faço às representações de Antré Mattos, como o típico político que temos escolhido, Seu Jorge, num “Zé Pequeno” amadurecido e Irandhir Santos, que de figura secundária conseguiu elevar seu personagem a um embate paralelo na trama com Wagner Moura: as duas facetas (ou as “Duas-Caras”) da justiça.
O desafio de respirar (asfixiado por um saco, parágrafos atrás) foi a acrobacia que todo espectador teve de realizar para refletir enquanto era esbofeteado por uma produção cara, importada e refinada, com direito a tomadas aéreas ausentes no primeiro filme, câmera dinâmica nas cenas de ação, roteiro truncado entre quem morria, como falecia e os porquês de cada “baixa”, uma fotografia propositalmente crua, oscilando entre cores fortes nas dependências abastadas, oficiais e, claro, no sangue jorrado, contrapondo com a opacidade desbotada da miserabilidade e condição rudimentar das comunidades.
A edição, ainda que sem ineditismo algum em relação ao primeiro filme (iniciando um pouti-porri de cenas do primeiro e sucedido por uma apresentação que, tal qual em Cidade de Deus ou no primeiro Tropa, estampava uma cena-chave complementada e explicada ao longo da história), dá ritmo aos nossos fôlegos, de forma inteligente a cada salto da atividade profissional de Nascimento, assim como a cada tropeço na relação desse com seus entes: filho, ex-esposa e Mathias.
A trilha sonora não se mostrou impactante como no primeiro. Fixar o grupo Tihuana na música tema, ainda que em nova versão, foi um voto pela preservação de uma imagem que já fora construída, assim como optar por um repertório bem conhecido entre faixas e artistas, caso de Paralamas, Marcelo D2 etc. Ademais, os efeitos sonoros ficaram bem alinhados com as cenas de ação.
Extasiado, vi as cenas aéreas e audaciosas (não tecnicamente) finais desse filme cru, cruel e NADA fictício, com certo otimismo. Não se tratava de esperança nos dirigentes de nosso País que, ao meu ver, já estão de “pomba-gírice” há muito tempo, mas sobre o futuro da mensagem de Padilha que, tal qual fazia Sérgio Bianchi em seus filmes, mas sem arrebatar milhões de expectadores, novamente nos coloca em xeque:
Se nada acontecer para mudar o cenário cancerígeno de nossos sistemas político e social, fodeu para todos nós. E, parafraseando Capitão Fábio (o modelo de nossa brasilidade), se “quer me foder? Então me beija!”
–
Texto de autoria de Luciano Francisco.