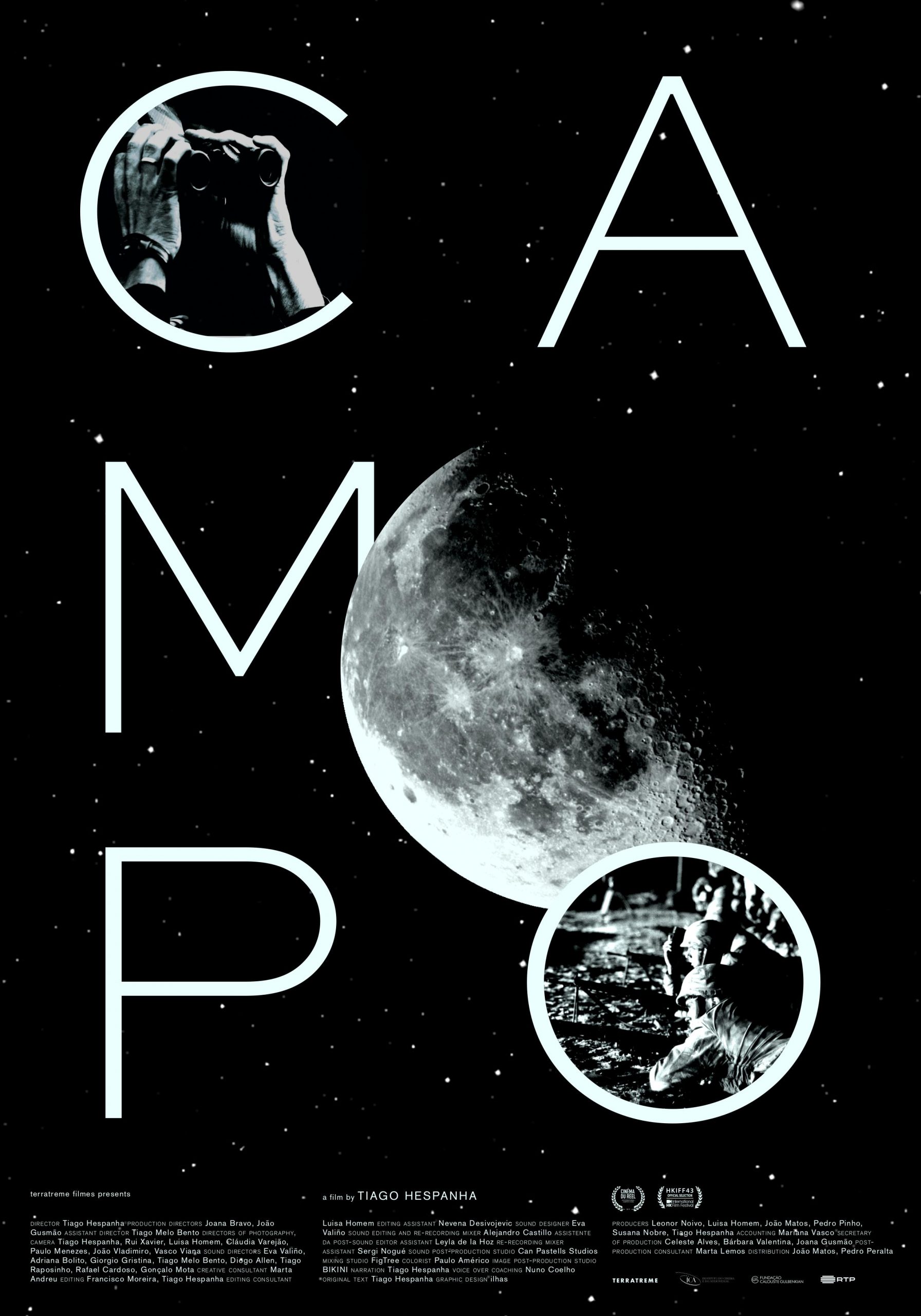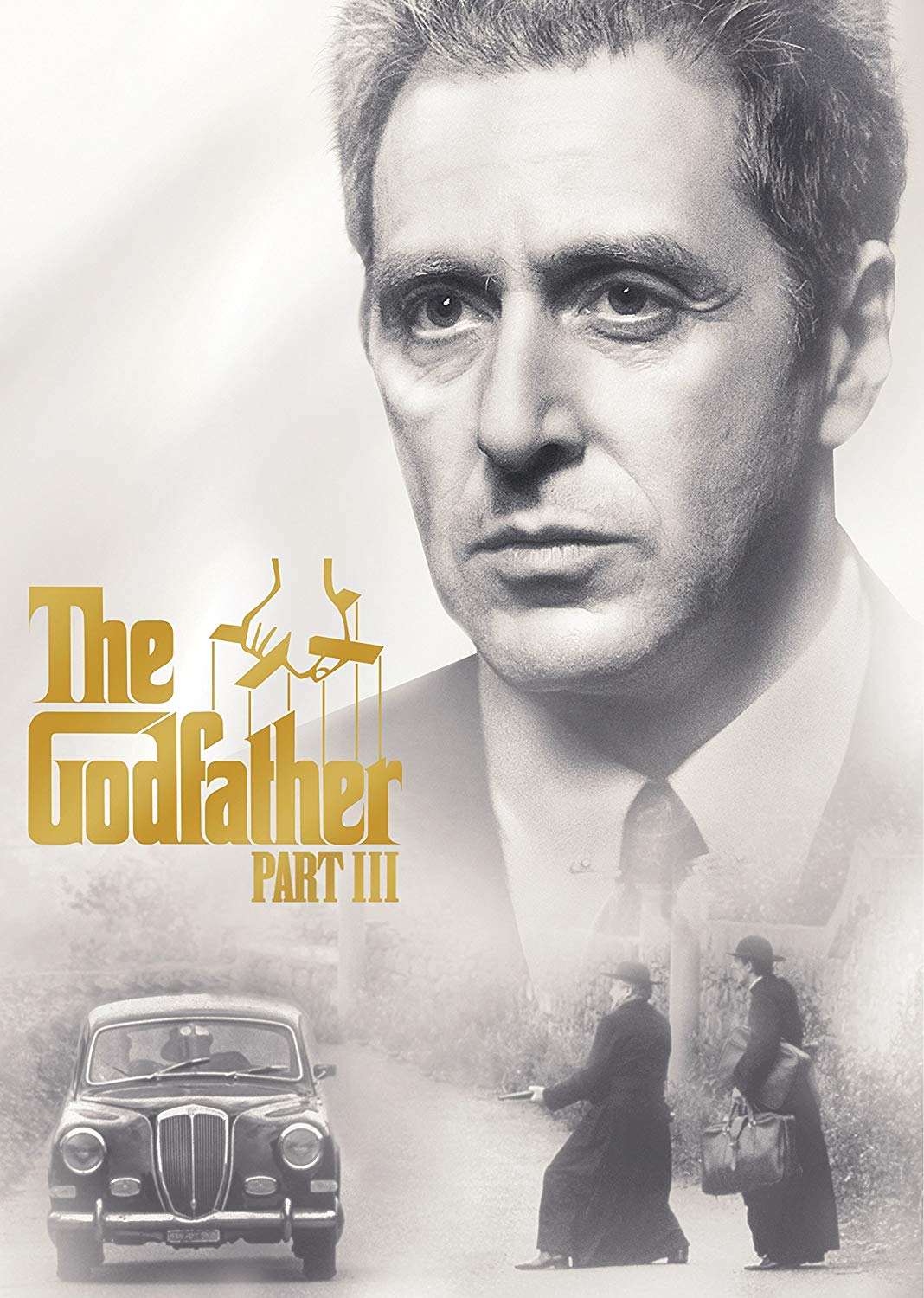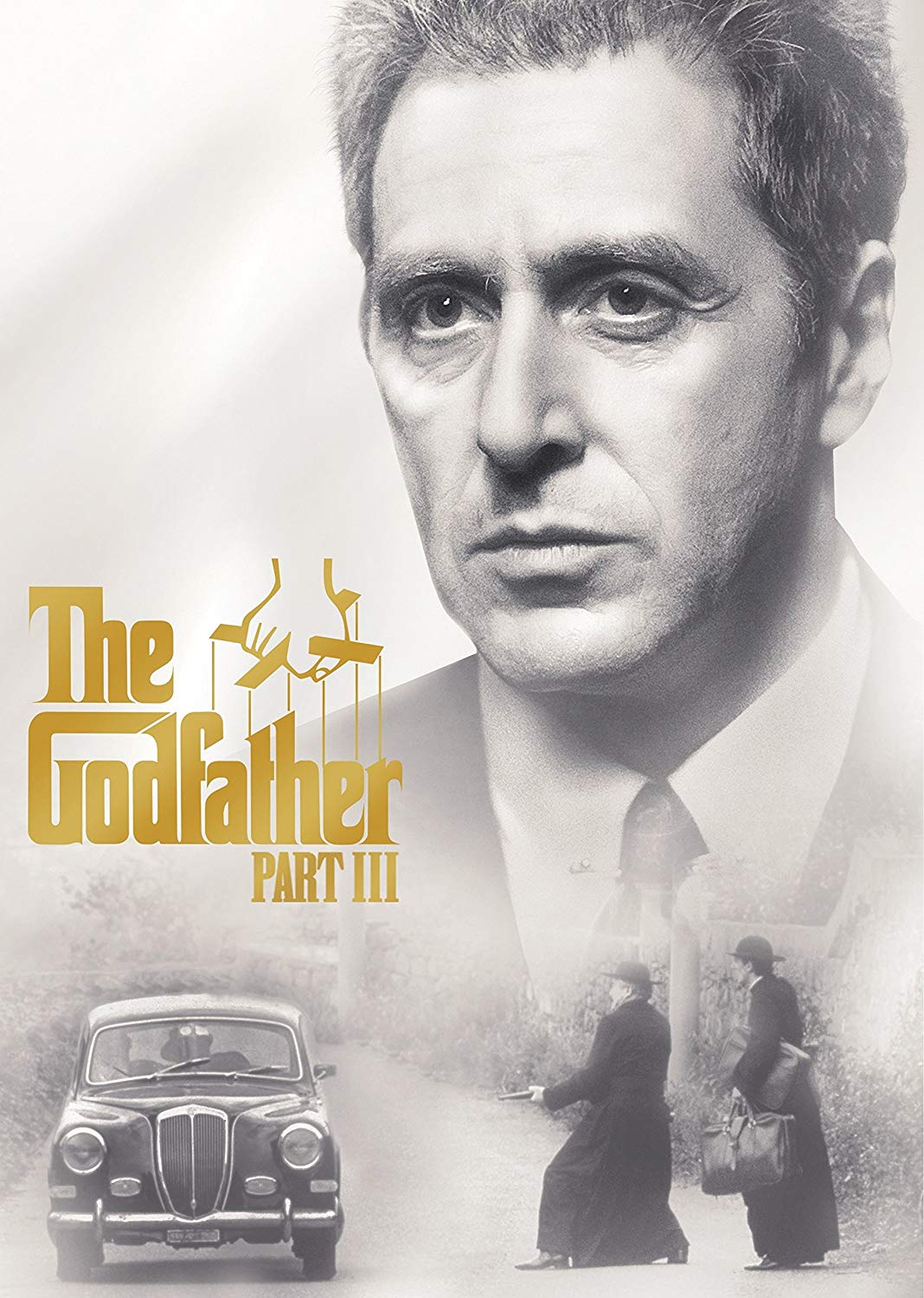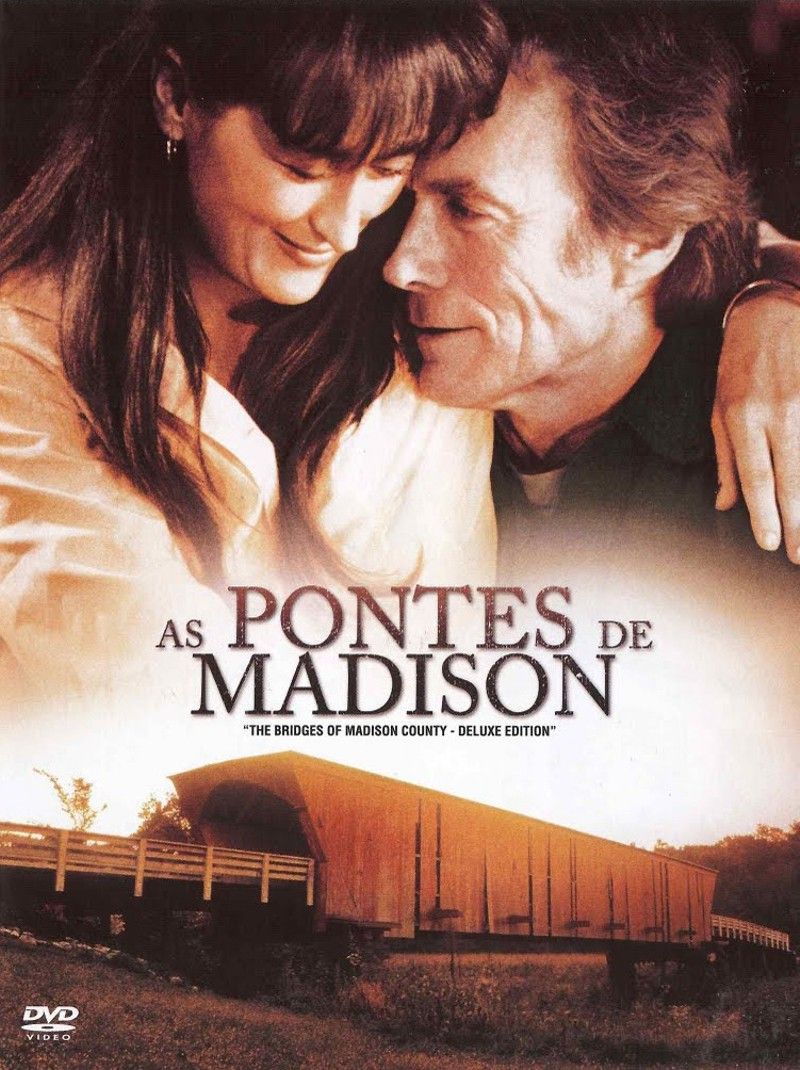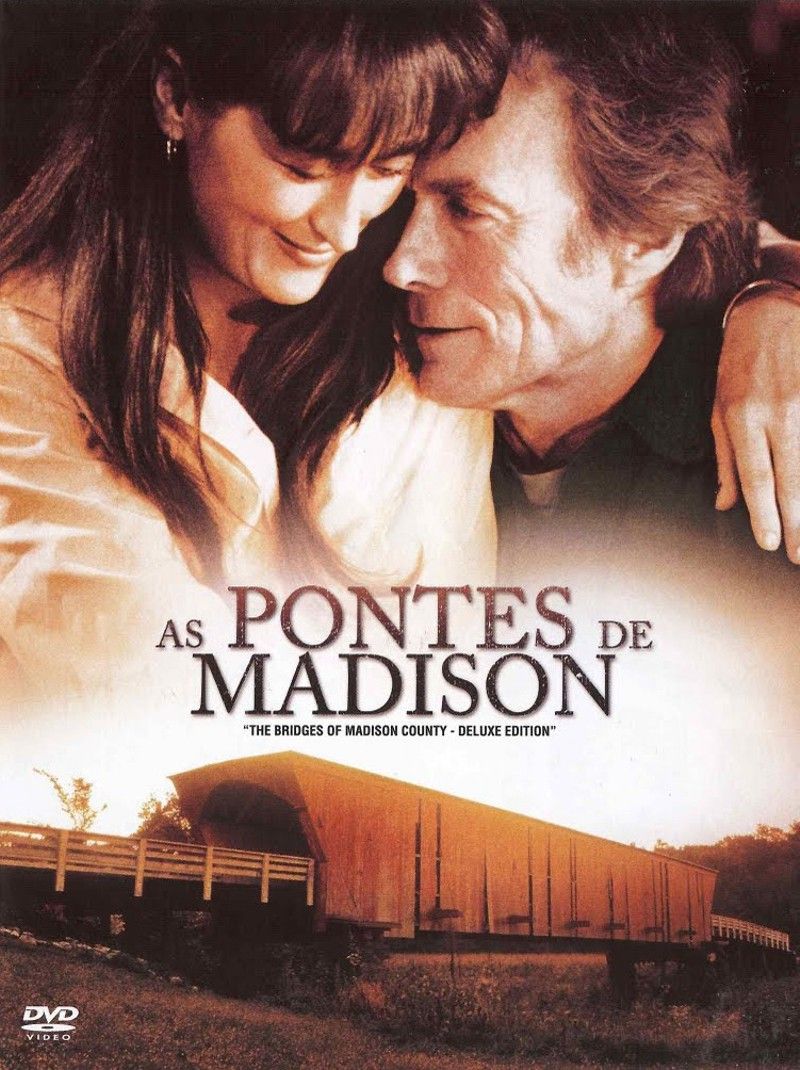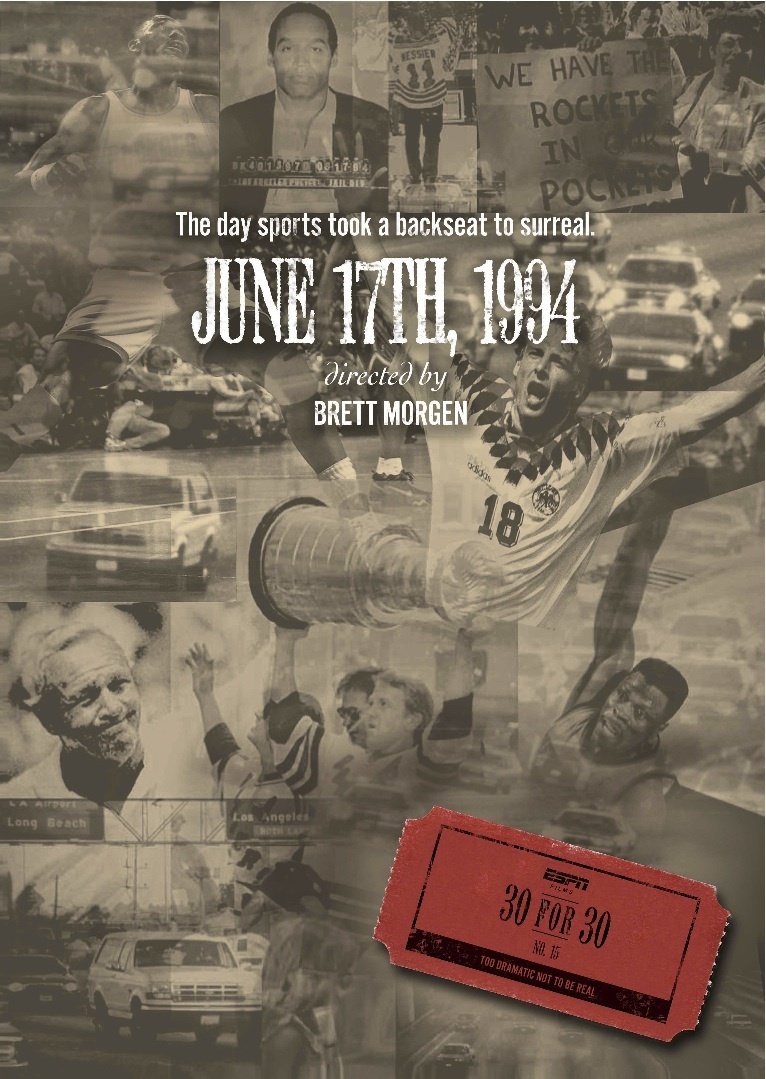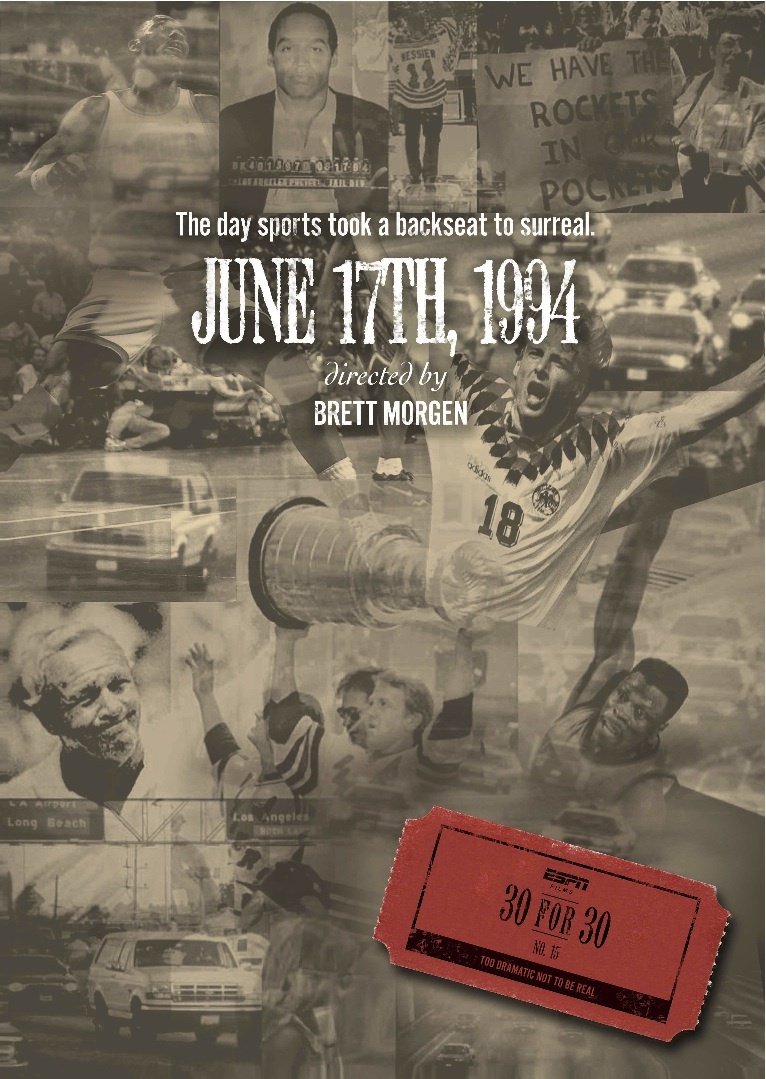Jornada nas Estrelas O Primeiro Contato é conduzido por Jonathan Frakes, o interprete de William Riker e diretor de alguns bons episódios de Jornada nas Estrelas A Nova Geração. Esse que é o oitavo filme da franquia (segundo da tripulação de TNG) resgata o melhor vilão disparado desta versão, os seres robóticos e parasitários conhecido como os Borgs. Esse é considerado por boa parte dos trekkers como o melhor episodio desta parte da cine serie.
Dentre os outros filmes da equipe de Picard (Patrick Stewart) e companhia, esse é de fato o que tem uma abordagem mais bem resolvida, desde o inicio a historia varia entre os flashbacks de Picard como Locutus, que era a liderança borg que ele foi em meio as temporadas de TNG (The Next Generation, nome original de A Nova Geração), aproveitando algumas das pontas soltas relacionadas a raça alienígena que foi derrotada tempos atrás. Esse, ao contrario de Jornada nas Estrelas – Gerações não tem qualquer receio de parecer um grande episódio duplo da série derivada, e ele até é em alguns momentos, mas este foge das formulas das adaptações oriundas de outros seriados, com uma linguagem narrativa de fato cinematográfica e visualmente arrojada, tal qual havia sido com Jornada nas Estrelas 3 – À Procura de Spock e Jornada nas Estrelas 4 – A Volta Para Casa, também conduzidas por um ator clássico, no caso, Leonard Nimoy.
A música de Jerry Goldsmith embalam os longos créditos iniciais, fato que aliás, já situa o espectador na real atmosfera de blockbuster que virá a seguir. Mesmo a utilização de clichês de Sci Fi, como a viagem no tempo é muito bem explorada, graças e muito a participação de James Cromwell como Zefram Cochran, o pioneiro em viagens espaciais da Terra, o sujeito que constrói o primeiro motor de dobra terráqueo, introduzido em Jornada nas Estrelas: A Série Clássica.
O modo como o doutor é apresentado é ótimo, pois ele é um sujeito inseguro,beberrão, que não acredita em seu potencial, fato que humaniza o ícone e dá chance a um dos momentos mais engraçados do longa, com a conselheira Deanna Troi (Marina Sirtis) ficando ébria com o visionário cientista. Além desse ser um bom contraste com o outro núcleo, que enfrenta uma guerra, também se dá alguma importância aos personagens da tripulação principal, sem forçar tanto a necessidade de dar espaço para cada personagem.
O que realmente não faz sentido é a lenta adaptação dos borgs aos humanos, como se houvesse uma reformulação completa nessas criaturas, fato que permitiu que fossem mais falhas. As soluções para elas na serie fazem.mais sentido do que aqui, especialmente na questão da liderança. O conceito da Rainha feita por Alice Krige também é um conceito estranho, um retcon bastante mal pensado.
De positivo – e ate um pouco original – e bem desenvolvido, foi o apreço da coletividade por Data (Brent Spinner). Faz todo sentido que a raça parasitária que tanto mal fez a sociedade galática e consequentemente a Federação Estelar se interesse pela figura sintética e robótica mais bem desenvolvida entre todas as tentativas das civilizações conhecidas. A criação do Doutor Soong tem muito em comum com os seres que quase deram fim a humanidade e a todo o resto das raças conhecidas.
O ritmo e edição salvam demais o filme do marasmo e da problemática proveniente das coincidências do roteiro, e mesmo as participações de Robert Picardo e Ethan Phillips de Voyager são pequenas, discretas e bem cabíveis, mesmo Reginald Reggie Barclay (Dwight Schultz) tem boas aparições. O mesmo pode-se dizer de quase todo o resto dos personagens recorrentes.
Mesmo com alguns equívocos, o filme transmite uma boa mensagem, entretém e utiliza bem alguns aspectos do cânone de Star Trek, como a utilização dos vulcanos como alvos do tal primeiro contato, a atenção com os seriados vigentes na época – Deep Space 9, que empresta o uniforme aos personagens do longa e Voyager, nas participações já citadas – fazem esse ser talvez o mais coeso dos produtos extra-série de Jornada nas Estrelas.
O Primeiro Contato consegue resultar em uma aventura divertida, que tem pitadas de escapismo com conceitos de alto sci-fi e um pouco do Complexo de Frankenstein que Isaac Asimov sempre reclamava ser popular, e mesmo com todos os senões, diverte bastante, e é atento com todos os mandamentos que Gene Ronddenberry, Rick Berman e Brannon Braga utilizavam em seus programas de TV, evocando o mesmo espírito aventureiro, se preocupando também com o cerne de cada um de seus personagens.