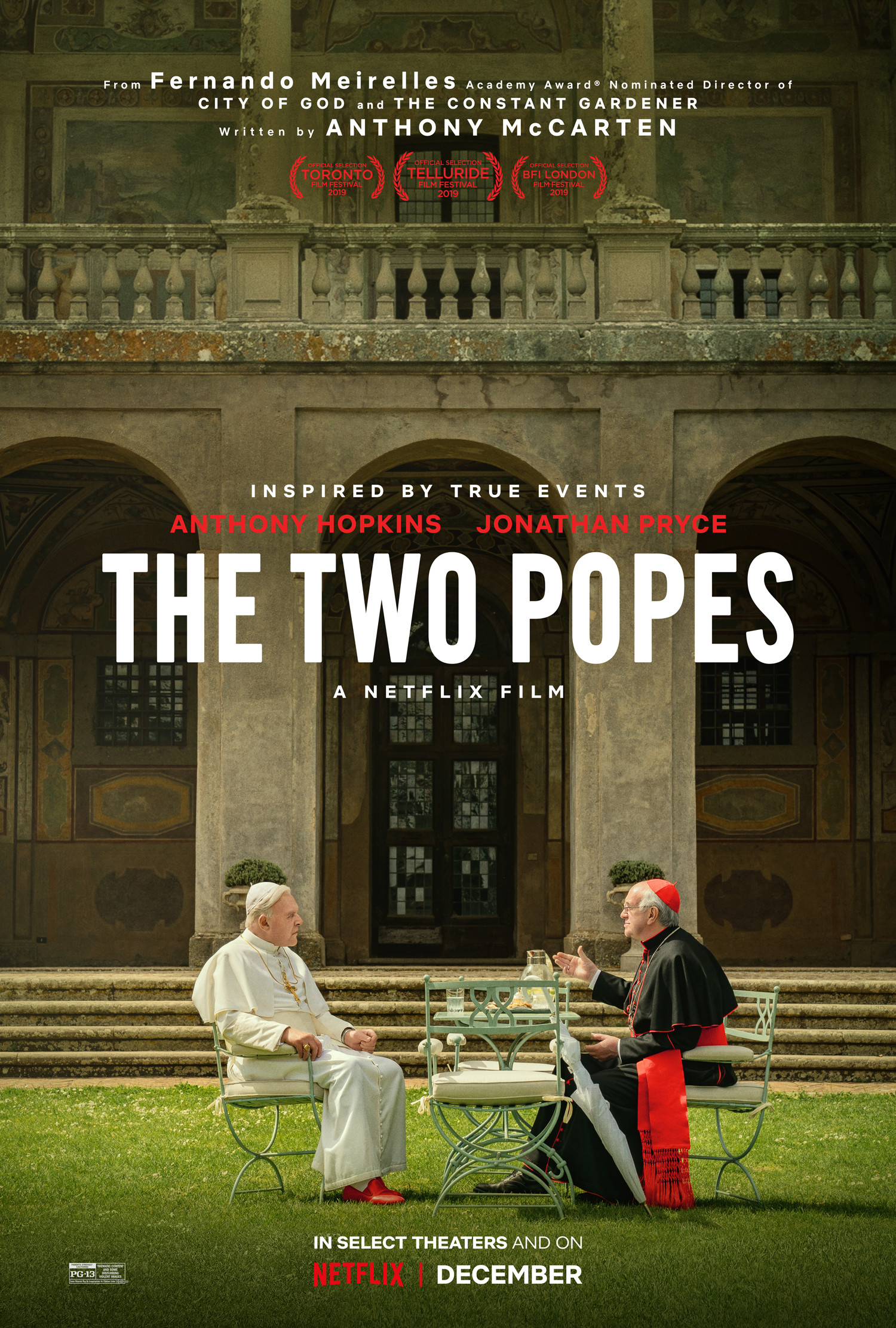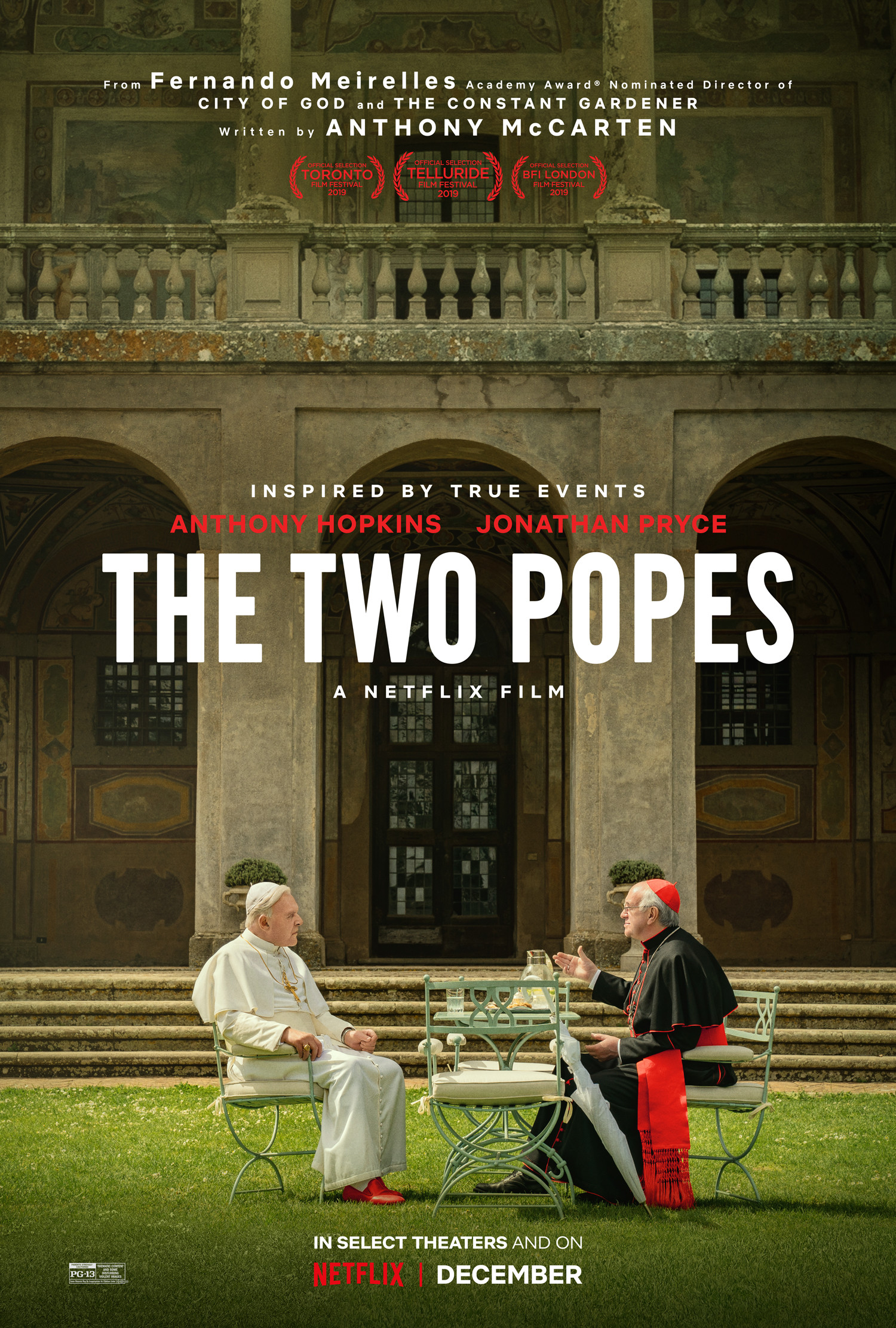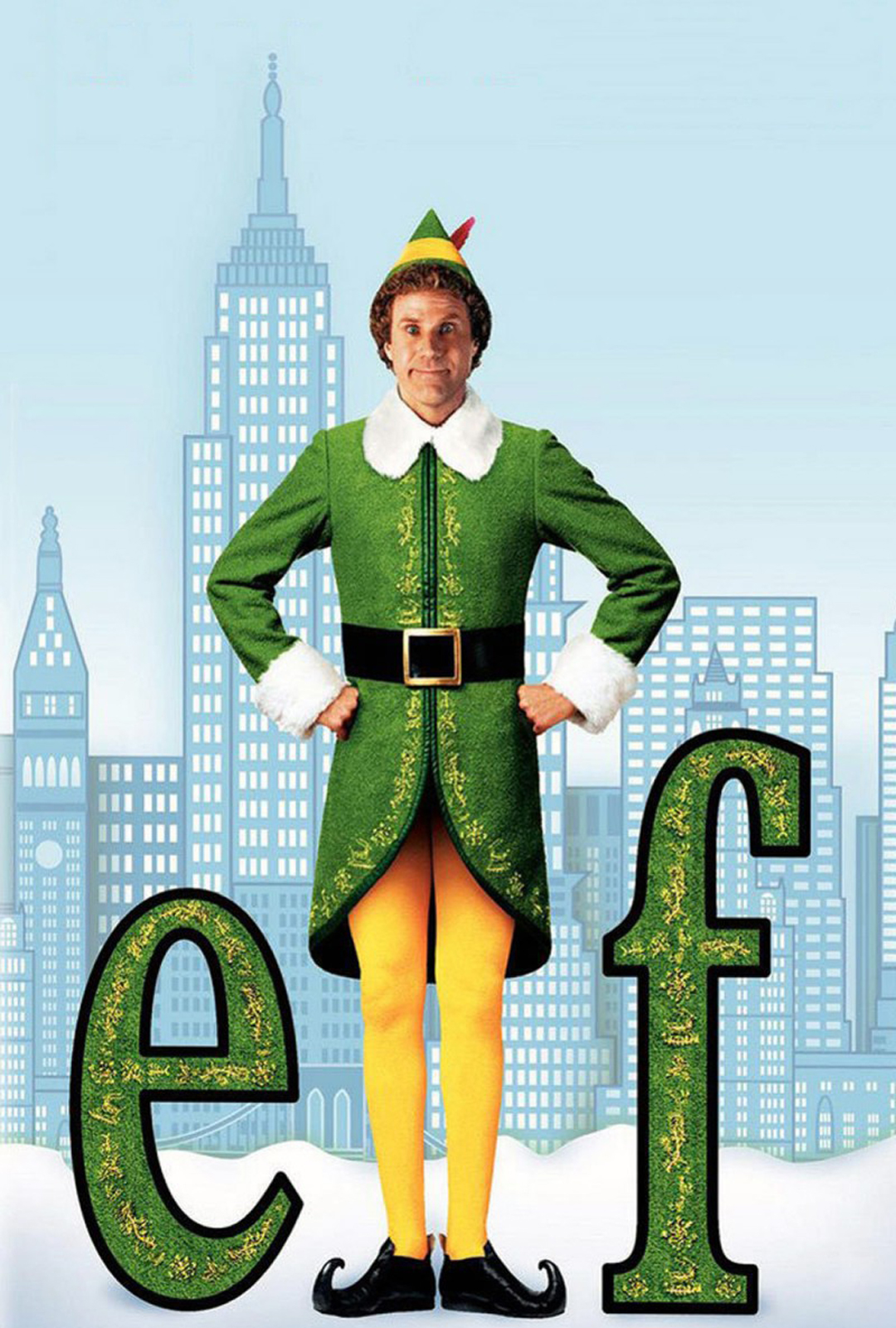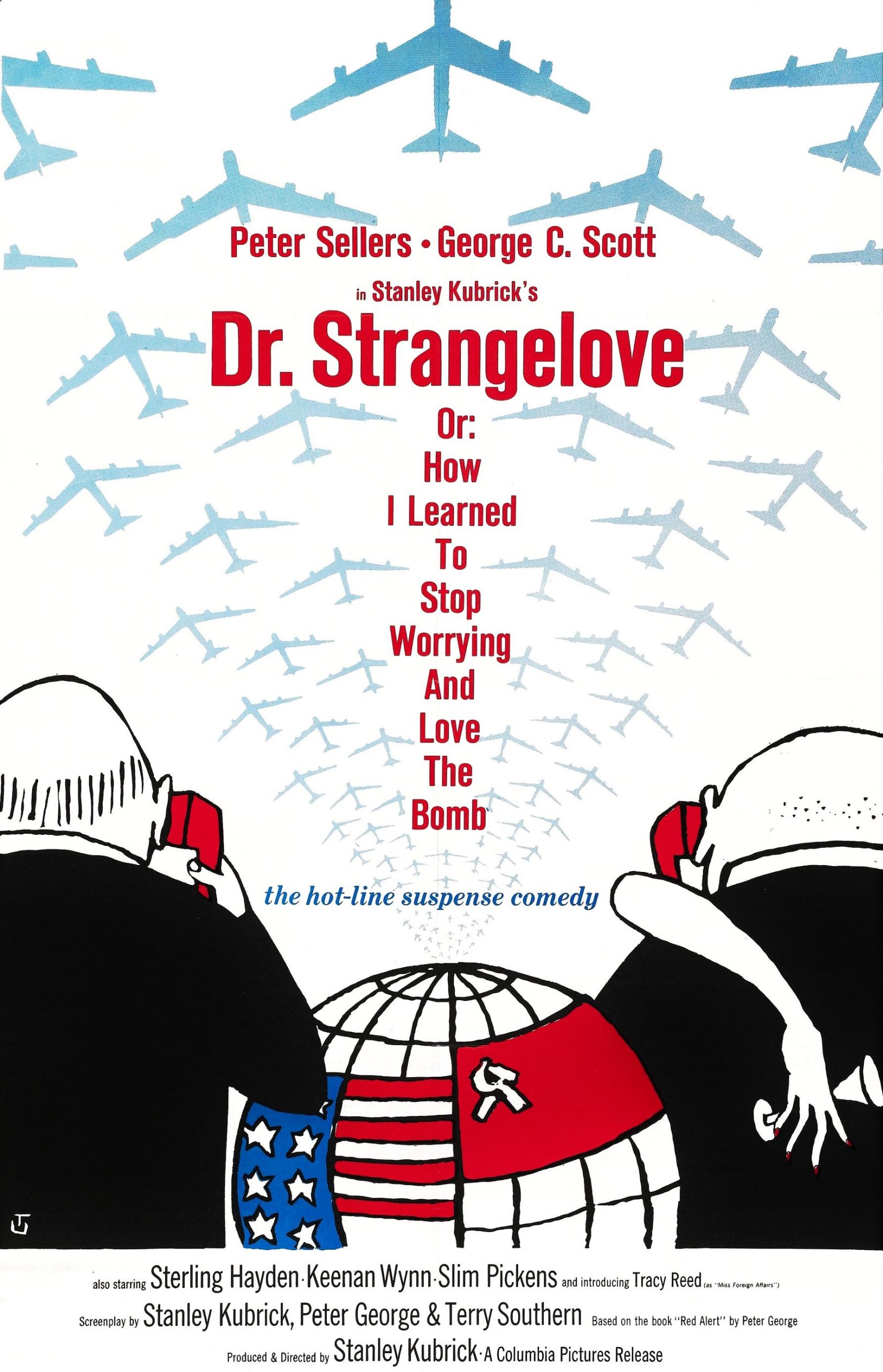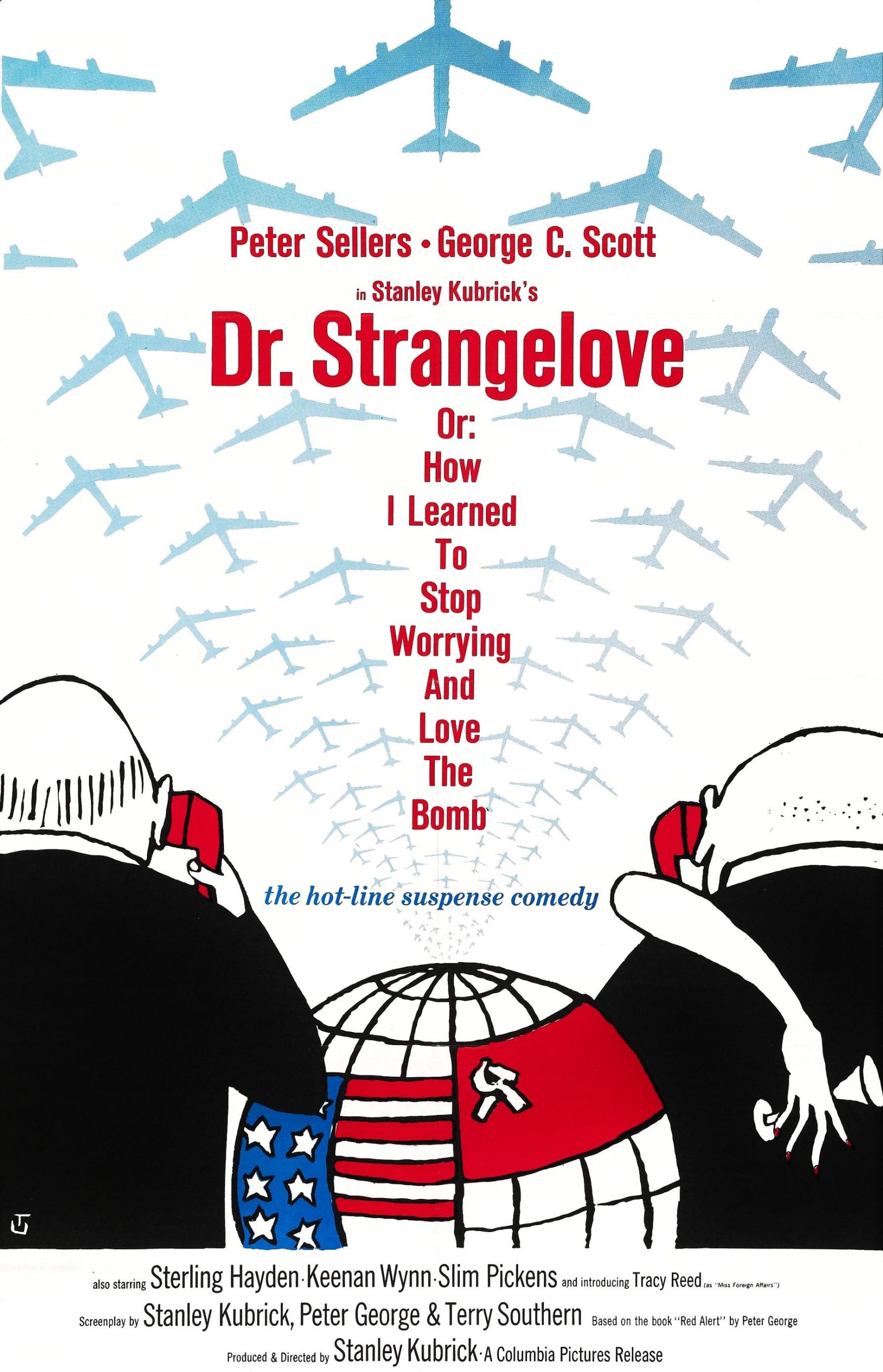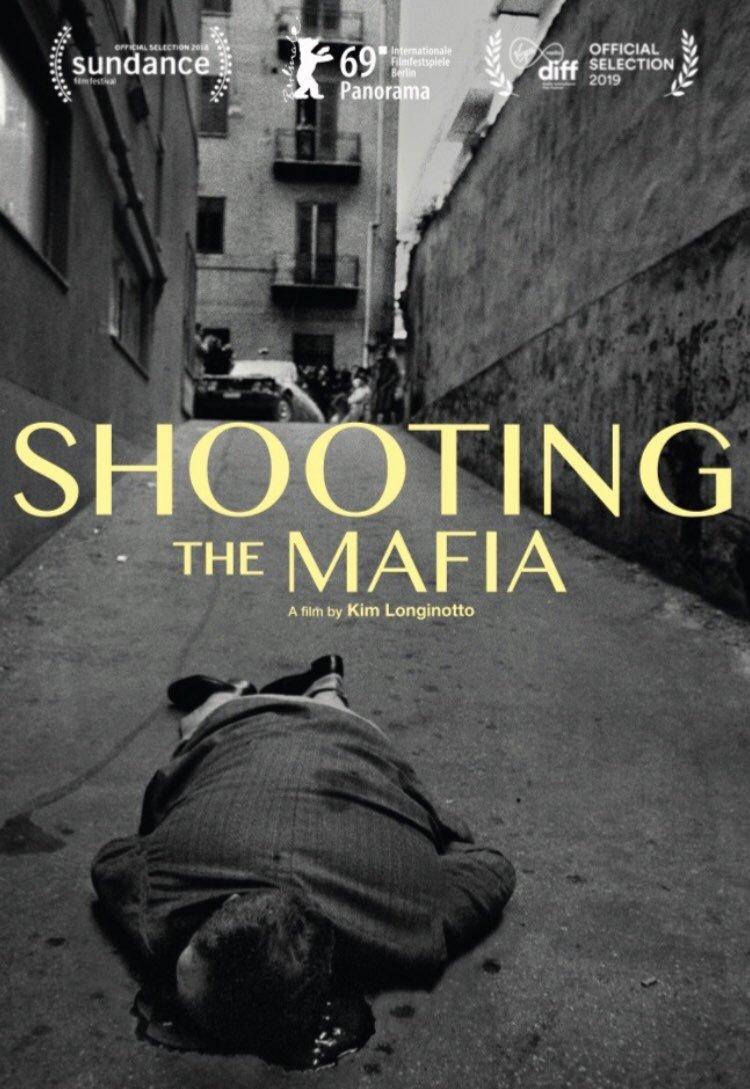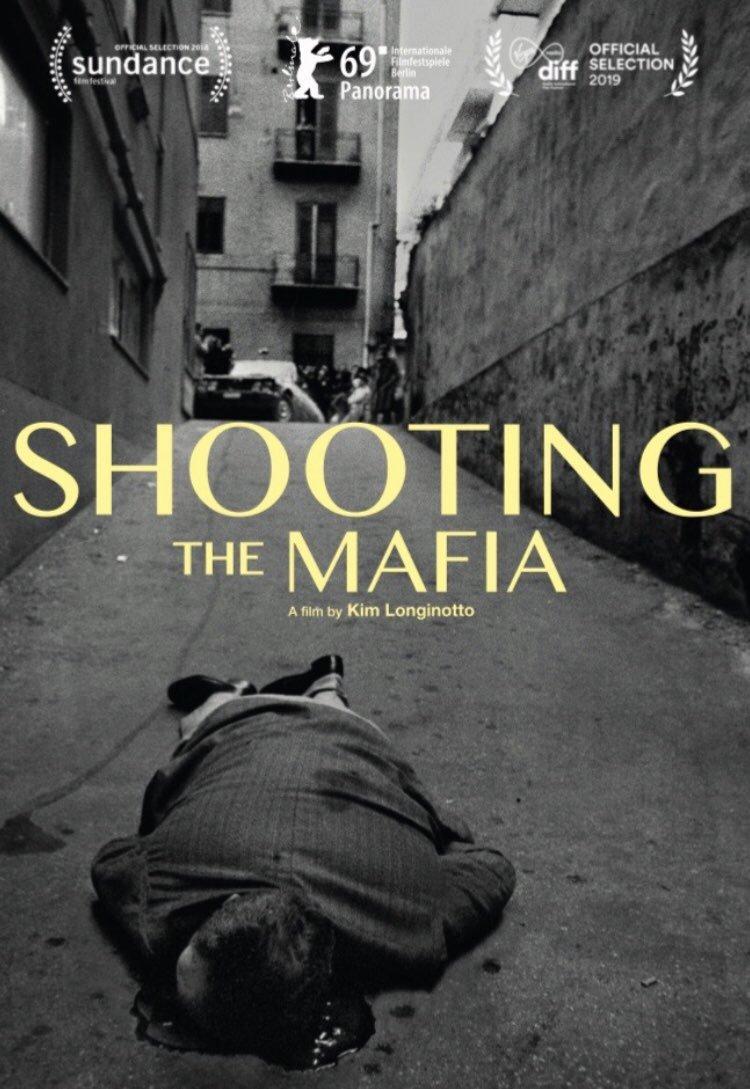Após ter adaptado com maestria o livro O Poderoso Chefão de Mario Puzo, apenas dois anos depois do filme O Poderoso Chefão, Francis Ford Coppola, sua equipe de produção e elenco retornam para este novo toma de história, que traduziria a parte de flashbacks do livro que contava sobre a juventude do Don Vito Corleone na Sicília – feito dessa vez por Robert DeNiro – enquanto também dava seguimento aos acontecimentos da família na atualidade, comandada de novo por Michael, personagem de Al Pacino.
As primeiras cenas de O Poderoso Chefão II dão conta dos empregados e paisanos, participando de uma festa de Michael, o aniversário de seu filho. Os que frequentam o lugar o tratam como fizeram com Vito Corleone no casamento de Connie, normalmente beijam as mãos de Michael, prestando homenagem a ele, já que é o atual e novo Don, e por mais que esse seja um filme que intui ser bom independentemente do primeiro episódio
Ao mesmo tempo que há essa preocupação de ser algo independente a tolice de se negar o primeiro capítulo da saga, bem como seu legado, assim como há o cuidado de mostrar uma realidade mais simples, siciliana, com o enterro do velho Andolini em 1901 e o infortúnio do pequeno Vito, que perde seu pai e seu irmão em um período muito próximo. A essa altura, se acreditava que Vito era mudo, que não gozava da plenitude de seus sentidos e faculdades mentais, e sua mãe, implorou ao chefão mafioso local que poupasse o menino. Esse era Don Ciccio, feito por Giuseppe Sillato, e foi dessa fraqueza que surgiu a figura imponente, que no futuro, dominaria os negócios ilegais na Little Italy de Nova York.
Toda essa jornada reflete uma forte influencia do teatro clássico, desde Sófocles até artistas mais contemporâneos como Shakespeare, e apesar de não ser exatamente original, há ali todo um cuidado em retratar uma realidade bem longe do glamour que acusavam a trilogia de Coppolla de ostentar, e de fato, ao ir atrás das raízes da família Andolini/Corleone, se humaniza toda a jornada torpe rumo ao crime, mas não a faz ser moralmente correta, tanto que um dos lemas da Saga é voltada para o assumir de que aquela é a vida que eles escolheram, com todos os infortúnios decorrentes dessas escolhas. A gênese da Família é voltada para a violência, o pequeno Vito não vê outra alternativa a não ser correr, condenado por Ciccio a ou morrer ou a vagar por lugares que não eram os seus.
O garoto teve sorte de ter uma família caridosa, que o enviou para a “terra das oportunidades”, onde ele teve a oportunidade de trabalhar, crescer e constituir família, claro, com dificuldades típicas de um estrangeiro. Coppola e Puzo tomam cuidado para dar voz a um povo sofredor, e utilizam um menino com dificuldades de fala para explicitar isso, através de seus filmes, mostra uma parte desigual e sanguinária do país que sempre se julgou o mais justo e ordeiro dos lugares.
É até injusto chamar a introdução que dura onze minutos de prologo, uma vez que ela casa bem com a historia recente, fomenta a ideia de repetir ciclos, e ainda mostra as marcações em cima dos meninos que chegam de barcos semelhantes e muito a marcação que se faziam nos judeus na Alemanha Nazista, embora as circunstancias do holocausto fossem clamorosamente diferentes, havia a sensação do Apartheid. Além disso, as duas linhas temporais se misturam.
O roteiro não tem medo de quebrar seus paradigmas, há semelhanças claro com o casamento de Connie (Talia Shire) do primeiro filme, mas há também um bocado de diferenças, não só nas vestimentas e posturas – Kay Adams Corleone por exemplo usa roupas com cores átonas – e toda a família orbita em torno do Don, mas claramente não existe da parte de Michael o mesmo cuidado que seu pai tinha. Ele é mais vaidoso e centralizador, parece seduzido pelo poder e tem gosto por ele, ao contrario de seu antecessor, que era discreto, isento de ambição e tinha o poder como norte por necessidade e não por desejo próprio.
Entre negociatas e acordos, ele conversa com senadores e com subalternos, desde os “descendentes” de Clemenza, que permaneceram em Nova York – Frank Pentageli, de Michael V. Gazzo e Willi Cicci (Joe Spinell) – até os eméritos e famosos, que não ligam para a tradição italiana. Há uma cena que resume isso bem, envolvendo Frank, que tenta obrigar a banda do aniversario a tocar a Tarantella, mas não consegue, uma vez que eles não sabem tocar aquilo. Apesar de pequena, a demonstração ali é de que os tempos do crime organizado mudaram drasticamente, ao ponto desta nova geração não saber lidar com isso do modo como os antigos faziam.
É incrível como a moralidade em relação a assuntos comportamentais impera, ainda mais quando toca o sexo, mas para ilegalidades em negócios não é alta. Impressiona também como em Nova York as coisas mudaram, a profecia de Don Vito se cumpriu, os Irmãos Rosato, que deveriam ter territórios após a morte de Clemenza, não os tem entregue por desculpas de Frank de que eles vendiam muitos entorpecentes. Os sete anos foram inclementes com os Corleone de Nevada e da cidade antiga, não houve legalização dos trabalhos, tampouco havia uma hegemonia indiscutível na cidade natal do clã.
O crescimento do comportamento criminoso de Vito, na fase passada é feito de modo quase didático, com um passo de cada vez, mas não é tão lento quanto se espera. Desde a dispensa que ele tem até matar Fanucci, o Mão Negra se vê uma frieza e uma enorme falta de escolha, assim como se percebe o início do que seria a organização criminosa, com Clemenza, Genco e companhia com suas contrapartes jovens. Ali já se percebe o cuidado dele para se livrar da arma – momento inclusive referenciado em outros filmes, como Os Bons Companheiros e O Irlandês – do crime, em só mais um símbolo do trabalho dele para se manter incógnito. Ainda assim, ele comete os atos maus, e depois vai descansar com sua família, como em mais um dia de trabalho, transbordando normalidade.
Michael é um belo jogador, ao perceber que sofreu um ataque ludibria os dois maiores suspeitos, os faz pensar que estão livres de seus olhos e de suas suspeitas enquanto as tramoias se desenrolam, e outros tantos tentos, envolvendo toda sorte de influenciadores da sociedade, os políticos inclusos, tudo isso, levado pela batuta de Tom Hagen (Robert Duvall) que certamente só se tornou cascudo assim pelas privações que passou, pois ele age como um autentico Don, autoritário quando precisa.
Se o desafio do primeiro filme era retratar uma Nova York quarentista, o nesse é passar a mesma aura e atmosfera não só em NY, mas também em cenários mais tropicais. Nevada, Cuba, Florida, sempre mostrando a pompa dos que são poderosos. É curioso como o visual e figurino dos personagens pomposos do mundo inteiro não é tão diferente entre si, ao contrário, seus modos e etiquetas mostram um vestuário comum, mais voltado para algo que todos eles tem, pois sequer a língua que falam é a mesma.
A melancolia de Fredo é muito bem representada por John Cazale, o que aliás, é ótimo já que ele foi sub aproveitado na primeira parte. Aqui, ele pode mostrar o quão ressentida ele era por ter sido maltratado por sua mãe, que o renegava e dizia que ele foi deixado por ciganos, ou por seu caçula, que tinha poder e nunca compartilhou com ele. O estado de espírito de Fredo é outro resumo do quão mal vão as relações da família, que tem como exemplo as problemáticas reconciliações entre Connie e todos os outros, o abandono do lar e até a volta dela a casa da Família. Ela, após a morte de sua mãe se torna a grande madre, exige coisas, como o perdão entre os irmãos, além de promessas de ela cuidará do atual chefe da organização/família. Isso é uma semente, que só germinaria no filme dos anos noventa, mas tudo é tão bem costurado que não há como considerar isso como algo oportunista.
As atuações conduzidas por Coppola são assustadoramente absurdas, desde Pacino, que se firma como um dos maiores nomes entre os atores do mundo, até Shire, que prova ser algo a mais que apenas prima do direto. Cazale e Duvall também fazem papeis de peso, que variam entre a tristeza e euforia muito facilmente, e mesmo alguns coadjuvantes, como Gazzo e Cicci traduzem bem como eram os mafiosos, e se não são “realistas”, com certeza ajudaram a influenciar os criminosos do lado de fora da tela.
A saga do herói falido prossegue, com rumos diferentes entre as gerações, e a poesia provinda disso torna toda a ópera de Puzo e Coppola em algo bonito e preocupado em passar uma mensagem além do usual e do comercial, mas sem se distanciar do caráter popular de entreter quem quer que assista.
O Poderoso Chefão II contradiz a pecha de que continuações são exemplares do clichê de mais do mesmo. Há um momento em especial que mostra como Coppola driblou bem a questão de ter que dar continuidade a uma historia, se baseando no material base mas também avançando na fase atual. A cena é a famigerada espera por Vito Corleone, onde Marlon Brando faltou a gravação e o diretor improvisou e adaptou o roteiro de Mario Puzo para contar com a ausência do mesmo, como se todos os estivessem esperando, para comemorar seu aniversario, e lá se percebe as falhas de pensamento e ideal de Michael, seu desejo de não se tornar o seu pai, e ela é seguida de um momento, onde ele está sentado sozinho, em uma cadeira imponente, sozinho como no momento anterior, onde segundo Sonny, ele partiria o coração do velho, por se alistar. Naquele momento, Michael seguiu os passos de Vito, e de fato, partiu o coração do pai ao seguir seus passos, ao não ser alguém diferente. Vito se sentia obrigado a ser um criminoso, Michael não, um era abnegado e o outro vaidoso e carente por aprovação de todos.
https://www.youtube.com/watch?v=mESL4ojdH5A
Facebook – Página e Grupo | Twitter| Instagram | Spotify.