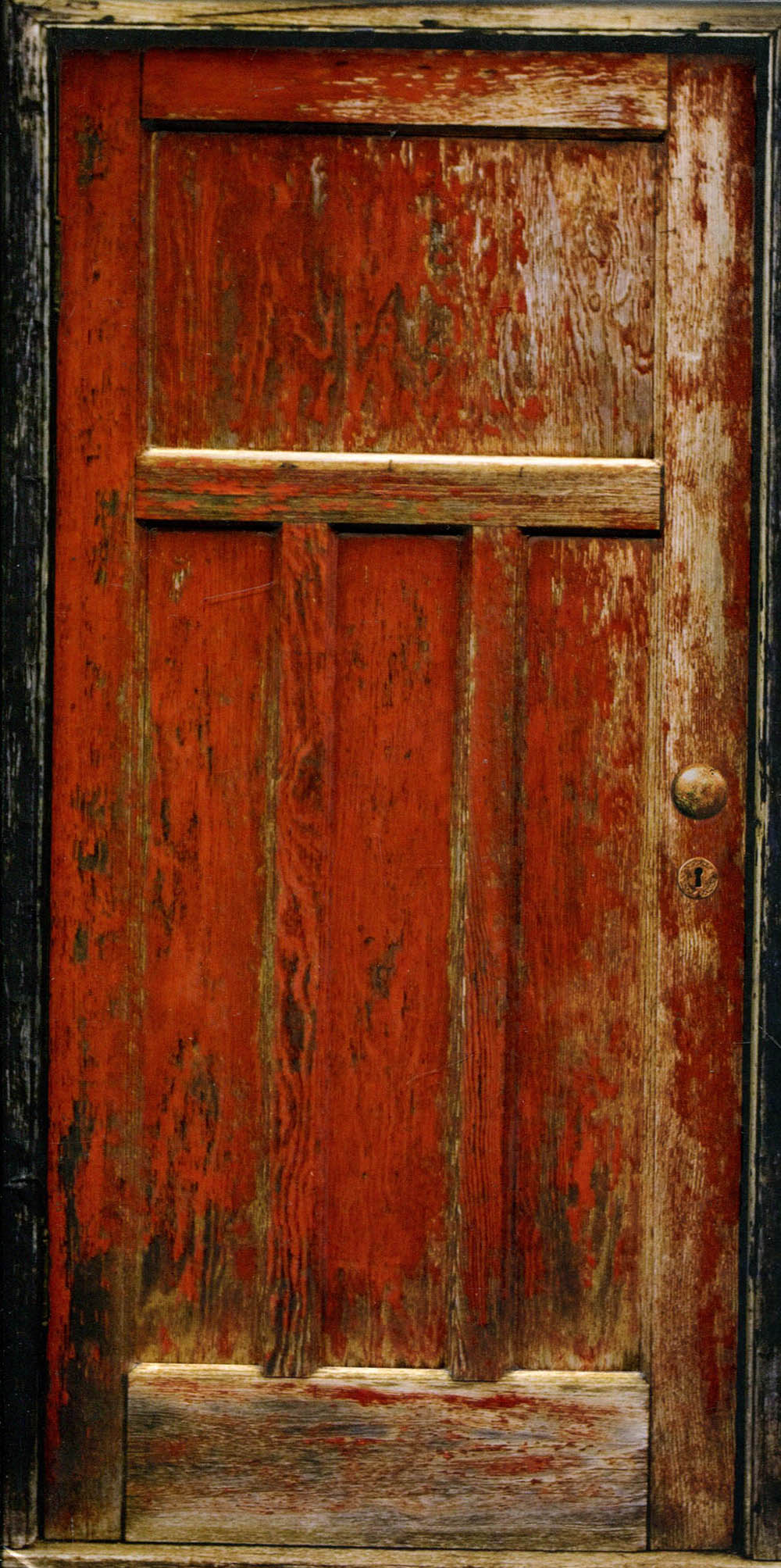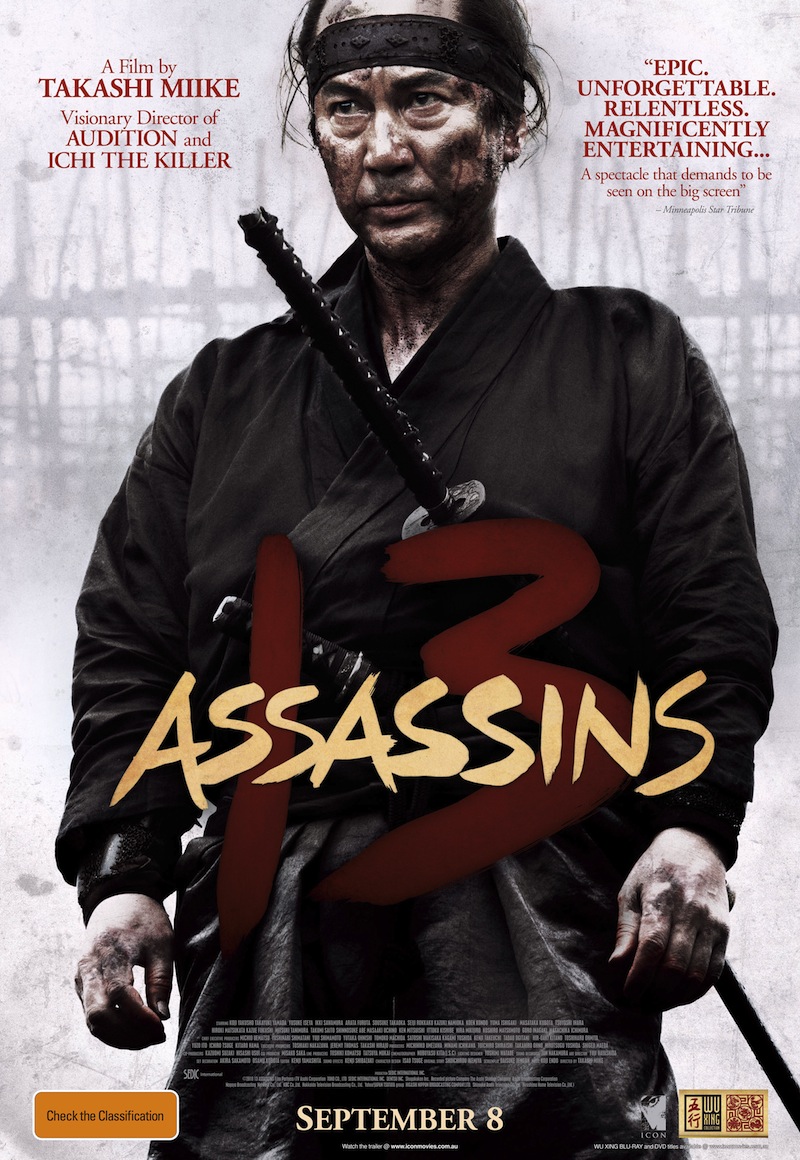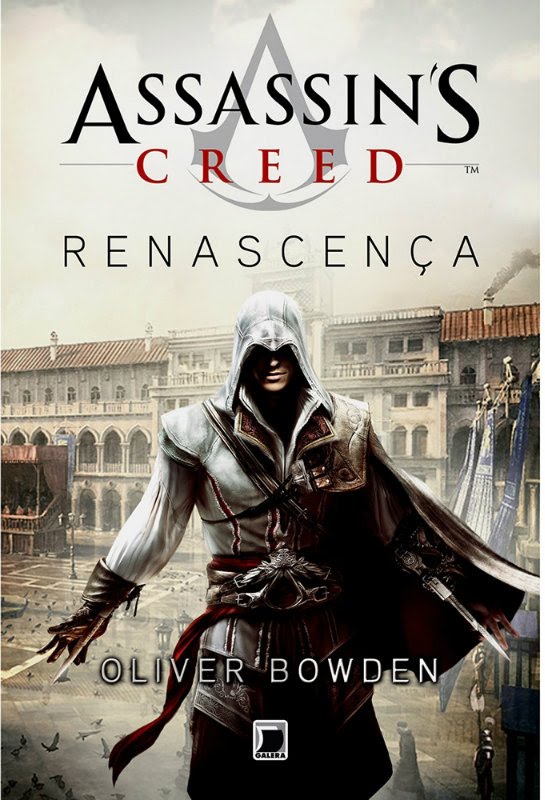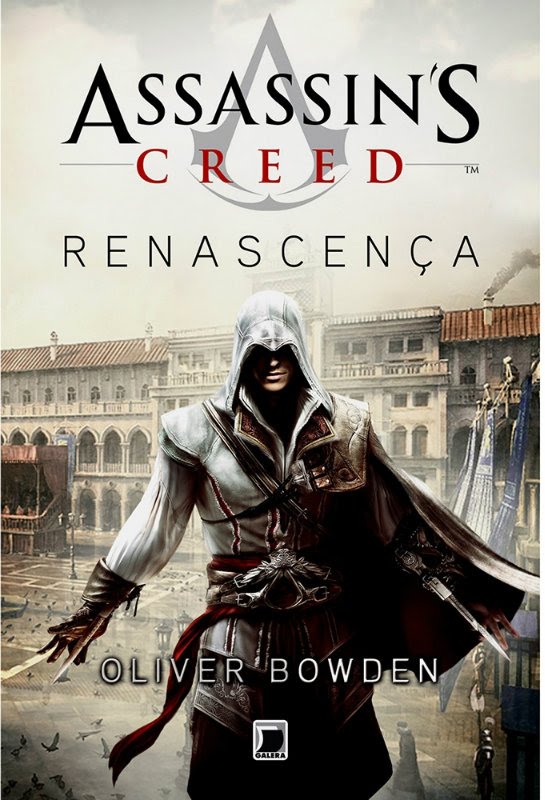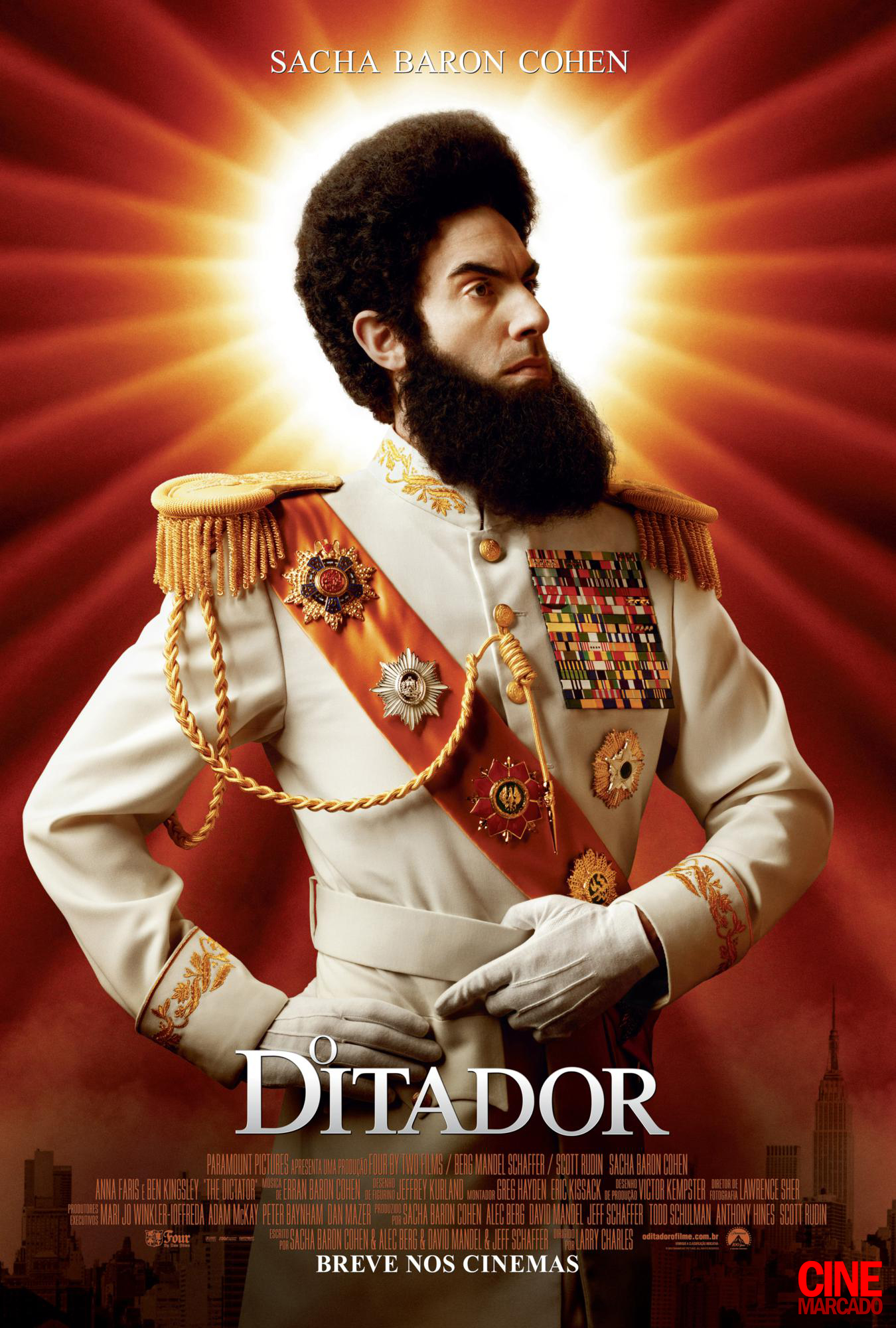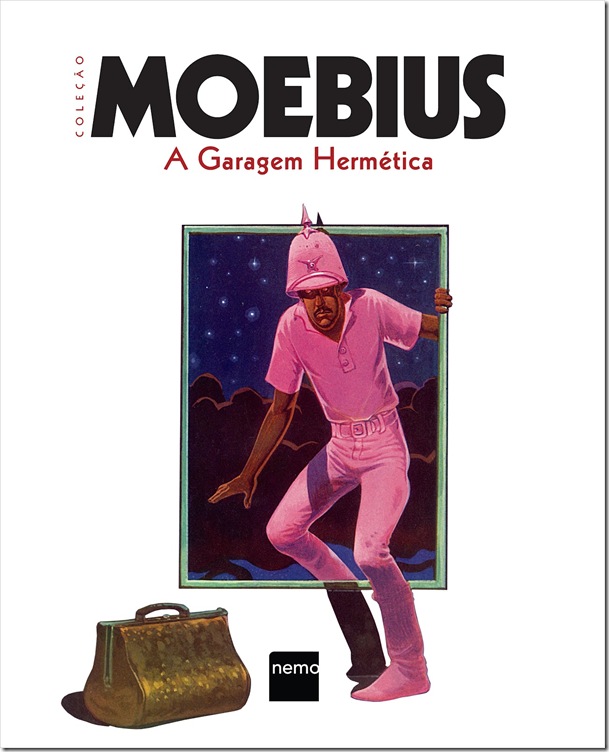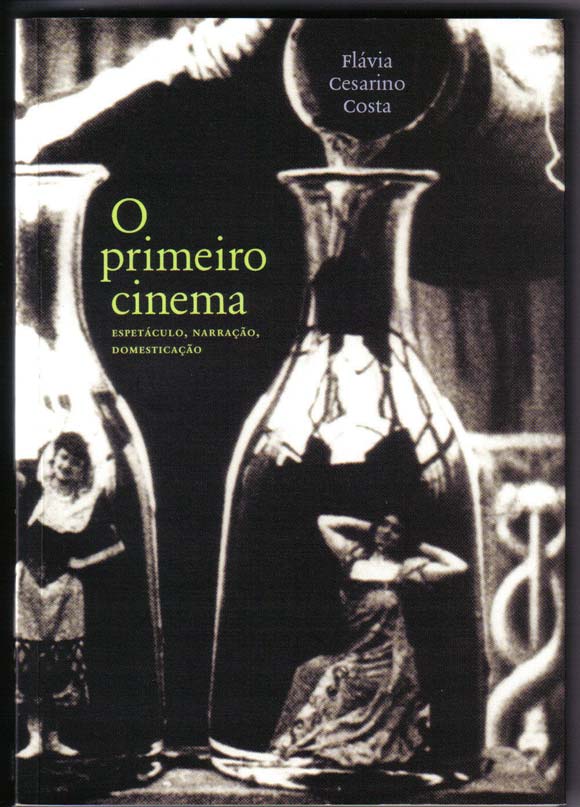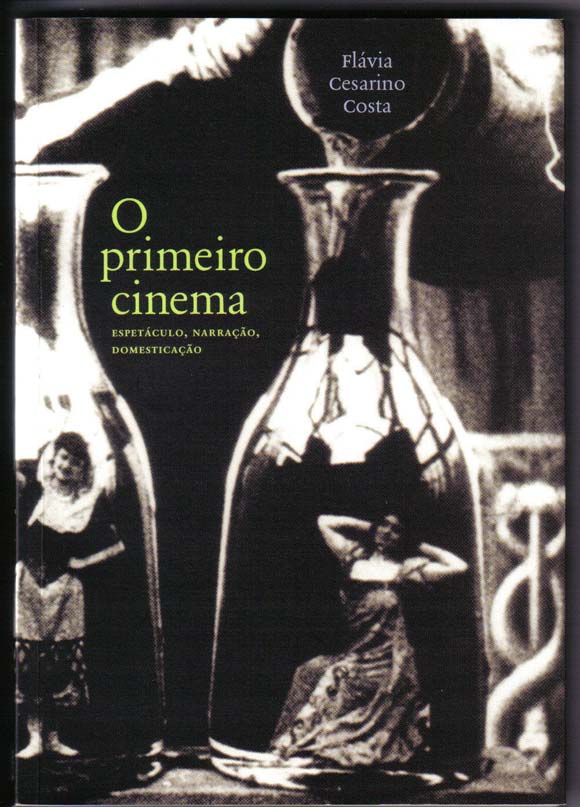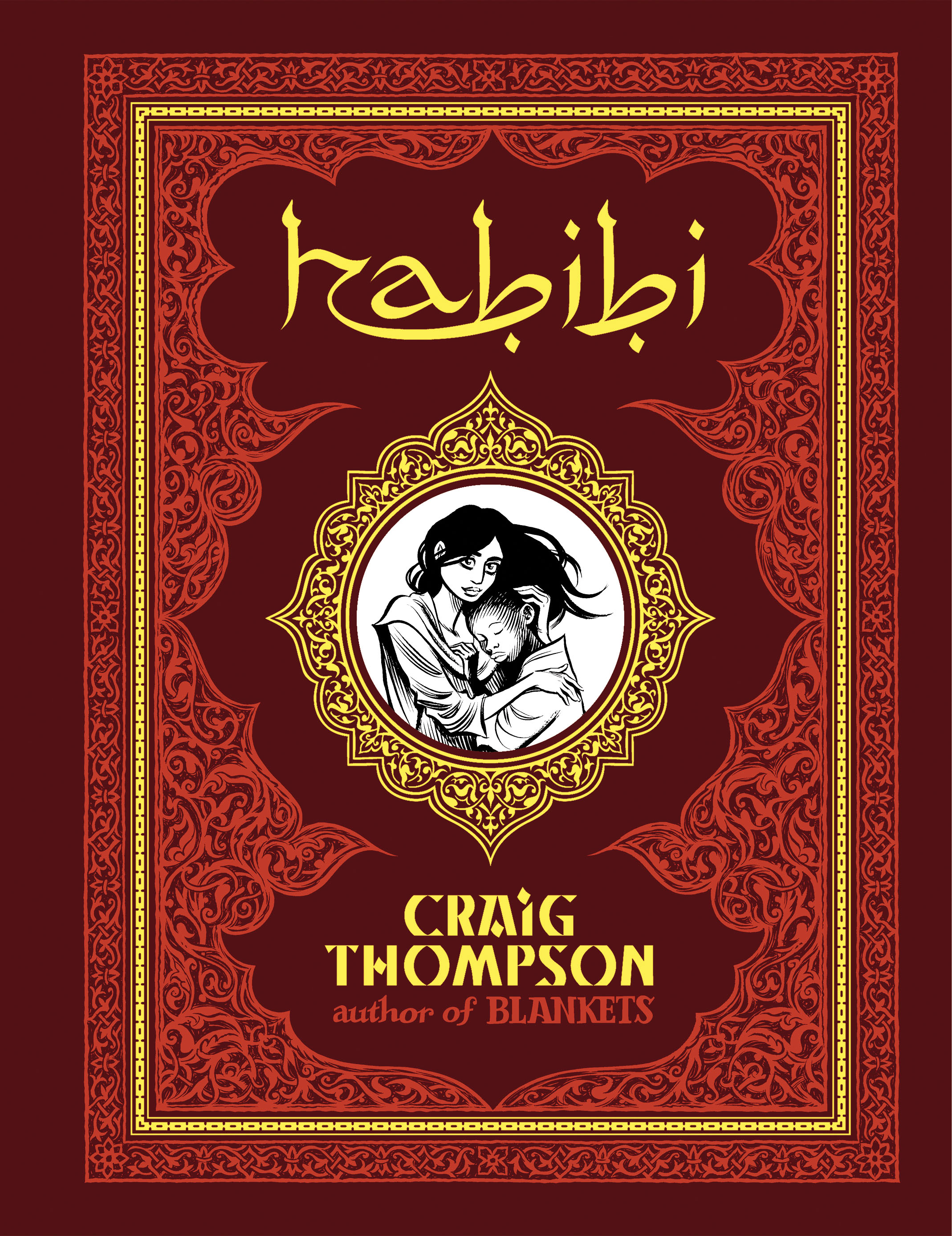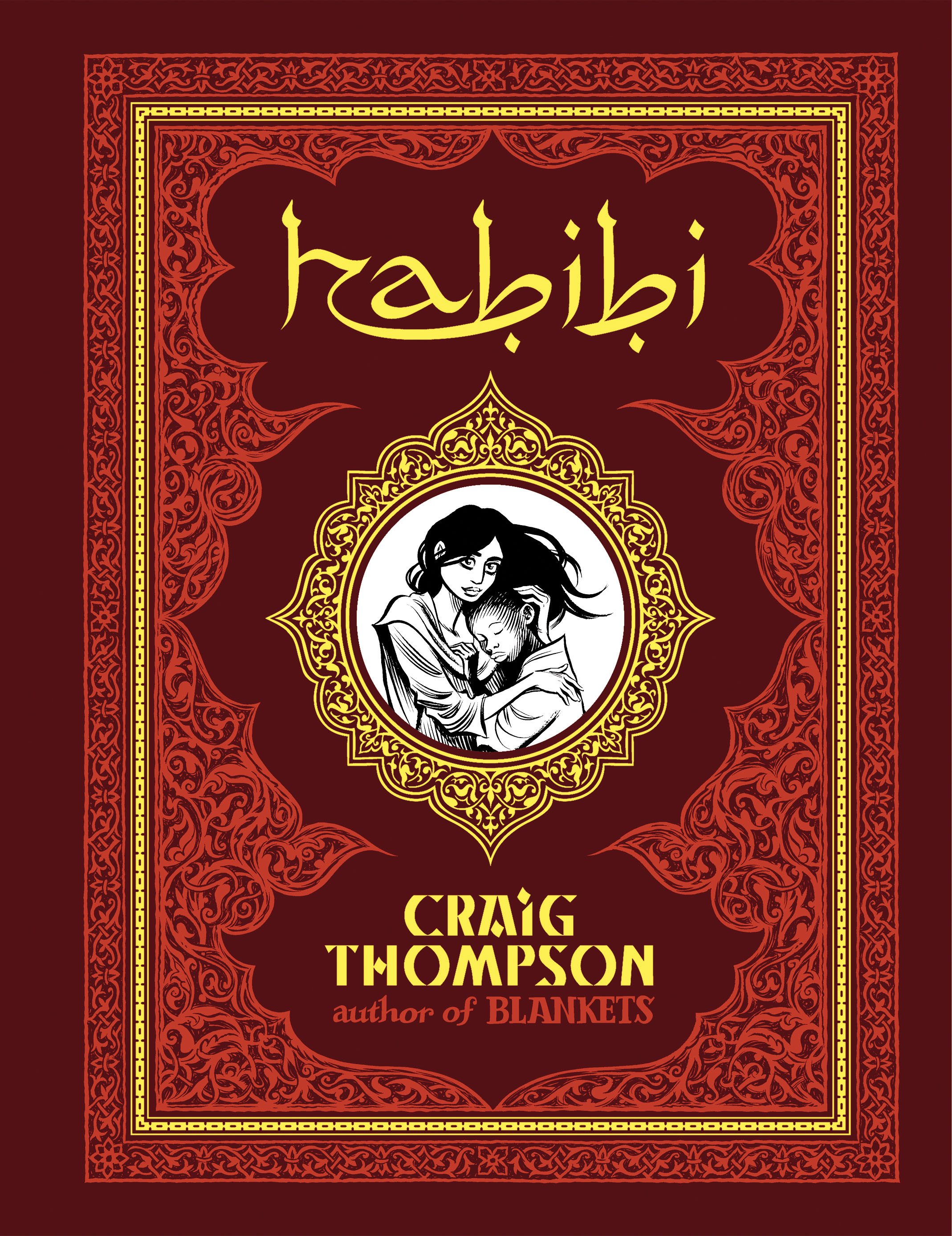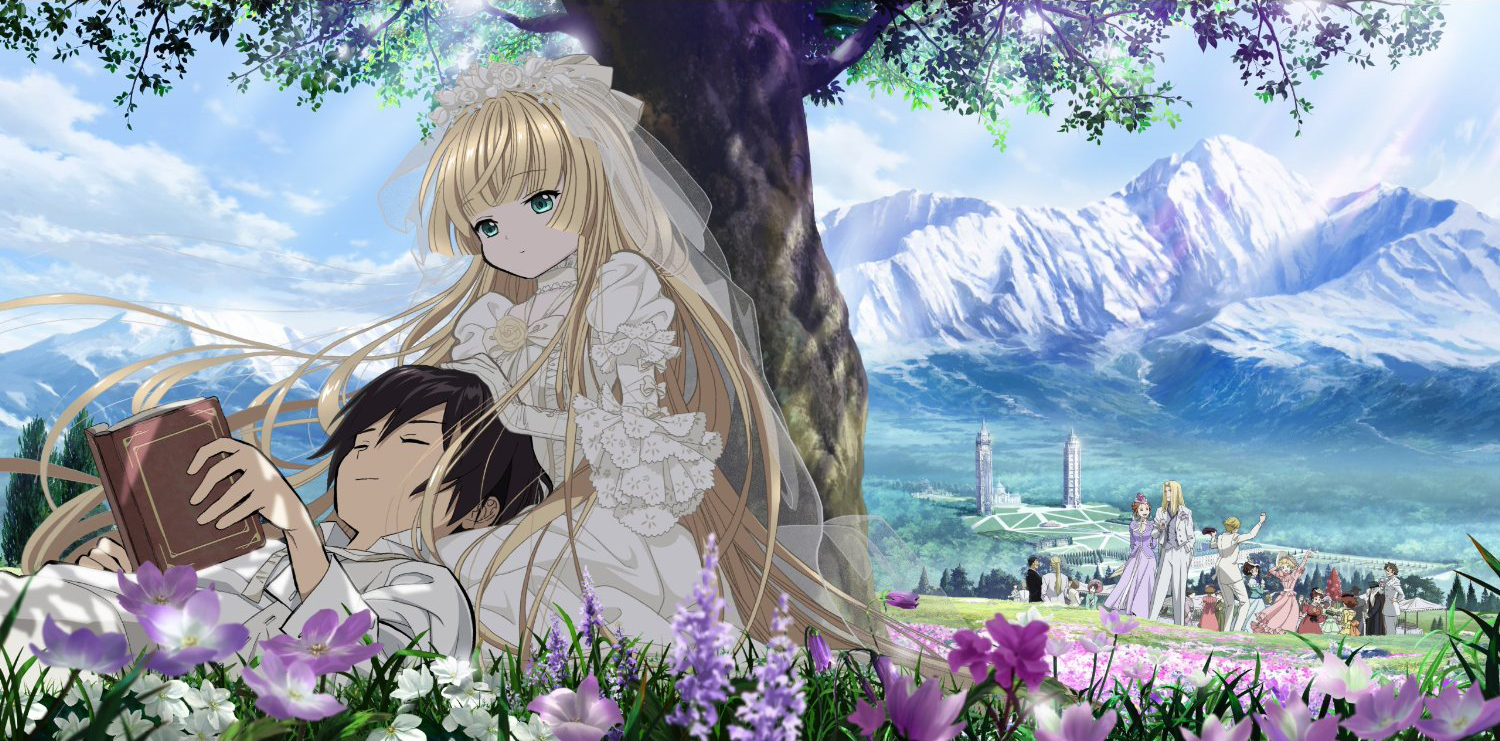Cantando um blues, livro de Isaac Soares de Souza, autor de Zé Ramalho: o poeta do terceiro milênio, poeta e letrista, se apresenta como um amigo pessoal de Raul Seixas, e isso terá muita influência nessa obra.
Cantando um blues, livro de Isaac Soares de Souza, autor de Zé Ramalho: o poeta do terceiro milênio, poeta e letrista, se apresenta como um amigo pessoal de Raul Seixas, e isso terá muita influência nessa obra.
O livro traz uma breve introdução ao ritmo negro do sul dos Estados Unidos, destacando suas origens – como a música dos escravos, com o objetivo de amenizar o sofrimento por sua condição, que tornou-se posteriormente algo como a voz dos oprimidos em busca da igualdade, voz essa melancólica e boêmia. Nas palavras do autor: “O Blues é tudo aquilo que a alma humana almeja: Liberdade, igualdade e fraternidade”.
O livro traça também um histórico do ritmo com essa introdução, colocando suas origens geográficas, as vertentes e os rumos que tomou ao se espalhar pela América e pelo mundo e, com isso, toda a influência na cultura musical que o Blues exerceu e exerce até hoje.
A partir daí, o livro traz uma série de mini-biografias, dividas em três categorias: “A origem”, “O blues e o Rock’n Roll” e “O Blues no Brasil”. É por meio dessas curtas passagens sobre a vida daqueles que são os personagens principais do Blues, as próprias pessoas, que o autor conduz a história do som do Delta do Mississipi, indo de Charley Patton, Koko Taylor, passando por Muddy Waters até Bob Dylan, Janis Joplin, Eric Clapton e muitos outros.
Esse modo de conduzir o livro é interessante, pois podermos conhecer nomes importantes para a música que nem sempre são conhecidos do grande público. O autor, inclusive, parece-me tentar mesclar um pouco disso, colocando nomes altamente expressivos ao lado de figuras menos conhecidas. Além disso, fazer um livro dessa forma já o torna interativo quase que automaticamente: assim que lemos sobre um determinado músico, instantaneamente vamos à internet conhecer pelo menos um pouco de sua obra, buscar mais informações, fazendo com a leitura fique ainda mais dinâmica e prazerosa.
Essa estrutura de pequenas biografias tem dois problemas que não tornam o resultado final ruim, mas que devem ser destacados. O primeiro deles, é que em alguns músicos, pouco é falado da obra em si, focando apenas em alguns aspectos da vida daquele personagem, deixando a obra em segundo plano. Não é o que se espera quando se lê algo sobre expressões artísticas em geral, mas é plenamente compreensível, por questões práticas e limitações de espaço, que sejam feitas algumas escolhas em detrimento de outras. O segundo problema é o questionamento das escolhas do autor. Isso porque ele não deixa claro, em nenhum momento, qual é o critério utilizado para colocar em sua obra determinado músico, talvez de menor expressão, e deixar de fora, por exemplo, um gigante do Blues como B.B. King, que é naturalmente citado diversas vezes no decorrer do livro, tal qual Muddy Waters – mas este segundo tendo o seu “verbete” exclusivo, enquanto B.B. King não. Outro questionamento desse tipo levo no cenário brasileiro, com a inclusão de Raul Seixas, mas deixando Celso Blues Boy de fora. Porém, esse assunto retomarei à frente.
Um outro ponto altamente positivo do livro é o grafismo e a diagramação de Cantando um blues. Diversos blueseiros contam com a sua caricatura nas páginas – desenhadas por Walter Tierno e Thiago Ivanildo Lima –, todas muito bem desenhadas, que dão um toque de humor e leveza à obra. Além disso, várias páginas contam com um plano de fundo com notas ou instrumentos musicais, feitos com bastante cuidado, o que dá um visual especial para o livro, mas sem comprometer a leitura. Outro ponto ainda ligado ao grafismo são as páginas “especiais”: páginas pretas com letras de músicas icônicas do Blues, ou poemas e letras do próprio autor. Some tudo isso à capa, e até mesmo aos marcadores de página, tudo de extremo bom gosto. Temos um dos livros com um trabalho visual mais belos que já tive em mãos.
Cantando um blues funciona como uma boa introdução a esse gênero musical importantíssimo não só para a música, mas para toda a cultura ocidental moderna. Porém, isso não quer dizer que está livre de problemas. Então vamos a eles.
O primeiro problema de Cantando um blues, é uma certa necessidade especulativa do autor. Explico. Quando falando de Bob Dylan, o autor faz comparações entre ele e Raul Seixas, dizendo que o primeiro só é superado pelo segundo. Ele coloca então que Dylan só é mais cultuado que Raul por ser americano, enquanto Raul é um brasileiro, baiano, portanto relegado à condição de sucesso apenas no Brasil. Em fazer comparações eu não vejo problema nenhum, é algo natural. O problema que eu percebo são as bases que você usa para fazer essa comparação. Nesse caso, a base não foi musical ou alguma análise crítica do trabalho artístico, mas uma percepção particular, ou suposição, do próprio Isaac, ligado muito mais a uma questão de fé, ou crença, ou até mesmo devoção pelo próprio amigo (Raul Seixas), do que a uma questão racional lógica.
Outro problema, infelizmente também ligado ao próprio Raul Seixas: por mais que o autor defenda que este era um fã do Blues, e sua música tenha um quê desse ritmo, sabemos também que esse genero têm influência em praticamente toda a música moderna, o que não faz com que toda música moderna seja Blues. Portanto, evocar em demasia um artista cuja obra definitivamente não se caracteriza pelo ritmo do Blues, agravando-se ainda o público alvo, desejando uma introdução ao que é esse ritmo, me parece uma tentativa de imputar algo que não condiz com a verdade.
Não me entendam mal, gosto muito de Raul Seixas, acho sua obra inestimável para a música nacional. Porém, não o considero um expoente do Blues, pelo simples motivo de que ele não o é. Também não acredito que o autor o faça de má fé. O que penso apenas é que ele deixa extravasar sua amizade com Raul Seixas para suas palavras, para o papel, prejudicando assim a própria qualidade do trabalho – que seria mais completo, e mais condizente com a realidade, incluindo outros nomes do Blues nacional, como o já previamente citado Celso Blues Boy (que começou sua carreira com o próprio Raul Seixas), ou Blues Etílicos, entre outros, estes sim verdadeiros expoentes do Blues brasileiro.
Um último problema que vejo em Cantando um Blues é o texto referente J. J. Jackson. O texto destoa, e muito, do restante do livro. O estilo passional e vibrante do autor dá lugar a um texto frio, distante, com aspectos publicitários até. Ao final vejo uma nota dizendo que realmente a autoria do trecho é de Esmeralda Nascimento e não de Isaac Soares de Souza. Fui à internet saber um pouco do tal J. J. Jackson, que, de acordo com o texto, seria um dos maiores estouros musicais do Brasil. Eu já tinha ouvido falar dele por sua regravação de Stand By Me, mas nada além de ouvir falar. E qual não foi a minha surpresa ao ver que o texto era uma reprodução idêntica da página do músico. Segue o link: http://www.jjjackson.com.br/historia.html. Eu não entendi os possíveis motivos de uma inclusão como essa. O fato de ser escrita por um terceiro não é o problema, o problema é que sai completamente do tom do autor e do livro, causa estranheza imediata, tanto que me motivou a buscar e encontrar a fonte original do texto. Ou teria o site do músico transcrito integralmente o trecho do livro? Não sei, mas é algo que gostaria de esclarecer.
Exceptuando esse problema com J. J. Jackson explicado no último parágrafo, eu diria que, apesar de alguns deslizes aqui e ali, ainda assim é uma leitura introdutória bem interessante para aqueles que gostam ou querem conhecer um pouco sobre esse ritmo de doze compassos marcantes e envolventes que é o Blues. Gênero esse que, segundo Clint Eastwood, juntamente com o Jazz, é o único estilo musical verdadeiramente americano. Cantando um blues conta ainda com um bônus primoroso que é o trabalho gráfico impecável. Somando ainda a escassez de obras sobre o tema na nossa língua, com certeza é um livro a se indicar.
Atualização: Minhas ressalvas anteriores sobre a indicação do livro, que se davam à inclusão de um texto do músico J.J. Jackson, em tom oposto ao restante da obra foram esclarecidas no segundo comentário da postagem, pelo próprio autor do livro. Peço então que ao final da leitura, seja lido também o comentário do próprio Isaac Soares de Souza, em que ele reconhece meu apontamento. Com isso, retiro minha ressalva anterior em que questionava a indicação do livro, e agradeço a transparência do próprio autor e editora, que se dispuseram a esclarecer o assunto.
 O selo Tordesilhas, da Editora Alaúde, tem sido interessante novidade no mercado editorial brasileiro. Tem resgatado grandes obras em belas edições, lançado nova traduções de clássicos e dado espaço para a literatura brasileira, tanto em relançamentos quanto novos escritores.
O selo Tordesilhas, da Editora Alaúde, tem sido interessante novidade no mercado editorial brasileiro. Tem resgatado grandes obras em belas edições, lançado nova traduções de clássicos e dado espaço para a literatura brasileira, tanto em relançamentos quanto novos escritores.