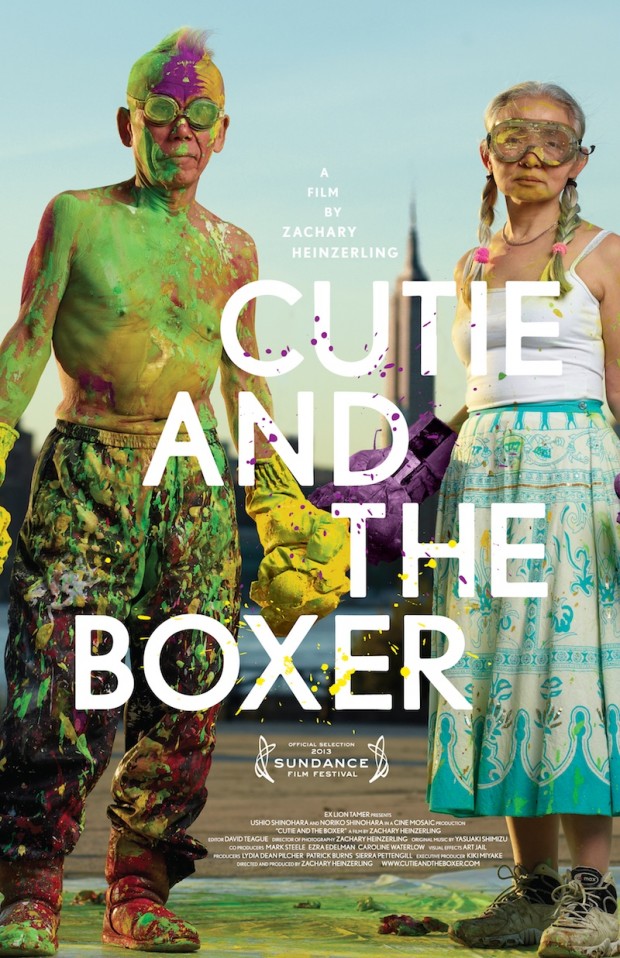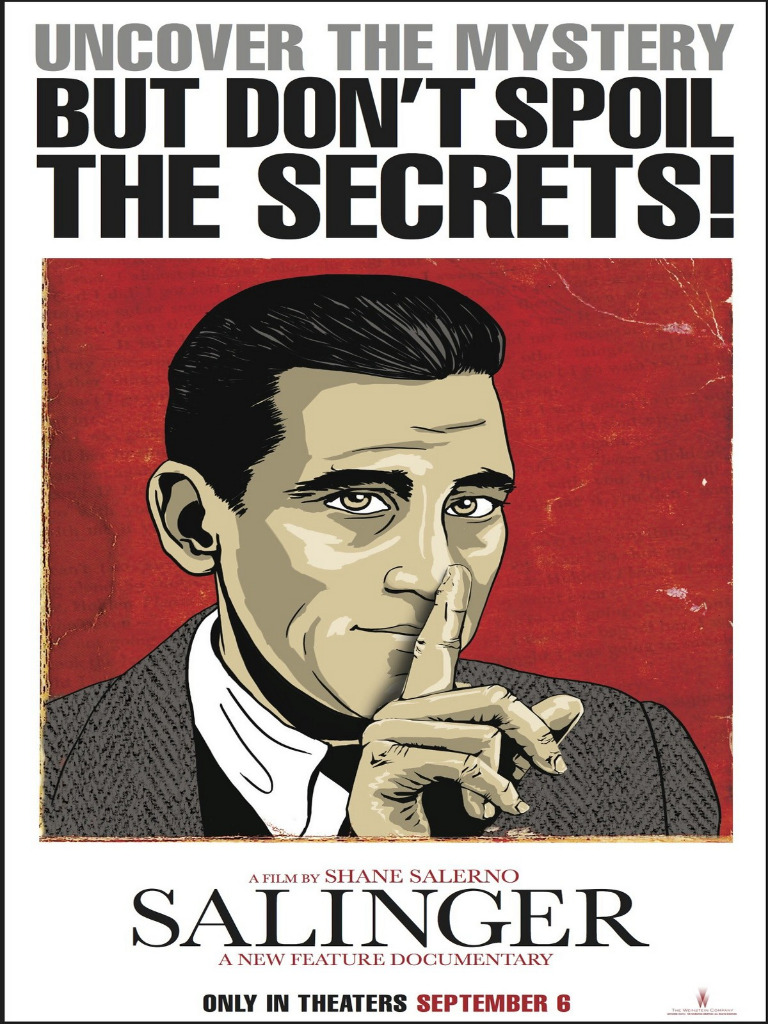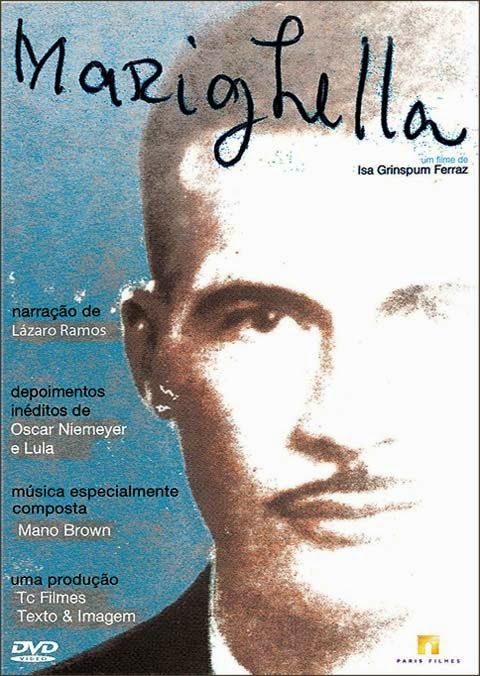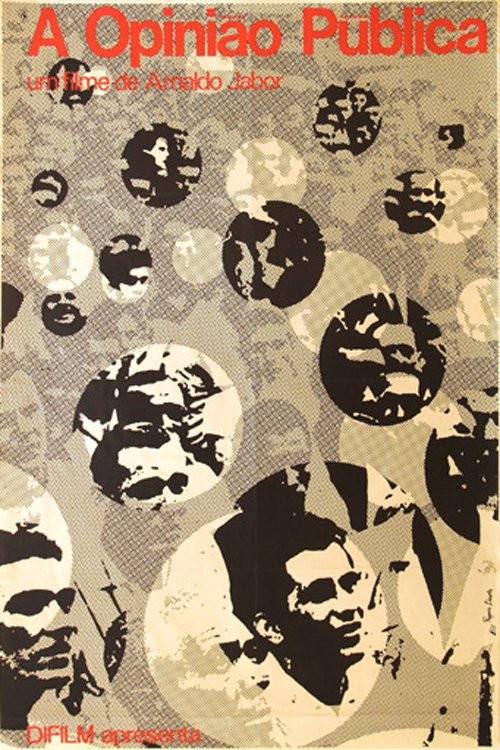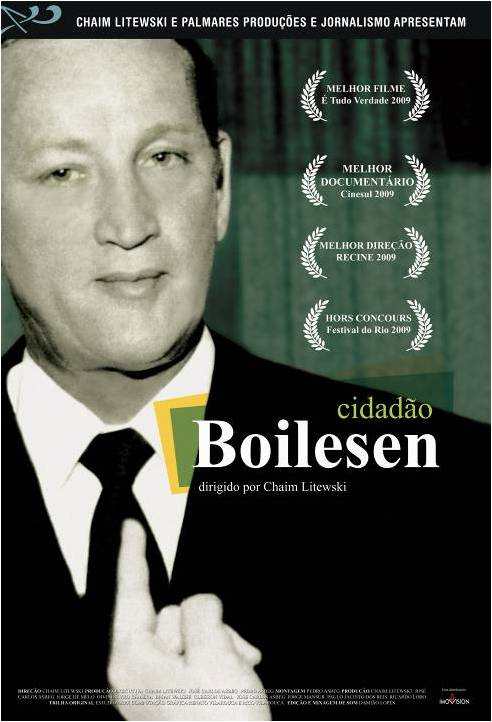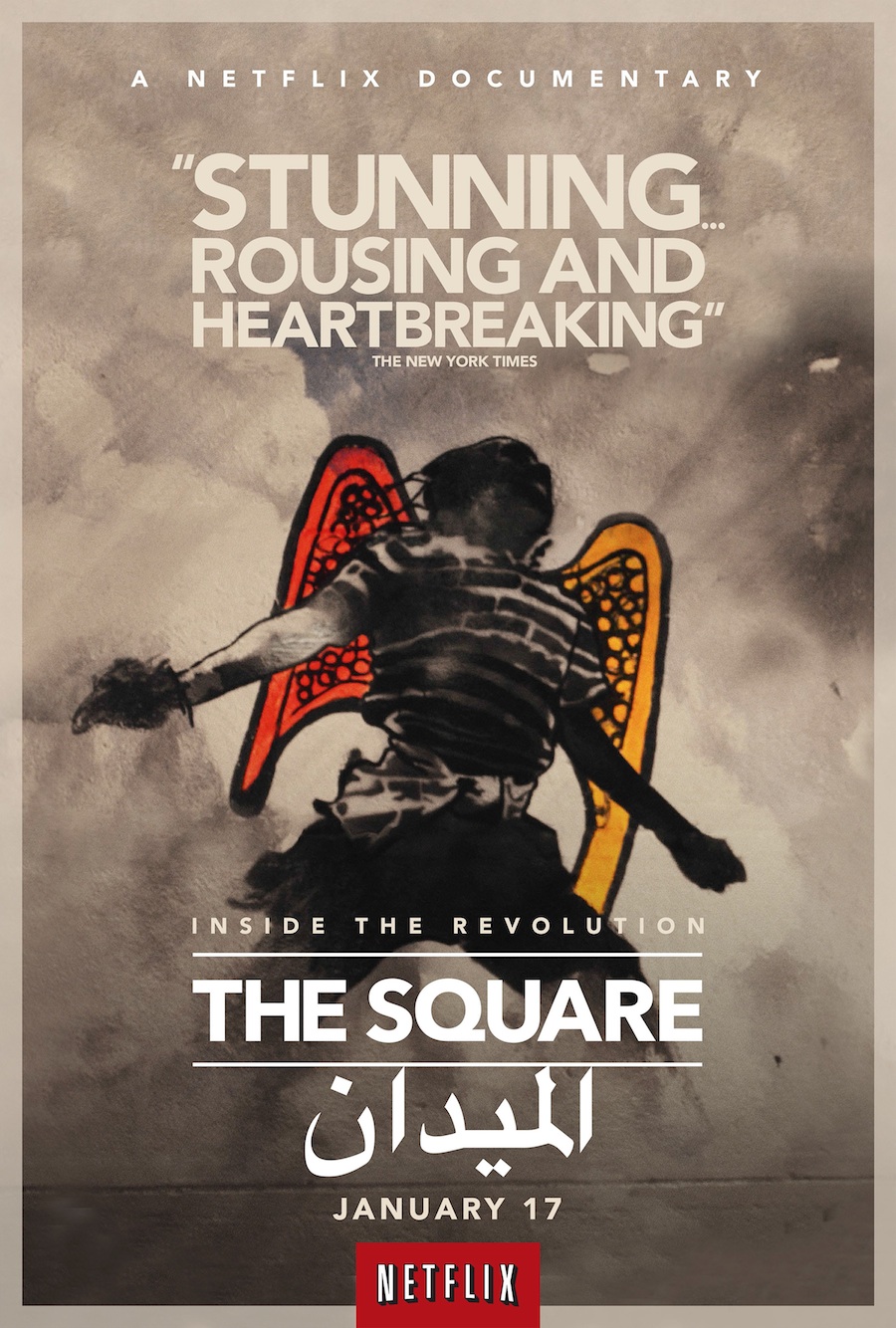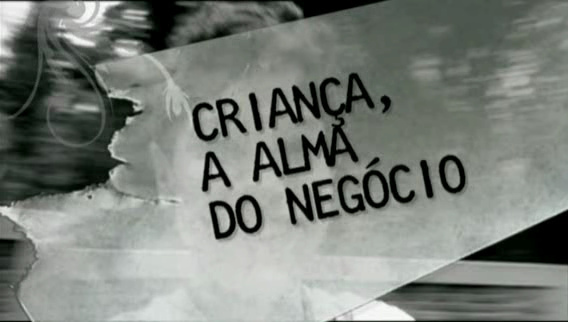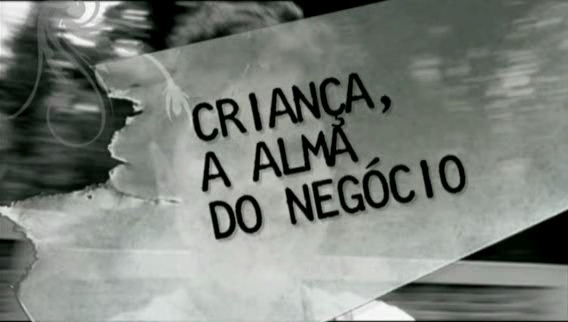O cinema é, de todas as artes, aquela que mais depende da tecnologia para ser produzida. Segundo Walter Benjamin, essa condição torna o cinema uma obra de arte única, fruto do avanço tecnológico e industrial do século XX. Ainda mais singular que a fotografia, o cinema irá gerar debates imensos e comparações sobre o “valor” de sua arte (pode ser um pintor comparado a um operador de câmera?). Portanto, o documentário Lado a Lado, dirigido por Christopher Kenneally e protagonizado por Keanu Reeves, atualiza um pouco o debate nesse sentido, ao confrontar várias personalidades da indústria cinematográfica (como George Lucas, Martin Scorsese, James Cameron, Lars von Trier, Andy e Lana Wachowski, David Fincher, Joel Schumacher, Robert Rodriguez, Steven Soderbergh, David Lynch etc) com a questão da substituição da película pelo filme digital.
Com uma proposta didática de ensinar ao espectador o básico da diferença entre os formatos, o documentário assume uma postura um pouco cansativa a quem não é muito interessado no aspecto técnico do cinema. Porém, ao público alvo, possui um formato muito interessante e de fácil compreensão. Dividido em várias partes com subtemas que vão e voltam (tanto na parte criativa, quanto técnica), e entrevistando um grande número de pessoas com frases curtas e cortes muito rápidos, às vezes um pouco da informação é perdida. Mas nada que afete a compreensão geral da obra.
O filme começa com um debate sobre a facilidade do processo de filmagem digital atualmente, onde tudo pode ser visto enquanto é filmado, enquanto no uso da película é necessário, após o término da filmagem, levá-la a um laboratório onde será revelada e o diretor só poderá ver o que foi filmado no outro dia. São colocados argumentos muito bons dos dois lados do debate, tanto no lado criativo quanto técnico.
Após essa breve explanação, somos levados a um histórico das câmeras digitais, desde o surgimento do primeiro chip de captação digital de imagem, criado pela Sony nos anos 60, até sua popularização nos anos 90 e seus primeiros usos como ferramenta na produção cinematográfica com o movimento Dogma 95, que depois influenciou outros cineastas, como o inglês Danny Boyle a usar o digital na filmagem do seu longa de zumbis Extermínio em 2003.
Porém, ainda nessa época a qualidade de resolução do digital era muito pequena em relação à película, e chegava no máximo ao HD (1280 x 720), enquanto a película em 35mm poderia chegar a 4096 x 3072. Mas tudo isso mudou com a chegada de novas câmeras no mercado no final dos anos 2000, onde a resolução começou a dar saltos exponenciais e o argumento a favor da película começou a ficar mais fraco.
Outra vantagem citada do digital era não precisar mais das pausas para trocar os rolos de filmes nas câmeras, que duravam aproximadamente 10 minutos, e eram muito caros. Então havia uma pressão para o ator enquanto ouvisse o barulho do filme rodando, enquanto no digital não há pausa e nem cortes. Depois tudo é editado digitalmente (o processo de edição também é brevemente citado). Após a filmagem, o filme ainda tinha de ser entregue ao laboratório, revelado, preparado, encaixotado e transportado para depois ser visto, e dependendo da quantidade de vezes que era exibido, poderia se deteriorar. Já no digital, nada disso acontece, e a equipe tem todo o fruto do trabalho nas mãos imediatamente.
Portanto, o filme se foca muito na questão do custo de produção, que cai absurdamente com o digital, o que tem feito muitos estúdios optarem principalmente por este formato. Tudo isso também graças ao pioneirismo de George Lucas que, vendo o potencial do digital, forçou seu uso ao experimentar esse tipo de projeção com seu Episódio I em 1999 e ao filmar, pela primeira vez na história, um longa 100% em digital, com o Episódio II. Porém, Christopher Nolan assume a defesa incondicional da película pela sua qualidade em captar as nuances de cores e as profundidades (já que utilizou esse formato para filmar a trilogia nova do Batman), mas sem menosprezar o digital, que já dá sinais de ser um verdadeiro tsunami tecnológico dentro da indústria.
Outro ponto interessante debatido em relação ao digital é a massificação não só da produção, como também do consumo, e como o digital afeta essa relação, pois gerações mais novas estão habituadas a assistirem filmes em celulares e laptops em suas casas, e não mais somente no cinema, o que pode ser considerado vantagem por alguns e desvantagem para outros, em um tópico bem interessante, que se relaciona também com a quantidade crescente de obras sendo produzidas. É melhor mais com menos qualidade ou menos com mais qualidade? Um afeta diretamente o outro? São proporcionais? Inversamente proporcionais? Hoje em dia praticamente qualquer pessoa pode fazer um filme em casa com um orçamento baixíssimo devido ao digital. Mas isso significa algo em termos de qualidade? É o debate proposto, cabendo ao espectador a resposta.
No final, há a especulação de a película se tornar obsoleta ou morrer de vez enquanto formato (já que nenhuma fábrica de câmera está produzindo mais modelos novos para película). Mas, um dos dados mais interessantes apresentados pelo documentário é em relação justamente a preservação. A indústria do digital muda muito, e a cada década novos meios de reprodução e mídias de armazenamento são inventados, inutilizando seu predecessor, enquanto a película se mantém viva, sendo ao mesmo tempo a mídia de reprodução e de armazenamento com grande qualidade. Esse fato gera uma situação irônica, pois os grandes defensores do formato digital dizem ter várias cópias de filmes em mídias digitais, mas que não conseguem reproduzi-las simplesmente por não existirem mais os aparelhos que o façam.
Sem tomar um lado ou propor uma solução, o documentário termina mostrando que, apesar da briga, o digital veio para ficar e é somente uma ferramenta a mais, que depende muito da forma como é usada. Portanto, é um filme indispensável a qualquer um que se interesse por cinema de forma mais profunda.
–
Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.