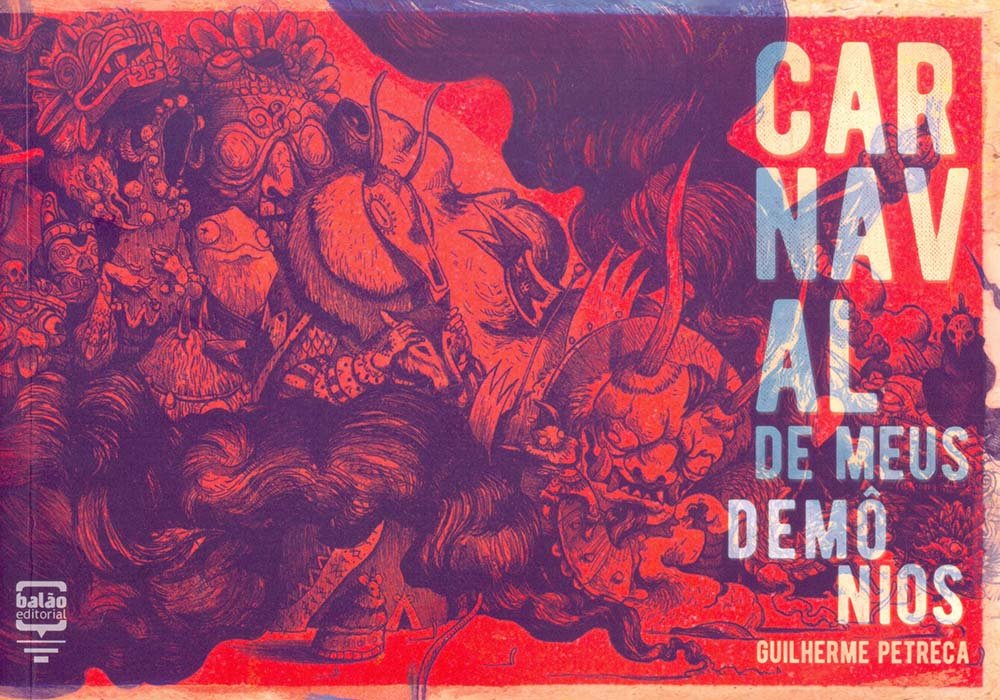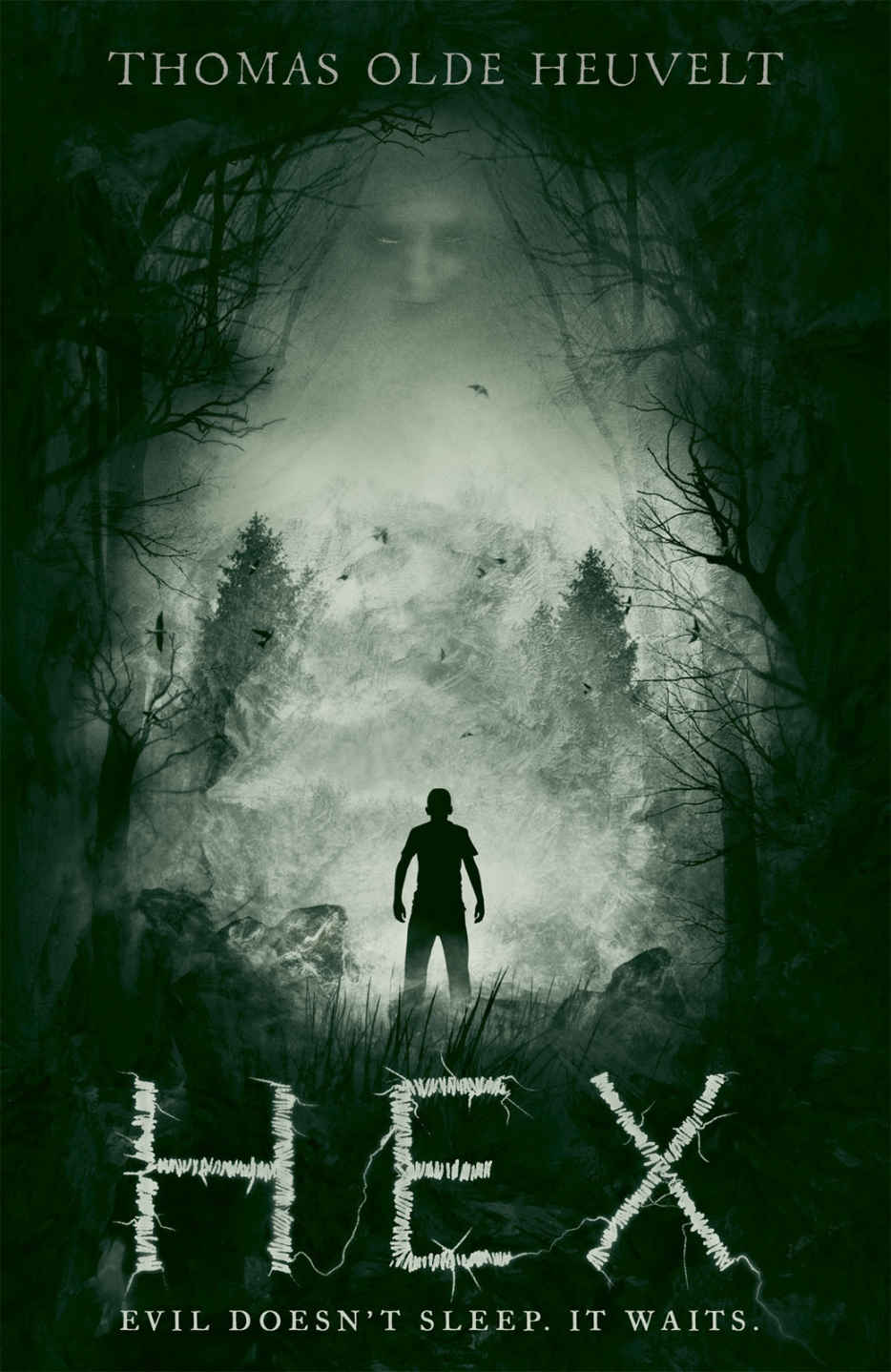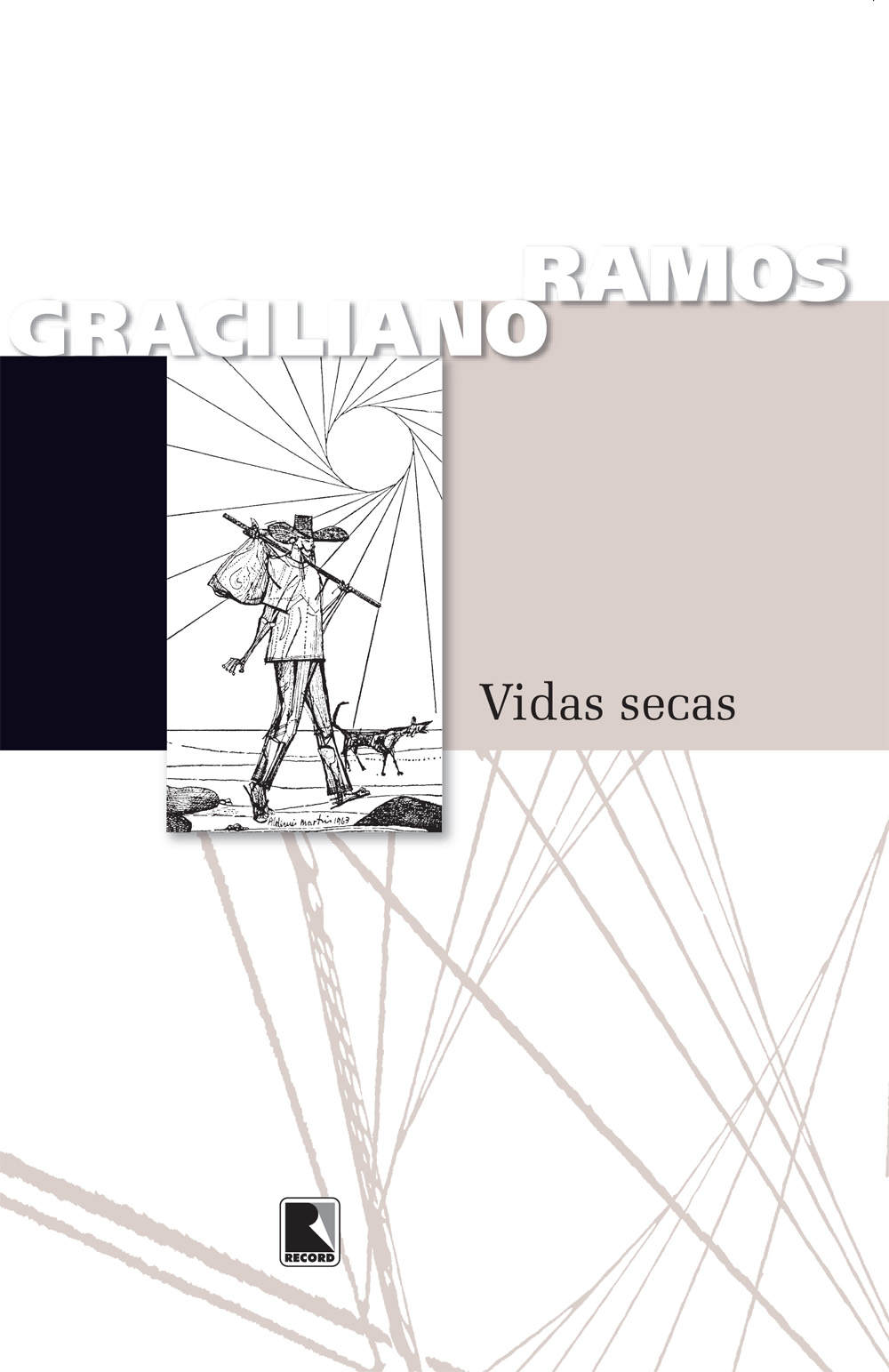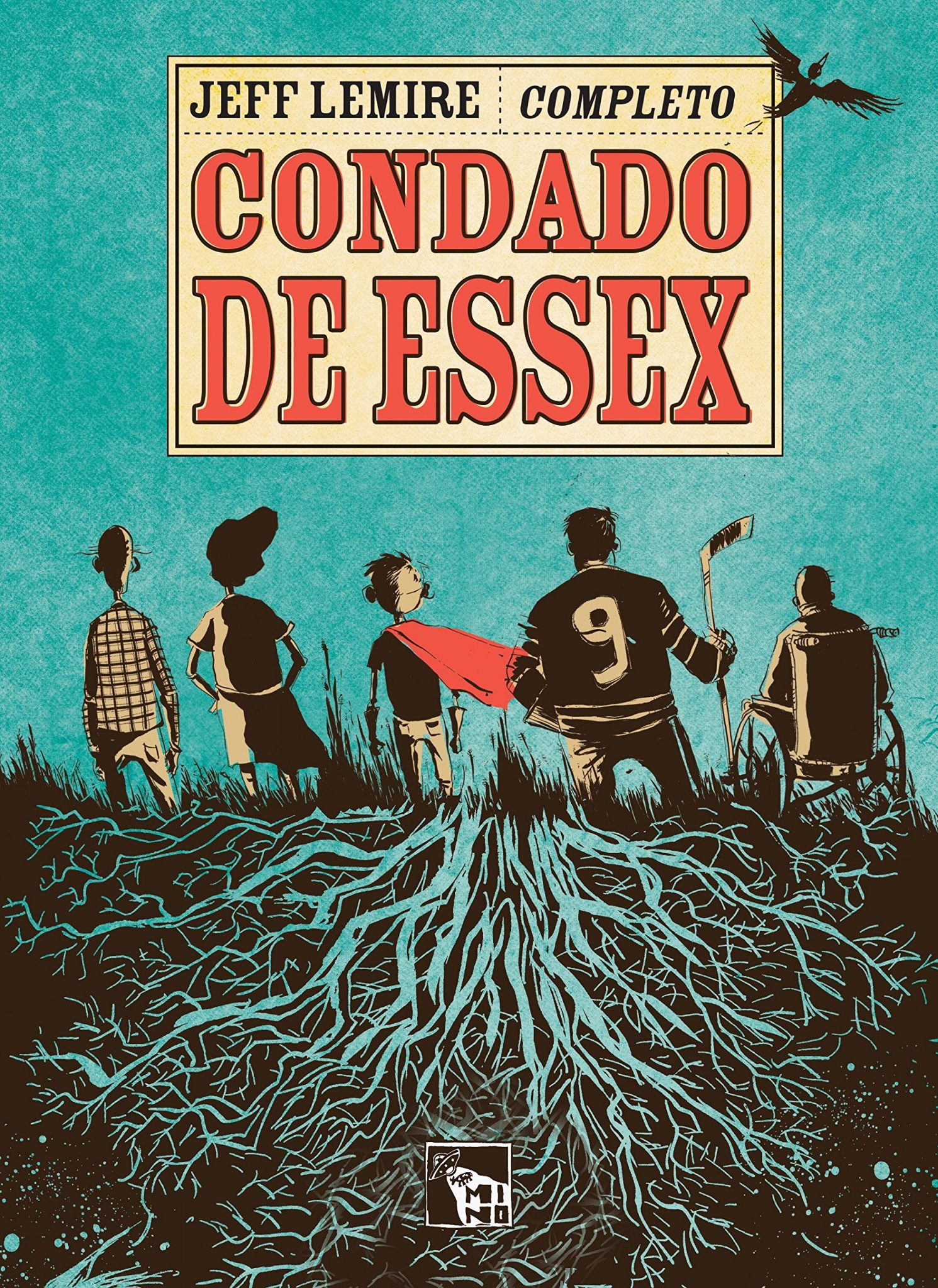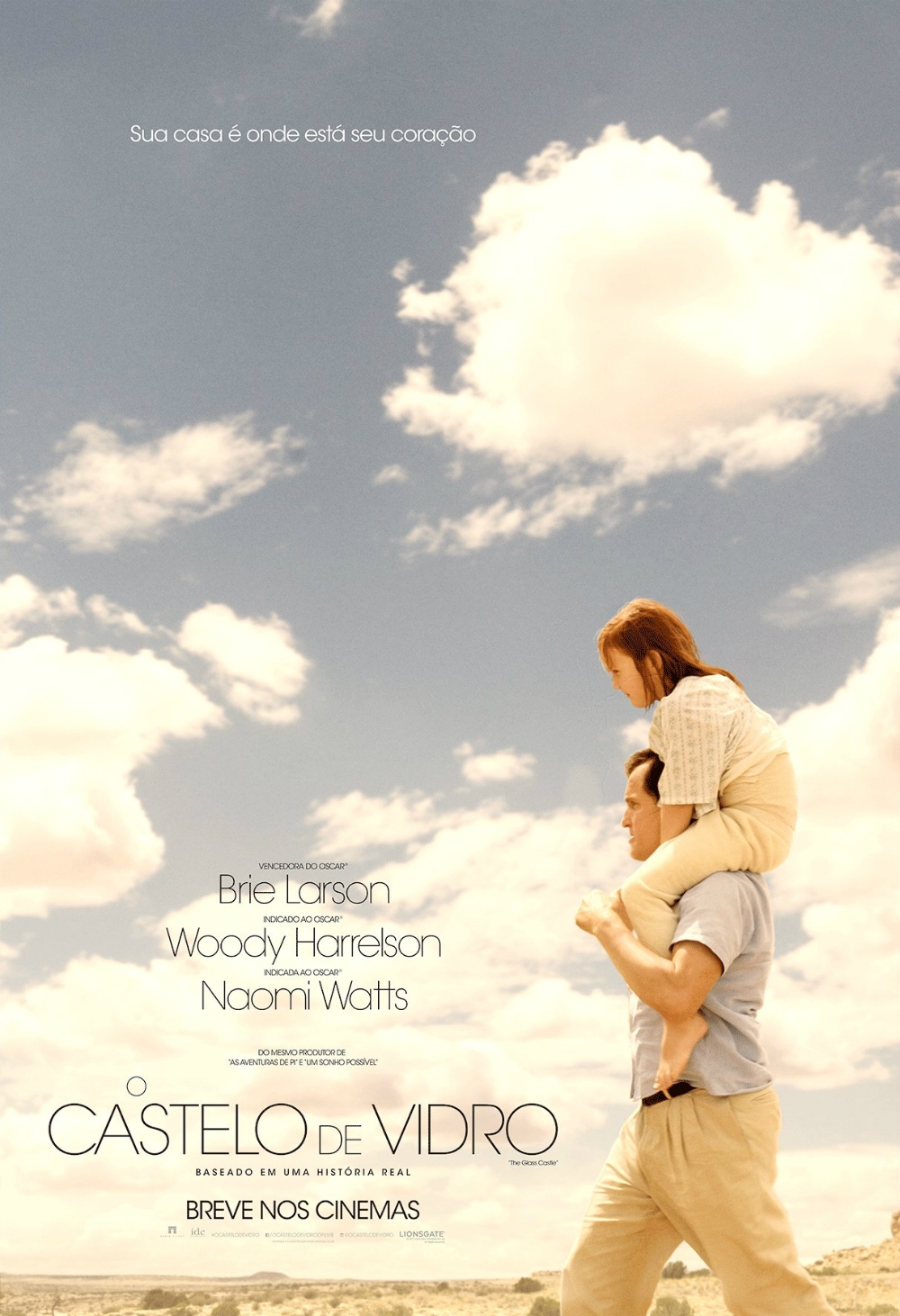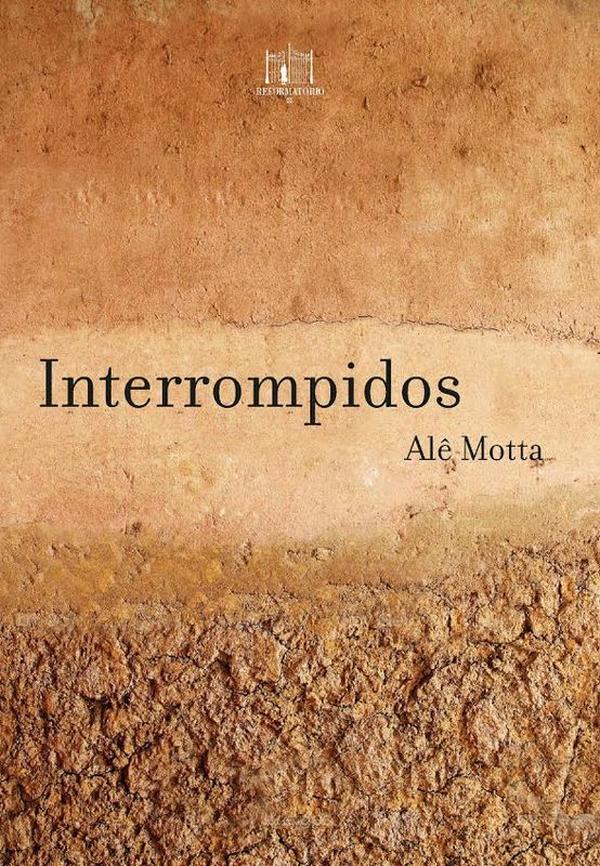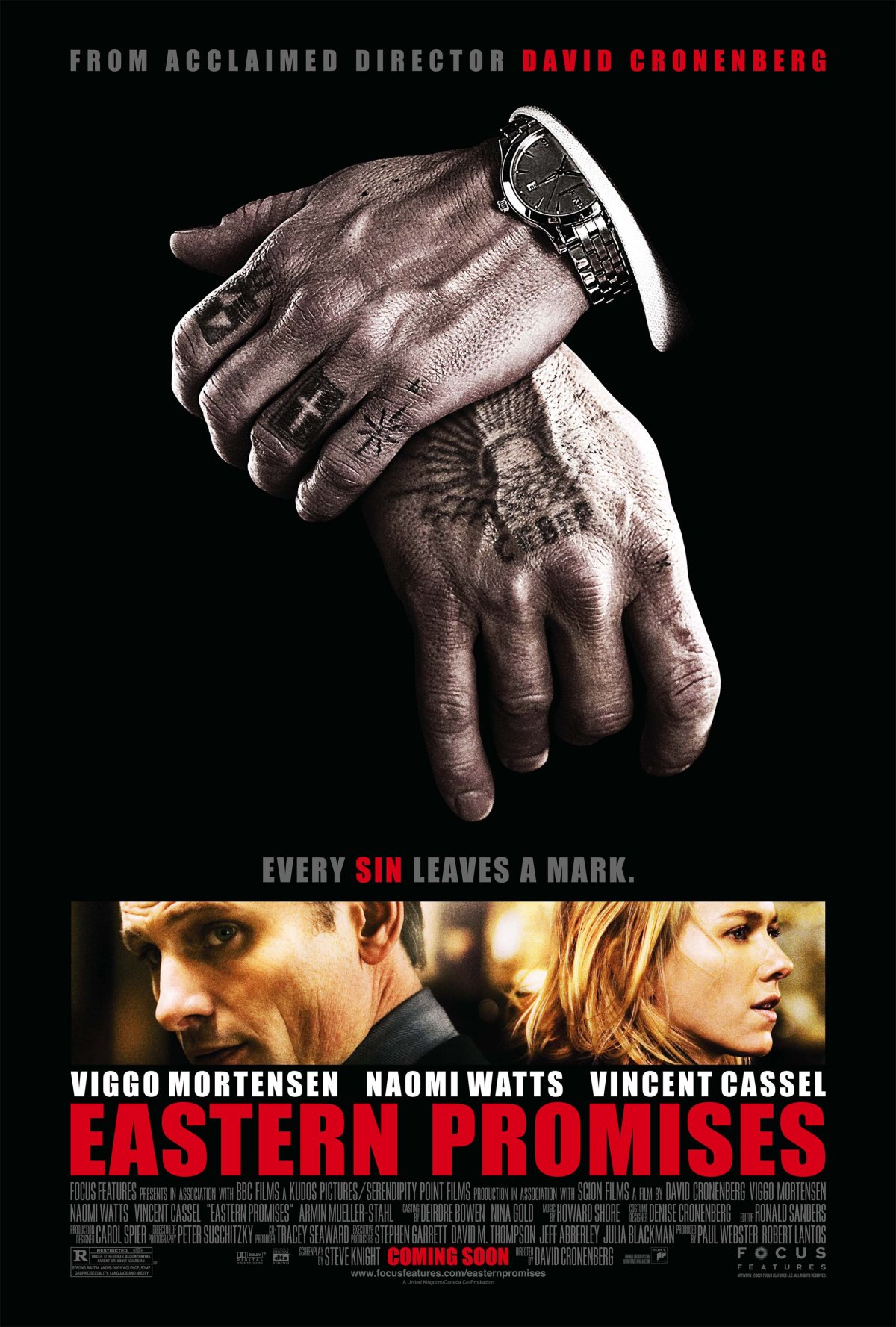Greta Gerwig já tem história, a diretora tem no currículo diversos dramas independentes pelo movimento nova-iorquino Mumblecore e pela primeira vez decidiu assumir sozinha um longa por atrás das câmeras. Ela escreve e dirige Lady Bird: A Hora de Voar, um dos filmes mais premiados da temporada e que está concorrendo a 5 Oscar, incluindo Roteiro Original, que é de longe o maior triunfo do longa, pois Gerwig pode ou não ter feito algo autobiográfico, mas no fim das contas ela conta a história de todo mundo.
Christine (Saoirse Ronan) não acredita em nomes dados pelos pais e mudou seu nome para Lady Bird, ela está no último ano do colégio e quer estudar numa faculdade de artes, mantém uma relação explosiva com a mãe (Laurie Metcalf) e coleciona novos amores e amizades. Sem um plot principal, Lady Bird acompanha os últimos dias da vida de colegial desta garota que passa ou pensa passar por todos os problemas do mundo, e entrelaçando todos os acontecimentos de pura dramédia tem-se diálogos belamente escritos, de realismo certeiro.
As situações que a personagem de Ronan se mete nos faz lembrar que talvez a diretora tenha passado por tudo isso, talvez seja um sincero retrato sobre todas suas nuances naquela época, mas chega um ponto da experiência em que a ficha cai e percebe-se que o que está vendo também fala de você e de metade das pessoas que conhece. Ela escreve de si e de todas as pessoas que um dia olharam demais para si mesmas e esqueceram de olhar o próximo, todos que já falaram eu te amo para quem só se gostava, para quem já foi jovem.
E enquanto a cineasta constrói a personalidade errante, ás vezes chata e bastante inteligente da sua personagem principal, ela não esquece de seus coadjuvantes, todos eles ganham um espaço especial na narrativa, eles têm seus problemas invisíveis e suas influências, mas a mãe de Lady Bird interpretada por Metcalf é mais do que digna de sua indicação ao Oscar, a atriz carrega um olhar triste e sempre que fala soa como mãe, soa forte e carrega na voz todos os problemas que vemos sua personagem passar.
A relação mãe e filha é um grande tema do filme, mas ele também caminha por primeiros amores, sexo, depressão, amizade, tudo de maneira simples e ao mesmo tempo afiada, se em alguns momentos a personagem de Ronan possa parecer uma adolescente imatura, Greta dá indícios que ela não é só isso, mostra que algumas atitudes permanecem nobres mesmo que a forma que foram feitas sejam impulsivas ou ignorantes. Faz de suas personagens tridimensionais, e com isso ela consegue verdade, ainda mais com atuações tão boas, desde todo o elenco jovem até Ronan e Metcalf, bem lembradas pela Academia.
O longa é um drama, mas também tem um ótimo timing cômico, tem situações comuns, mas acerta em fazê-las relacionáveis e bem escritas, tem uma bela fotografia, personagens cativantes e críveis, e uma relação de mãe e filha especialmente retratada, principalmente em seu terceiro ato. Carrega também uma sensibilidade essencial, pois em tempos que Gerwig é apenas a quinta mulher indicada a Melhor Direção no Oscar, ter um coming of age sobre uma garota e encabeçado por uma mulher de maneira tão apaixonada e abrangente é fundamental. Lady Bird: A Hora de Voar é uma delícia e nos faz lembrar o que é ser filho, amigo e sonhador, sem esquecer de nos mostrar quem nos faz assim.
–
Texto de autoria de Felipe Freitas.