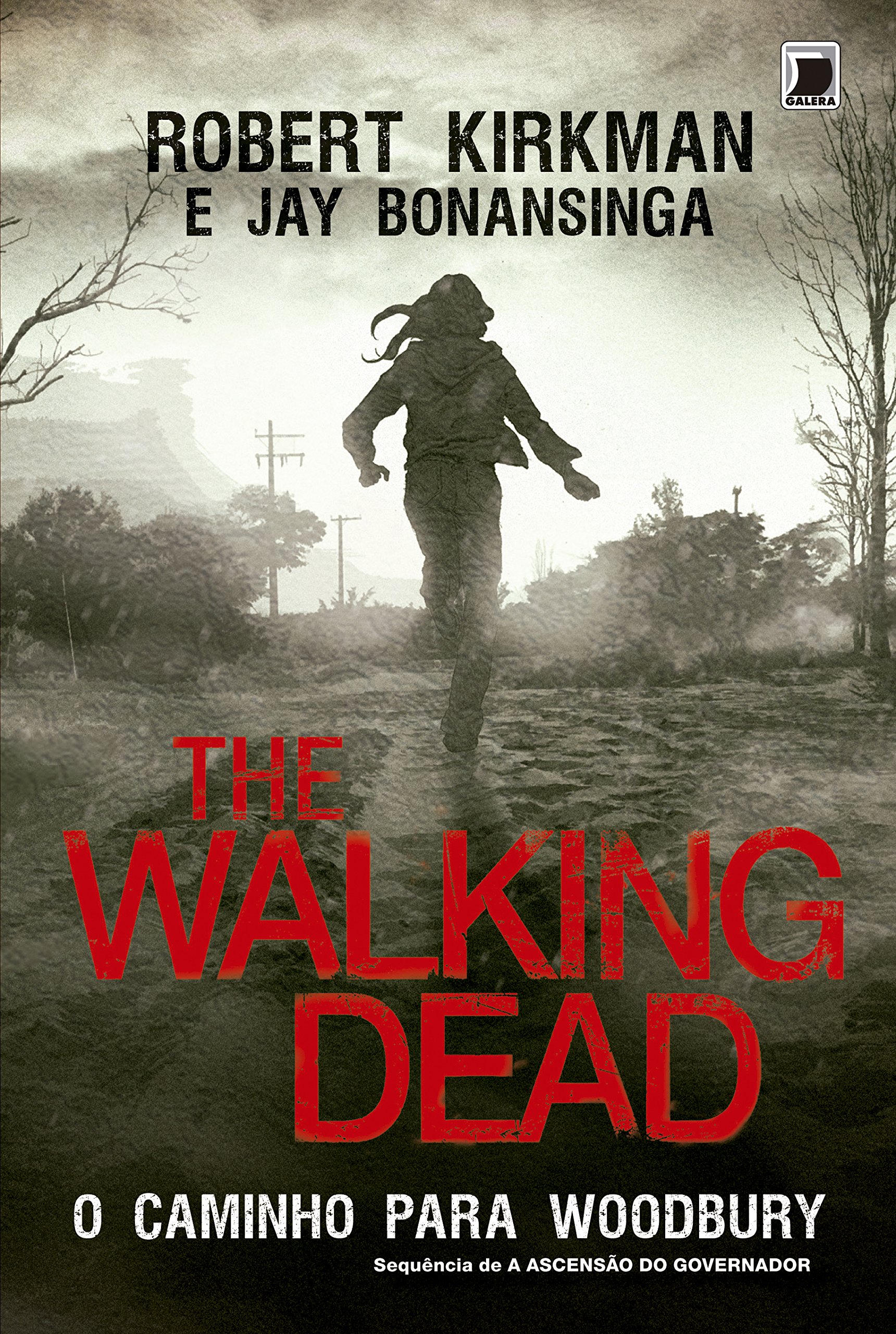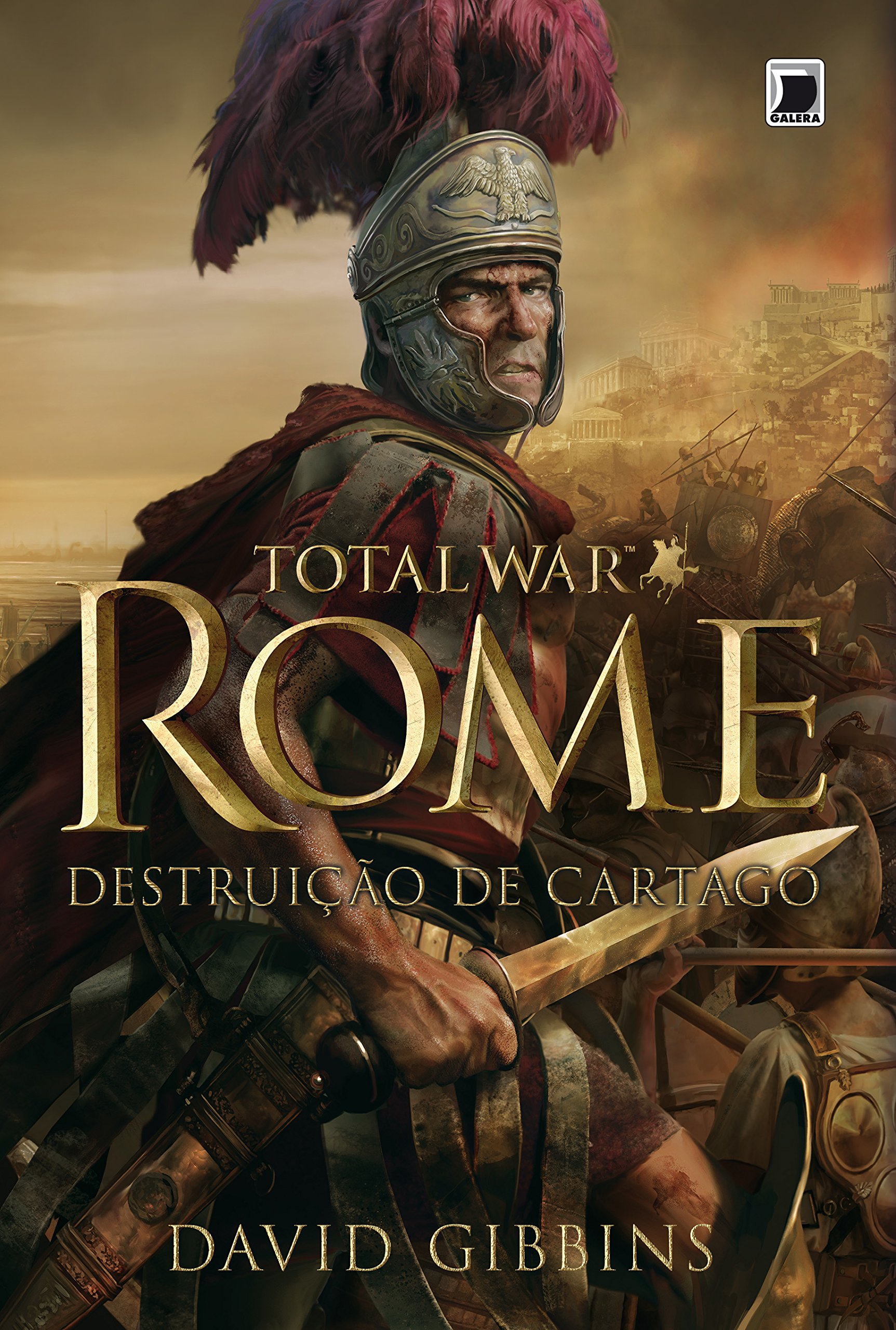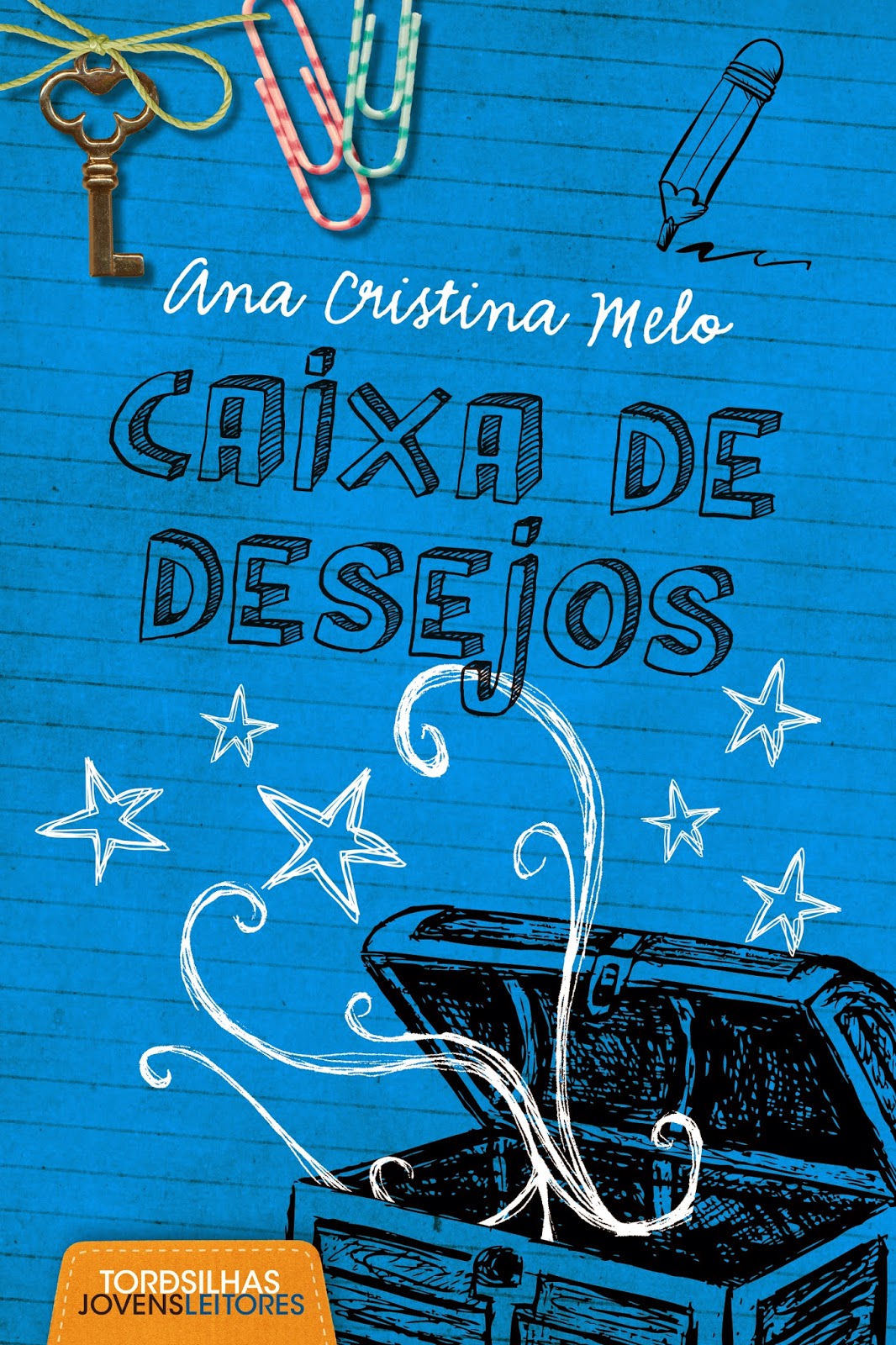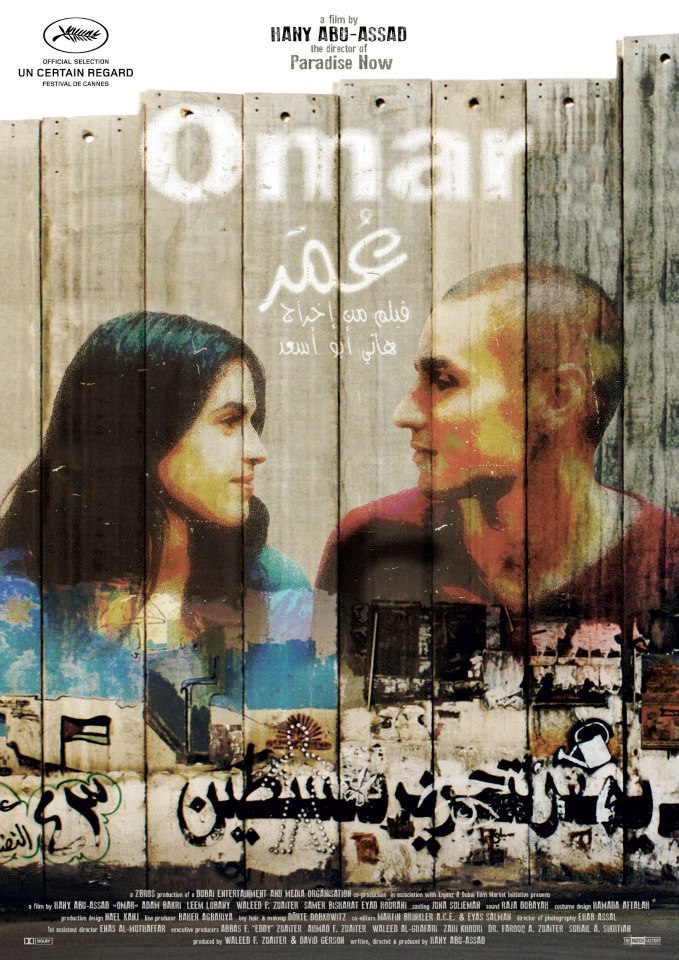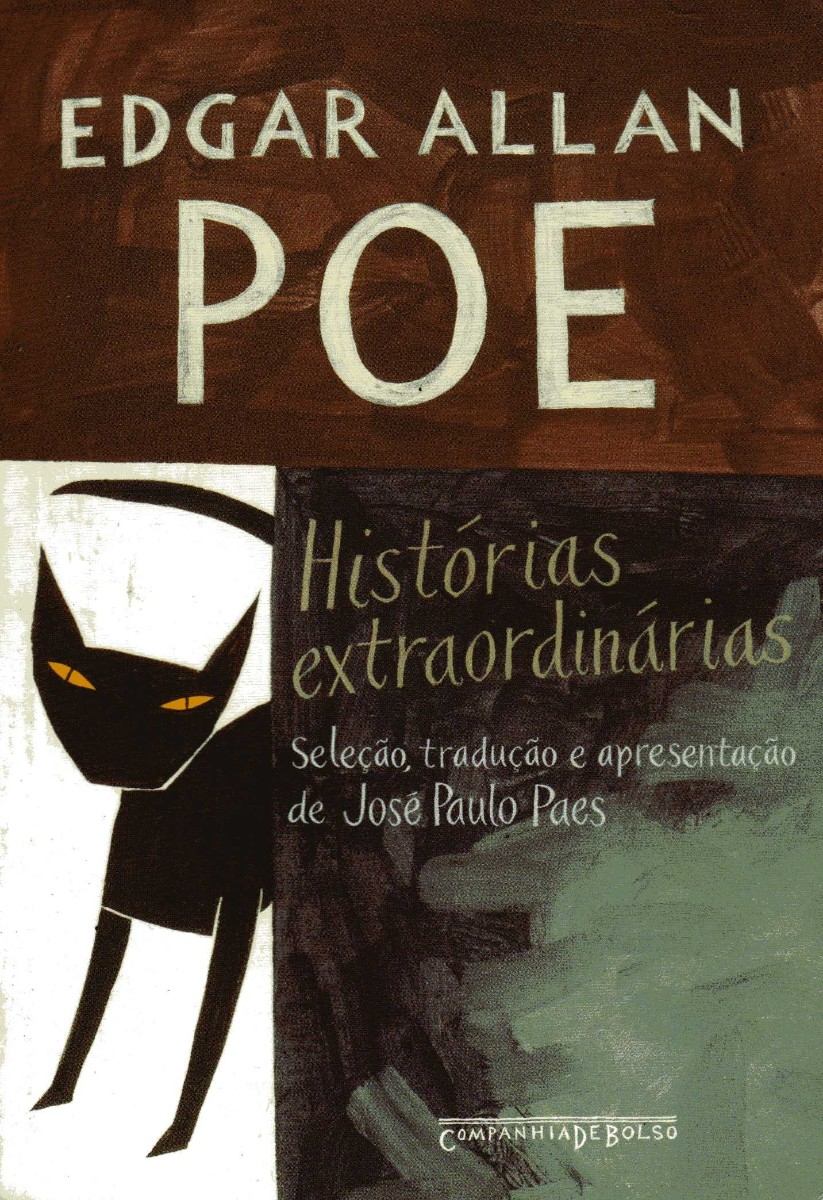Na atual era dos remakes e reboots, o receio de tantas produções serem lançadas apenas como caça-niqueis acaba afastando uma parte do público das salas de cinema. Porém, o grande público parece não se importar muito com isso e acaba consumindo vorazmente essas produções, o que incentiva os estúdios a investirem nesse caminho. Em sua grande maioria, essas produções são feitas a toque de caixa, sem muita preocupação estética ou com roteiro e personagens, gerando cópias e mais cópias cada vez mais genéricas e descaracterizadas.
“Anjos da Lei 2” vem dentro deste contexto. É uma sequência de uma adaptação de uma série de TV dos anos 80, onde jovens policiais se infiltravam na escola como estudantes para investigar o tráfico de drogas. Dando sequência ao bom filme de estreia em 2011, os diretores Phil Lord e Chris Miller mantêm na segunda parte toda a fórmula que se consagrou na primeira: a relação atrapalhada, mas sempre amorosa, entre os amigos Schmidt (Jonah Hill) e Jenko (Channing Tatum), os conflitos com o chefe, Cap. Dickinson (Ice Cube), a dificuldade de Schmidt ao se relacionar com pessoas enquanto Jenko tira isso de letra, e por aí vai.
O filme conta a história de Schmidt e Jenko sendo novamente direcionados à unidade de infiltrados para investigar a distribuição de uma nova droga antes que ela se espalhe pelo país, mas dessa vez na universidade, já que se provaram incapazes de fazer o trabalho policial convencional. Após várias tentativas frustradas de identificar a origem da nova droga e de brigarem entre si por conta das novas amizades que aparecem em suas vidas, Schmidt e Jenko precisam deixar de lado todas as suas diferenças para solucionar esse caso.
Se a proposta do filme soa genérica e um tanto quanto inverossímil, o grande mérito de “Anjos da Lei 2” vem justamente de não se levar a sério. Ao saber que se trata de uma comédia com sátiras de vários filmes e seriados do gênero (além do próprio fato de ser uma continuação), as piadas auto-referenciais não são economizadas, especialmente nos créditos finais. As situações embaraçosas em que os protagonistas se metem durante a investigação também são muito mais exageradas do que no filme anterior, o que arranca gargalhadas do público devido, principalmente, a química entre a dupla de atores.
Tatum não é dos melhores atores, mas ao encarnar justamente um jovem forte fisicamente, com habilidades sociais, mas não muito inteligente (características inclusive reforçadas na continuação), e com a ajuda de Hill, consegue criar um personagem carismático, interessante e engraçado. Quem também cresce no filme é o capitão Dickinson, que ganha mais espaço ao aparecer como o pai de uma aluna da mesma universidade onde os protagonistas estão infiltrados, mas que acaba dormindo com Schmidt, para aumentar ainda mais a tensão entre eles.
Dentro disso tudo, o desfecho da história principal é o menos importante, e todos os outros personagens inseridos, como os traficantes, servem apenas de trampolim para as crescentes situações absurdas surgidas entre Schmidt e Jenko. Podemos destacar também como é positivo o fato de um filme, teoricamente de comédia, em momento algum desliza para o humor baixo, recurso tão fácil e sempre muito usado. Em momento algum as mulheres, gays ou qualquer outro grupo minoritário é tratado com desdém, muito pelo contrário. Schmidt fica uma noite com uma mulher, que logo o manda embora. Jenko começa a ter aulas sobre sexualidade e logo se posiciona a respeito dos gays, corrigindo termos ofensivos como “faggot” com um discurso politicamente correto, mas sem parecer caricato ao ponto de desvalorizar o próprio discurso.
Anjos da Lei 2, então, repete as mesmas fórmulas consagradas do primeiro filme, mas sem se repetir como uma cópia descarada. Há evoluções na história que são interessantes de acompanhar, além das piadas e situações engraçadas que acontecem durante o longa. Quem gostou do primeiro, certamente irá se divertir também com este.
–
Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.